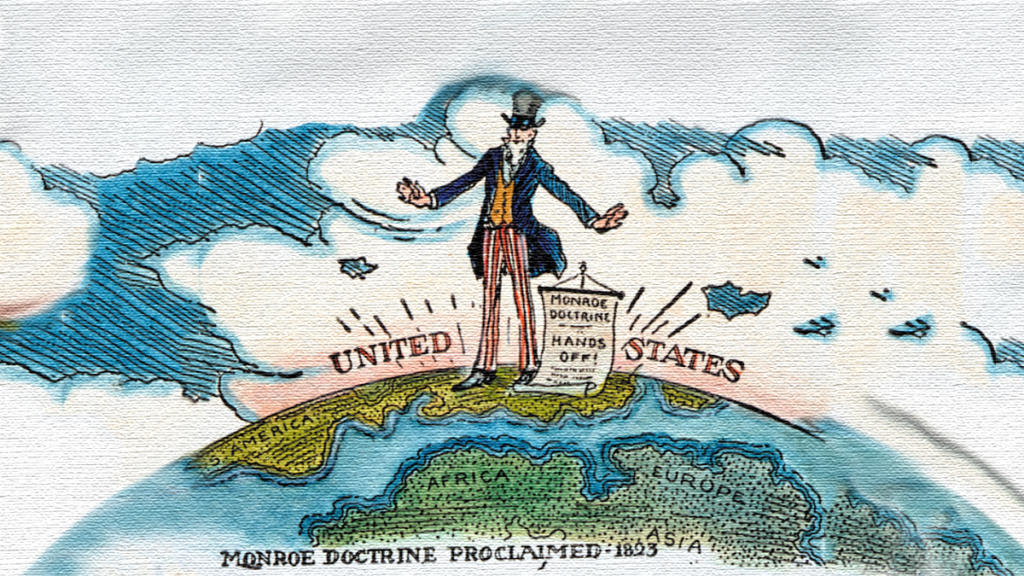11/9 impulsionou o avanço do neoliberalismo também nos EUA
Na época, a eleição do então presidente George Bush era contestada por grandes jornais, que fizeram, inclusive uma apuração paralela, comprovando que Bush não vencera em Miami. Mas a tragédia encerrou a polêmica e abriu caminho para a invasão do Afeganistão.
"O chamado modelo chileno serviu de referência para várias experiências políticas no continente. Foi a primeira realização governamental das políticas neoliberais, dirigidas pelos próprios economistas de Chicago. E, depois de oito anos de fracasso (entre 1973 e 1981), que elevou o desemprego a 30% e a uma crise financeira tão brutal que os próprios neoliberais foram obrigados a nacionalizar o sistema financeiro, conseguiram algum crescimento aprofundado com a queda de Pinochett e a instalação do governo da Concertação", comenta o cientista social Theotonio dos Santos, integrante do Conselho Editorial do MM e professor emérito da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Agora, enquanto os EUA anunciam um pacote de quase US$ 500 bilhões para tentarem tirar o país da estagnação sem, no entanto, colocar freio à ganância dos bancos, estudantes e o governo chileno completam quatro meses de impasse nas negociações em torno da reforma educacional em curso no país, que tem escolas públicas de péssima qualidade, devido ao privilégio dado ao ensino privado.
Torres gêmeas
Já o ataque a Nova York, que, neste domingo, completa uma década, não derrubou o que analistas chamam de "as torres gêmeas do neoliberalismo (a globalização e a financeirização), nem mesmo com o agravamento da crise, em 2008.
"A verdadeira saída da crise ainda não se configurou. O modelo precisa de reformas institucionais, pois o mundo continua precisando disciplinar as finanças e organizar a internacionalização", analisa o economista Miguel Bruno, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
De acordo com Bruno, a globalização contribuiu para generalizar a financeirização, institucionalizando um ambiente para reprodução do capital na esfera financeira.
"A aplicação financeira é um grande negócio para quem tem capital, pois pode duplicá-lo sem ter de abrir nenhum negócio produtivo, sem risco, custos trabalhistas. A Europa caiu nessa armadilha", diz, ponderando, no entanto, que o euro teve o mérito de unir economicamente a região.
"Mas a institucionalidade é extremamente permissiva às pressões especulativas. Se criassem uma filtragem para a especulação, os europeus estariam em situação muito melhor do que hoje. Num ambiente de finanças liberalizadas, os governos nacionais, inclusive os desenvolvidos, são premidos a se tornarem fiadores desse processo. Daí vem o endividamento público, não por causa do gasto, mas pelo fato de a dívida pública se tornar o lastro da liberalização", acrescenta Bruno.
China
Nesse contexto, países como Índia e China, que não aderiram à onda liberalizante e mantêm o Estado à frente do planejamento nacional, apresentaram crescimento muito superior ao dos países desenvolvidos e emergentes da América do Sul, que, endividados, se viram obrigados a cumprir o receituário das instituições multilaterais.
Somente no período 2007/2011, o PIB da China cresceu 44,5%, enquanto que o dos EUA e o da Zona do Euro avançaram 0,8% e 0,4%, respectivamente.
Hoje, mais da metade de suas exportações é destinada aos países emergentes, deixando para trás o mundo desenvolvido, seu principal mercado nos últimos 30 anos.
A razão para essa mudança na inserção internacional da China é que o comércio Ásia/América do Sul cresce quatro vezes acima da média global – o vínculo bilateral China/Brasil aumentou 54% em 2010.
"Os países que mais crescem têm juros baixos e câmbio competitivo. Não se permitem esse tipo de liberalização financeira, armadilha que aprisionou o euro", resume Bruno, acrescentando que até os EUA se vêem presos ao receituário conservador, que preconiza o corte de gastos não financeiros.
"A visão convencional (republicana, que hoje detém a maioria do Congresso) não tem teoria das crise. Cortar gasto é uma atitude defensiva, mas, por outro lado, deprime a demanda e a arrecadação futura. Não há garantia nenhuma de sustentação da demanda. Nos anos 30 isso ocorreu: cortou-se salários e gastos e a crise explodiu", relembra.
Indústria da guerra
Sem força para enfrentar os financistas, os governos dos países ricos têm recorrido a um velho expediente: o uso da guerra para enfrentar crises. "A oligarquia financeira não está preocupada com a retomada da produção e já não consegue manter o dólar como principal reserva de valor. Tanto que o ouro já está em US$ 1.870 a onça", observa o economista Adriano Benayon, da Universidade de Brasília.
Segundo Benayon, ao lado das operações que salvaram bancos falidos, os gastos com a guerra, sobretudo Afeganistão e Iraque, ajudam a explicar o crescimento da dívida soberana dos EUA e a crise do dólar.
"O socorro aos bancos com recursos públicos e gastos na guerra são as grandes causas, agravadas pelas falcatruas. Oficialmente, US$ 800 bilhões são gastos todo ano pelo Estado norte-americano com o aparato militar. E o Estado também tem de comprar títulos para compensar a estagnação da demanda internacional", acrescenta.
Brasil
No caso do Brasil, o economista da UnB lamenta que o país não tenha tomado o caminho da Argentina, que impôs uma renegociação de sua dívida. "Nesses dez anos, além da China, Índia e outros países, como Argentina, desde que o povo destituiu o De La Rua, têm feito modificações estruturais. No Brasil, ao contrário, Lula manteve toda a estrutura de FH. Os leilões do petróleo foram mantidos, bem como a desvinculação das receitas da União – DRU, mecanismo que permite o desvio de recursos sociais para o pagamento de juros. Lula piorou as condições das aposentadorias e fez um caixa único da Previdência e Receita Federal", historia.
Já Reinaldo Gonçalves, professor de Economia Internacional da UFRJ, frisa que o Brasil aumentou sua distância em relação ao desenvolvimento mundial. Além do abuso do poder econômico, ele salienta que os bancos se beneficiam da política monetária restritiva caracterizada por elevadas taxas de juros, o que tem sido fatal para a indústria.
"Turquia e Brasil são os dois países que têm os mais elevados custos da dívida pública em amostra de 24 países. O custo médio da dívida pública é de 4,%, enquanto no Brasil é de 8,6%. Isso faz com que a relação entre o pagamento de juros da dívida e o PIB no Brasil seja o segundo maior, superado pela Grécia, que se encontra em plena crise financeira. A média desta relação é 2% e no Brasil é 5,1%", contabiliza.
"O que se constata claramente é: desindustrialização, "desubstituição" de importações; reprimarização das exportações; maior dependência tecnológica; maior desnacionalização quando se desconta a expansão das três maiores empresas do país ligadas à exploração de recursos naturais; crescente vulnerabilidade externa estrutural em função do aumento do passivo externo; e crescente dominação financeira", listou.
___________
Fonte: Monitor Mercantil