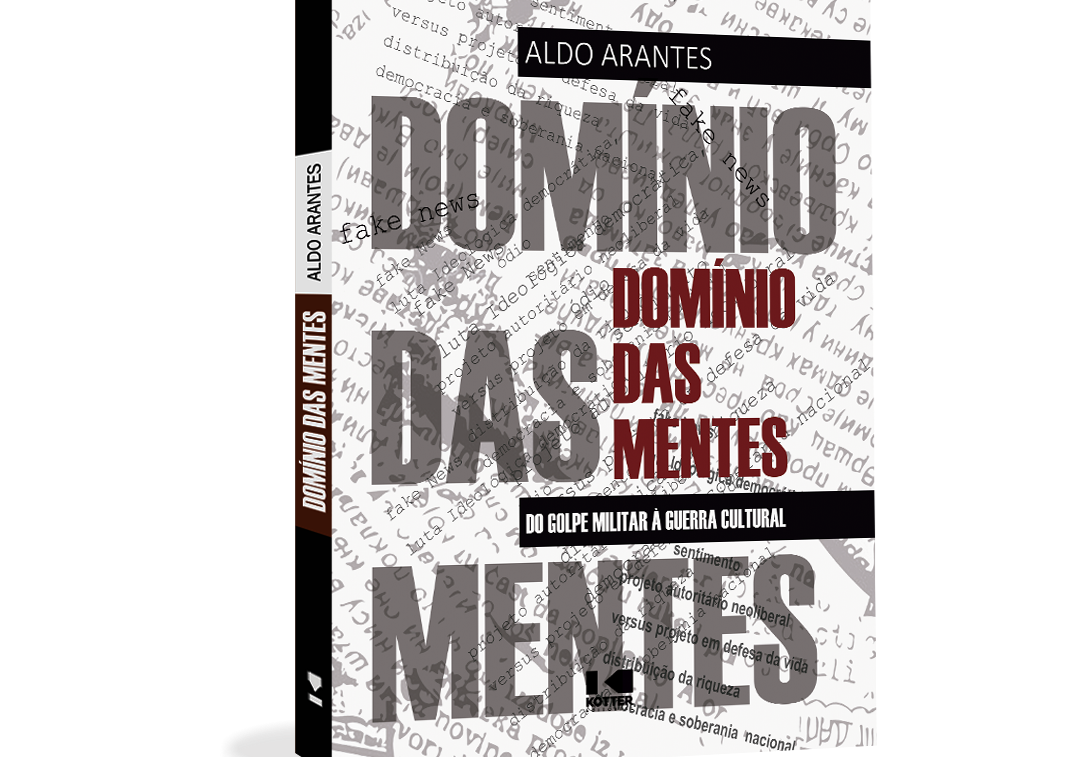Era Digital: Marcos Dantas avalia o julgamento do Marco Civil no STF

Para o professor Marcos Dantas, falta o conceito de “provedor de conteúdos” no artigo 19 do Marco Civil da Internet. Foto: Agência Brasil.
O Supremo Tribunal Federal (STF) tornou-se palco de um debate sobre a constitucionalidade do artigo 19 da lei 12.965/2014, mais conhecida como Marco Civil da Internet (MCI), lei elaborada pelo Ministério da Justiça, à época comandado por Tarso Genro, e promulgada pela presidenta Dilma Rousseff, sob aplausos gerais da comunidade ligada à internet brasileira: empresas, técnicos, militantes etc.
O polêmico artigo diz: “Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário”.
A lei não define o que seja “provedor de aplicações” mas define “aplicações” (Artº 5, VII): “o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet”. Sob uma tal definição parecem se abrigar plataformas sociodigitais (PSDs), tais como Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Amazon e similares. Na condição de “provedor de aplicações” não se consideram responsáveis por “conteúdos gerados por terceiros”, disseminados entre milhões de pessoas através de seus servidores e algoritmos.
O artigo 19 já merecia críticas, embora no início poucas e prudentes, digamos, desde quando a lei foi promulgada pois já então seria possível perceber que a internet começava a ser dominada por poderosos interesses comerciais aos quais não se aplicaria algum conceito de neutralidade diante dos conteúdos, como o artigo queria dar a entender. Já não eram poucos os atos de censura praticados pelos “provedores de aplicações” Facebook, YouTube, Twitter, entre outros, nas mensagens e vídeos enviadas através deles[1]. Geralmente, tais censuras eram motivadas por fatores morais, nos termos da moralidade hipocritamente puritana aceita na cultura estadunidense, fonte das regras impostas nos “termos de uso” dessas “redes sociais”. Mas elas demonstravam e demonstram dois aspectos:
i. essas plataformas dispõem de ferramentas tecnológicas suficientemente eficazes para bloquear na origem, para impedir que circule por um segundo sequer, qualquer mensagem que pelo motivo que for, elas julguem “impublicável”;
ii. essas plataformas, portanto, não são neutras em relação às mensagens que por elas trafegam, elas são editoras das mensagens; atribuem-se o poder, como qualquer outra empresa de comunicação social, de determinar a informação que pode ou não ser disseminada através de seus sistemas tecnológicos. Praticam censura. Censura privada.
Essa distinção entre meios neutros relativamente aos conteúdos que neles trafegam e meios editores de conteúdos é crucial à regulação dos meios de comunicação, desde os primórdios da telefonia e da radiodifusão nas primeiras décadas do século XX, quando esses meios passaram a ser publicamente regulados nos Estados Unidos e na Europa. O professor Giuseppe Richeri, uma das maiores autoridades no assunto, esclarece:
Os serviços de telecomunicações se desenvolveram para abastecer transmissões bidirecionais ‘ponto a ponto’ de sons e dados, pagas pelo assinante de acordo com o uso que faz delas […] Os serviços radiotelevisivos, ao contrário, se desenvolveram para abastecer transmissões monodirecionais ‘ponto a massa’ de programas sonoros ou audiovisuais, financiados por assinaturas a preços isonômicos, ou por publicidade […] No caso das telecomunicações, a empresa que administra o serviço não se ocupa do conteúdo das transmissões, somente dos continentes ou contendores, isto é, as estruturas de emissão. Na radiotelevisão, ao contrário, elas ocupam-se precisamente dos conteúdos, isto é, dos programas. Por essa razão, as telecomunicações são reguladas por normas predominantemente econômicas e industriais que tratam da infraestrutura, enquanto que a televisão é regulada por normas predominantemente políticas e culturais que têm a ver com os programas[2].
Embora tenha características reticulares (não são ponto-massa), as “redes sociais” se assemelham, em termos econômicos, daí regulatórios, à radiodifusão, pois o negócio de suas empresas desenvolvedoras – Alphabet, Meta, X (ex-Twitter) etc. – se baseia no impulsionamento dos conteúdos produzidos pelos seus usuários para fins de monetização, não em mero transporte de alguma mensagem de alguns pontos a outros pontos. Entretanto, essa distinção essencial, ignorada no capcioso conceito de “provedor de aplicações” adotado no MCI, ainda não foi devidamente compreendida pelos atuais debatedores, jurídicos ou políticos, se considerarmos, por exemplo, o projeto de lei nº 2.630/2020, conforme a última versão do relator deputado Orlando Silva. Nele, a distinção ainda não está suficientemente clara. Está faltando o conceito de provedor de conteúdos.
A expressão “provedor de aplicações” provém do inglês “provider”, conforme adotada na Seção 230 do “Decency Act” de 1996, segundo o qual, os “providers” não são responsáveis pelos conteúdos neles postados por seus usuários. O artigo 19 é literalmente uma adaptação para o Brasil da lei estadunidense, sugerida pelo Centro Tecnologia e Sociedade (CTS-FGV), origem principal do esqueleto do que viria a ser o MCI, e aceita acriticamente pelo então ministro da Justiça Tarso Genro, assessorado pelo advogado Pedro Abramovay, atualmente vice-presidente de Programas da Open Society[3].
A lei estadunidense explicava-se por dois aspectos contextuais próprios da cultura e da tradição jurídica dos Estados Unidos. A primeira emenda à Constituição desse país, datada de 1791, estabelece um regime de praticamente total liberdade de expressão. O cidadão estadunidense pode proferir publicamente os maiores absurdos que não será censurado – eventualmente, pode vir a ser punido pelos tribunais, caso seus absurdos venham a prejudicar terceiras pessoas. Não é bem este o caso da tradição jurídica brasileira, nem está sob abrigo da nossa atual Constituição. A própria Constituição brasileira, se assegura a liberdade de expressão, também lhe estabelece alguns limites ao emparelhar outros direitos com o da livre expressão. O segundo aspecto tem a ver com a própria realidade da internet na década 1990: os negócios sobre a internet ainda eram poucos e, no geral, experimentais. Ninguém sabia ainda como ganhar dinheiro na internet: faziam-se experimentações de modelos de negócios. Prevalecia a utopia de a internet ser uma “ágora digital”, até porque a maior parte de seus usuários e maiores animadores eram amadores interessados em interagir pela rede sem pretensões financeiras. Então, os “provedores de acesso” eram, de fato, serviços que apenas conectavam o computador de um usuário a algum servidor da rede TCP-IP. No Brasil, por exemplo, um dos primeiros e mais famosos provedores foi o serviço Alternex, da ONG Ibase, fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Esses provedores eram neutros relativamente às mensagens que circulavam entre os computadores em rede. Fazia sentido declará-los não responsáveis pelo conteúdo das mensagens.
Essa já não era a realidade em 2014 e, definitivamente, não é a realidade hoje.
Qualquer pessoa, hoje, não tem mais noção prática, como se tinha até o início deste século, do que significa “entrar” e “sair” da internet. Hoje, já “estamos” na internet, automaticamente, sem sentir, assim que ligamos o nosso celular de manhã (caso tenha sido desligado ao deitar); o nosso computador ao iniciar a jornada diária; até mesmo a nossa televisão por onde assistimos filmes e séries da Netflix. O “provedor de aplicações”, a rigor, é diretamente a operadora de telecomunicações que nos proporciona o acesso e uso do Chrome, Gmail, Facebook, WhatsApp, Telegram etc. Embora, em termos rigorosamente técnicos, não sejam a mesma coisa, para o comum das pessoas a internet se confunde com “redes sociais” ou com Shein. “Como você soube?”, pergunta-se sobre alguma notícia. “Vi na internet!”, pode ser a resposta. Não. Não “viu” na internet, sequer “viu” a internet. “Viu” no Facebook ou no WhatsApp.
Embora, possivelmente, o legislador estadunidense, na primeira metade da década 1990, tivesse mais preocupado, realmente, em estender a primeira emenda à internet quando aprovou a Seção 230, ele acabou viabilizando também a expansão dos conglomerados que hoje dominam efetivamente o nosso acesso cotidiano à grande rede. Segundo o especialista estadunidense Christian Dippon, a Seção 230 tornou-se um “porto seguro” para os negócios desses conglomerados[4]. Para Facebook, YouTube ou TikTok, quanto mais um texto, foto ou vídeo são visualizados, maiores as oportunidades de atrair publicidade, logo monetização. Não é um modelo de negócios muito diferente do da televisão ou jornais, exceto pelo fato de empresas jornalísticas ou de radiodifusão terem que investir em equipamentos, instalações e recursos humanos (artistas, jornalistas, animadores de auditório etc.) para produzirem os conteúdos que atraem audiência que atraem publicidade paga; enquanto que as PSDs transferem todo o investimento e riscos inerentes à produção para os próprios produtores: os seus usuários. Estes, se querem ficar famosos, “influenciadores”, daí gerando receita para si e para as plataformas, que invistam em equipamentos, instalações, aprendam por si mesmos(as) como se fazerem carismáticos(as). Deu certo? Parabéns! Não funcionou? Problema seu…
Dado o objetivo de atrair visualizações, para as “redes sociais” é absolutamente indiferente se o conteúdo transmitido carrega mensagem de amor ou ódio, verdadeira ou falsa, culta ou ignorante. Interessa o conteúdo que possa atrair mais cliques de “curtir”, gerar mais “respostas”, proporcionar mais “replicações”. E, para isso, os algoritmos entram em ação fazendo as mensagens chegar a quem muito possivelmente vai ainda acrescentar mais “curtir”, “respostas”, “replicações”. Impulsionamento. Dippon tem razão: não precisando se autocensurarem relativamente a certos tipos de mensagem por razões morais, éticas, educacionais, comportamentais, cerimoniais, como, mal ou bem, necessitam os jornais, as emissoras de rádio e as de televisão; e ainda podendo atribuir a terceiros – os usuários – as eventuais transgressões, as plataformas simplesmente liberaram geral… A finalidade dos negócios das PSDs não é propriamente política mas comercial. Mas acabou revelando-se de alta utilidade para a ascensão de grupos políticos que enxergaram nessa absoluta liberalidade um poderoso instrumento para mobilizar e organizar amplos setores da sociedade, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Itália, no Brasil, mundo a fora, para causas reacionárias, obscurantistas, anti-democráticas, nazifascistas. Sem deixar, também aí, de gerar ainda mais receita para elas. Giuliano Da Empoli deixa claro:
O Facebook e outras redes sociais são plataformas publicitárias que põem à disposição de empresas instrumentos extraordinariamente avançados para chegar a seus clientes. Mas, uma vez criada, fica claro que essa máquina pode igualmente ser utilizada para fins políticos, como realmente ocorreu nos últimos anos. E, considerando que são simples motores comerciais, as redes sociais não são equipadas – e não têm interesse algum em ser – para impedir os desvios e abusos. A única coisa que lhes interessa é o engajamento – o tempo que cada usuário passa na plataforma[5].
Preocupa muito a Christian Dippon que os países comecem a erigir legislações regulatórias que revoguem, fora dos Estados Unidos, o “porto seguro” onde as PSDs podem aportar, protegidas pela Seção 230. Segundo ele, se, no mundo, começarem a avançar leis ou regulamentos que anulem os efeitos, em outros países, da 230, a economia dos EUA poderá sofrer um golpe razoável. Segundo seus cálculos, os preços para os consumidores estadunidenses desses serviços subiriam; as receitas dos serviços de “nuvem” e de publicidade cairiam em 7,8%; poderiam ser perdidos 425 mil postos de trabalho; e o PIB dos Estados Unidos poderia perder 44 bilhões de dólares, anualmente. “Os intermediários da internet são cruciais tanto para a economia doméstica quanto para as exportações dos Estados Unidos para o resto do mundo”, garante.
Devem ser mesmo! Em 2023, as receitas da Alphabet somaram USD 307,4 bilhões; da Meta, 134,9 bilhões. O lucro líquido da Alphabet, foi de USD 73,8 bilhões; o da Meta, de USD 39,1 bilhões. Para se ter uma idéia das dimensões desses números, em 2023, o saldo positivo da balança comercial do Brasil foi de USD 99 bilhões. Como argumenta Dippon, a “inimputabilidade dos intermediários” está carreando do mundo para a economia dos Estados Unidos, uma enorme riqueza extraída dos textos, fotos, vídeos que todos nós lhes fornecemos… gratuitamente.
É dessa camada produtora, distribuidora e monetizadora de conteúdos que o STF está tratando, não exatamente da internet. Talvez não fosse sequer o caso de decretar a inconstitucionalidade do artigo 19 mas decidir, considerando aquela clássica distinção entre os negócios baseados em conteúdos e os negócios neutros quanto aos conteúdos, que o artigo aplica-se a estes, não àqueles. E determinar aos demais poderes, seja o Executivo, seja o Legislativo, que tomem as necessárias providências para regular, com o máximo rigor, a camada de negócios baseada na monetização de conteúdos que se apoderou da internet. Ou então que o próprio STF, considerando o vazio legal, defina um mínimo de parâmetros normativos a serem obedecidos doravante pelas PSDs. Enquanto isso, o PL 2.630 dorme em alguma gaveta do presidente da Câmara dos Deputados…
O debate não termina aí, nem pode limitar-se aí. Temos que avançar para muito mais do que questões como “liberdade de expressão”, “desinformação” ou “fake news”. O que está realmente em jogo é essa economia que faz bilionários como Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos e ainda ajuda a melhorar o balanço de pagamentos dos Estados Unidos e a sustentar o valor do dólar. Por isto mesmo, o intenso lobby que advogados da Alphabet ou Meta fazem em defesa do artigo 19: como vimos, ele é a transcrição brasileira, inadvertidamente inserida no MCI, da Seção 230 da lei estadunidense. Mais do que regular o que deve ou não deve circular nos ambientes das PSDs, precisamos debater como pode a sociedade brasileira, sobretudo os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, disputarem aquela imensa riqueza amealhada e transferida para os Estados Unidos, pelas PSDs. Assunto para uma próxima conversa.
Notas:
[1] Elizabeth Lorenzotti (2013), Facebook reintroduz censura no Brasil Observatório da Imprensa 2/08/2013 http://www.observatoriodaimprensa.com.br/ news/view/facebook_reintroduz_a_censura_no_brasil, acesso em 03/12/2024; Sergio Amadeu da Silveira (2015), Interações públicas, censura privada: o caso Facebook, História, Ciência, Saúde, v. 22, dez 2015 pp 1637-1651, disponível em https://www.scielo.br/j/hcsm/a/JQwwzQMZ87ZwSQCWb9FP8qk/#, acesso em 03/12/2024.
[2] Giuseppe Richeri, “Sobre la convergencia entre Telecomunicaciones y Televisión”, Dia-Logos de la Comunicación, n. 36, Lima: FELAFACS, agosto de 1993, tradução minha (M.D.) do espanhol.
[3] Para a história da construção do MCI, ver Guilherme Radomsky e Fabricio Solagna (2016), Marco Civil da Internet: abrindo a caixa-preta da agenda de uma política pública, Liinc em revista, v. 12, n. 1, pp. 57-71, maio de 2016.
[4] Christian M. Dippon, “Economic Value of Internet Intermediaries and the Role of Liability Protections”, disponível em https://internetassociation.org/wp-content/uploads/2017/06/Economic-Value-of-Internet-Intermediaries-the-Role-of-Liability-Protections.pdf, acesso em 24/11/2024.
[5] Giuliano Da Empoli (2019). Os Engenheiros do Caos, São Paulo/Belo Horizonte: Vestígio, pg. 155, itálicos meus – MD.
**********************
Marcos Dantas é Professor Titular (aposentado) da Escola de Comunicação da UFRJ, professor e pesquisador dos Programas de Pós Graduação em Comunicação e Cultura (ECO-UFRJ) e em Ciência da Informação (IBICT-ECO/UFRJ). Foi por três mandatos consecutivos um dos representantes da comunidade acadêmica no Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.Br). É membro do Conselho de Administração do Núcleo de Informação e Comunicação do Ponto BR (NIC.Br). É presidente da Fundação Maurício Grabois – Seção Rio de Janeiro.
Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.