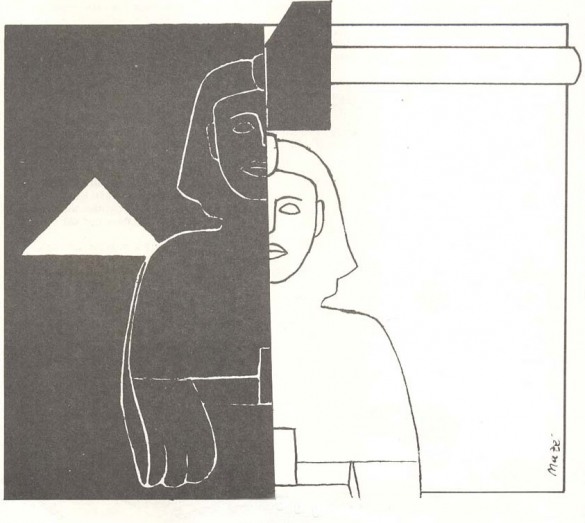Se fossemos iniciar nossos dizeres aqui definindo o que entendemos por democracia, certamente perderíamos o resto deste Congresso em uma polêmica muito acadêmica, possivelmente erudita e certamente estéril. Depois, nos despediríamos, ao seu final, sem havermos logrado decifrar o seu significado. Como a lenda da Esfinge, teríamos de decifrar o seu enigma, ou sermos por ela devorados.
O discurso liberal, por seu turno, tenta simplificar e deformar o assunto e procura fazer crer que há uma imbricação orgânica entre democracia e liberalismo, como se os dois termos fossem sinônimos, peças que se completam e se harmonizam necessariamente. Daí a maioria das confusões, algumas bem-intencionadas, outras deliberadamente arquitetadas
para manter o enigma da Esfinge. E não podia deixar de ser assim. O liberalismo, como mito burguês, procura insistentemente uma forma, ou melhor, uma fôrma na qual se possa colocar e, em consequência definir como idênticas a democracia do senhor e a democracia do escravo, a democracia do explorador e a democracia do explorado. A igualdade formal seria, assim, uma espécie de túnica inconsútil capaz de manter intacto, apesar de todas as violências e violações na prática, o aparelho ideológico do Estado capitalista.
Da mesma forma, se fossemos definir, inicialmente, o que entendemos por Sociologia – e por extensão por sociólogo – iríamos gastar tempo e esforçar a inteligência dos presentes para, na melhor das hipóteses, chegarmos a uma definição de dicionário, quase sempre a pior das definições porque é morta, fria, sem participação humana por faltar-lhe o brilho da vida que anima a verdadeira ciência.
O discurso neopositivista, que procura impor o seu código como o único científico apareceu para coonestar o liberalismo e transformar a Sociologia, nascida já traumatizada por compromissos de classe, em um anteparo teórico e empírico dos interesses econômicos, ideológicos e políticos das classes dominantes.
Não por acaso, por outro lado, colocamos o problema nestes termos na cidade do Recife, local onde o pensamento social brasileiro radical teve uma práxis tão ativa no sentido de romper, pela violência, os entraves que a estrutura Colonial e Imperial apresentavam ao desenvolvimento das forças produtivas nacionais. Homens como frei Caneca, Borges da Fonseca, Pedro lvo, mesmo um Antônio Pedro de Figueiredo, passando por um padre Roma, um Abreu e Lima, e tantos outros, todos atuaram, em diversos níveis e de formas diferentes, como agentes transformadores de uma estrutura social arcaica, superada e, por isto, são os precursores de uma Sociologia dinâmico-radical que vê na atuação política a sua aplicação e a justificativa fundamental da sua existência no quadro das ciências. O pensamento desses precursores é uma das bases do que pensamos hoje. Postaram-se diante da realidade não apenas visando a interpretá-la, mas transformá-la dinamicamente objetivando solucionar os problemas que surgem no contexto social. Foram, por outro lado, e por isto mesmo, aqueles pensadores sociais que procuraram abrir caminho para que existisse democracia no Brasil, o que não aconteceu até hoje. De fato, se olharmos para trás veremos que o Brasil teve somente a democracia do privilégio.
Fugindo, por isto, à ortodoxia do esquema que me foi apresentado, ou melhor, invertendo-o, vamos falar, em primeiro lugar, sobre o que entenderíamos por sociedade democrática e, consequentemente, como funcionariam os mecanismos da democracia. Depois procuraremos situar a atuação do sociólogo dentro desse tipo de sociedade, quando ela existir no Brasil. E enquanto ela não existe vamos procurar ver como situar o sociólogo para que ela venha a existir.
Se olharmos para nossa história social veremos que sempre se adjetivou a democracia no Brasil e, sempre, essa adjetivação favoreceu os privilegiados. Tivemos uma democracia de senhores de escravos que durou quase quatrocentos anos. Durante esse período os privilegiados puderam gozar de todos os direitos que essa democracia proporcionava, e na qual o escravo era coisa, equiparado às bestas de tração, e a igualdade somente existia no espaço social dos privilegiados; tivemos a democracia dos donos das oligarquias latifundiárias que substituiu à escravista. Uma democracia que se sustentou no domínio absoluto de uns poucos sobre milhões de camponeses sem-terra, operários, marginalizados em seus diversos níveis, subempregados e desempregados. Foi a democracia dos senhores dos latifúndios que substituiu à dos senhores de escravos. Esse tipo de democracia, embora com uma forma liberal, foi estruturada para impedir o ascenso de camadas que exigiam uma reformulação na nossa sociedade. Temos, agora, a democracia que protege os privilégios do capital estrangeiro que investe no Brasil, os trustes eufemisticamente chamados de multinacionais.
Como podemos ver, sempre temos uma democracia de privilégios. Quando, por outro lado, há necessidade de barrar os poucos avanços a fim de instaurar uma democracia sem adjetivos, criam-se, sempre, de forma sistemática, mecanismos reguladores que através de repressão conseguem sustá-los, conservando, ao mesmo tempo, uma imagem "legal" pela qual tudo foi feito de acordo com a Lei.
Por isto, temos uma democracia que funciona apenas para os que se beneficiam com os privilégios. A plebe, os componentes dos setores e segmentos oprimidos, por seu turno, recebem contra si toda a estrutura e ação dessas leis, criadas para manter a democracia do privilégio. O Brasil é, por isto mesmo, um país que teve inicialmente um Estado despótico, montado para impedir a revolta dos escravos. Em seguida, tivemos um Estado autoritário-liberal cujo objetivo era manter os privilégios das oligarquias latifundiárias e, finalmente, com a crise aguda do sistema, foi implantado um Estado neofascista, através de um golpe de Estado, que conjuga em suas funções a defesa dessas oligarquias e das multinacionais. A classe operária e o povo, mais uma vez, ficam asfixiados por falta de oxigênio político.
O Estado despótico-escravista que durou até 1889, não precisamos enfatizar, era um aparelho político altamente centralizado de defesa dos interesses dos senhores de escravos. Durante todo tempo em que a escravidão existiu ele funcionou ativamente na repressão às revoltas dos escravos e demais segmentos da plebe insatisfeita. A Cabanagem, no Pará, em 1835, passa deixando um saldo de quase 40 mil mortos. Em igual período, no Maranhão, a Balaiada deixa, também, um saldo de milhares de camponeses e escravos mortos violentamente. Isto sem falarmos na atuação desse Estado nas lutas dos próprios escravos, quando a sua violência não tinha limites.
Depois, com o Estado republicano-autoritário que o substituiu, a plebe camponesa continua a sofrer o impacto da repressão. Canudos é esmagado sem deixar sobreviventes pelo governo democrático de Prudente de Morais. O Contestado, no Paraná, também deixa um saldo de mortos que desmente a tese de que a nossa história social foi incruenta. Esses movimento se avolumam e adquirem cada vez mais conotações políticas pela posse da terra.
Com o aprofundamento da crise do sistema teremos, finalmente, em 1964, a transformação desse Estado em um Estado neofascista-militarista que surgiu para defender os interesses daquilo que eufemisticamente se chama de multinacionais e dos setores agrários direta ou indiretamente ligados ao imperialismo. A burguesia industrial perdeu seu peso paulatinamente à medida que grupos internacionais conseguiam privilégios e concessões para dominar o mercado nacional.
A essência desse Estado foi, sempre, defender os privilégios. Escravocrata, republicano-autoritário ou neofascista, mesmo com formas populistas em alguns momentos, o Estado brasileiro e os governos que o representaram durante toda a nossa história política e social existiu para reprimir. Entre a passagem do Estado republicano-oligárquico para o neofascista tivemos, em 1937, o bonapartismo estadonovista, que foi um tímido precursor do que viria depois, com a derrocada, em 1964, das poucas instituições liberais que, de qualquer forma, davam balizamento a esse autoritarismo liberal.
Sempre houve uma tática de peneiramento para que o povo fosse alijado de participação no processo político emergente. Quando, em 1881 – poucos anos antes da Abolição – se procurou fazer uma reforma eleitoral, veta-se, pela primeira vez, o voto do analfabeto. As limitações na legislação anterior não o atingiam, embora atingissem outras camadas do povo por motivo diverso: a não posse de bens de raiz. No entanto, quando se prepara a saída da grande massa da senzala, massa que poderia influir, ou mesmo decidir do processo eleitoral ao adquirir cidadania, ela é sumária e antecipadamente excluída desse direito. Foi aprovado aquilo que Ruy Barbosa chamou de um "senso literário". Com isto, para José Honório Rodrigues: "A população do Brasil, segundo os dados oficiais, estava calculada em 4.318.669 homens livres, dos quais 3.306.602 não sabiam ler. Portanto, os que sabiam ler ficavam reduzidos a 1.012.097.
Além disto calculava em um milhão o número de industriais (sic), operários e lavradores que não podiam exibir as provas exigidas, dos dois milhões estimados pela estatística oficial nestes grupos. Restavam 12.097 homens livres, dos quais deviam deduzir-se os alienados, os interditos e os sem-ocupação. A população apta ao eleitorado seria de 3010; e como podem, perguntava (Saldanha Marinho), “3 somente representar 100 ou constituir mandatários desses cem?" (1).
Até hoje a restrição continua, apesar de todas as reformas eleitorais e constitucionais. Onde, pois, iremos encontrar uma democracia no sentido de que o povo é a força social e política que dá conteúdo ao Poder? Onde? Quando?
Todos os tipos de Estados que tivemos diziam-se representados através de governos democráticos. O primeiro – escravista – era uma monarquia constitucional. O segundo,
um governo autoritário com um discurso liberal. Tivemos, também o interregno bonapartista do Estado Novo para voltarmos ao autoritarismo liberal que durou até 1964. O atual tipo de Estado é uma ditadura neofascista, também constitucional, pois os seus teóricos dizem que surgiu de uma revolução democrática. Todos eles, no entanto, valeram-se de atos adicionais restritivos para protegê-los: as diversas leis contra o elemento servil no primeiro; a Lei de Segurança Nacional no segundo; e o AI-5 e tantos mais no terceiro.
Nunca, porém, como agora, o arbítrio foi tão sistematicamente usado nem o povo oprimido no seu conjunto. Agora, ao invés de podermos dizer que o leque da tendência democrática se abriu, temos, infelizmente, de dizer que ele se fechou abruptamente, com todo seu cortejo de consequências negativas que estamos testemunhando. Se nunca tivemos democracia no passado, agora muito menos. Os privilegiados nunca foram mais privilegiados e os oprimidos mais oprimidos, do que atualmente.
O primeiro tipo de Estado – monarquista-constitucional – foi instalado para evitar a radicalização do processo político que desembocou na Independência e a conservação, intactos, dos interesses e patrimônio dos latifundiários escravistas e da Casa de
Bragança; a República foi imposta para continuar defendendo os interesses dos grandes proprietários fundiários e, finalmente, a chamada revolução democrática (que nem foi revolução e nem democrática) surge no ciclo histórico do neocolonialismo para brecar, violentamente, as forças sociais que emergiam procurando fazer aquelas reformas e mudanças políticas que as necessidades maduras da sociedade brasileira estavam a exigir. Para manter o privilégio político e permanecer a contradição estrutural entre o caráter das forças produtivas e as relações de produção, varreu-se, inclusive de forma violenta e terrorista, com alguns aspectos liberais que faziam parte do modelo anterior; implantou-se a dominação total de um aparelho de Estado novamente despótico e foram criados, em continuação, mecanismos militar-terroristas de dominação para poder garantir a sua permanência.
Da mesma forma como em 1881, o povo foi alijado da possibilidade de votar livremente; como desdobramento desta realidade, novas leis foram criadas para que o povo permanecesse, sempre, como um espectador da História. Sempre objeto passivo, sem dinamismo, sem capacidade de discernir ou influir no processo de mudança social: esta foi sempre a intenção de todas as ditaduras de classe que tivemos: um povo inerme, sem possibilidades de se recompor com o ritmo dinâmico da História.
Tal situação conflitante cria a necessidade de teóricos para justificar a existência dessas ditaduras. Essas elites de poder que representam os interesses das classes dominantes acreditam-se eternas e eterno o seu poder de dominação. Daí exigirem que apareçam os teóricos que justifiquem a contradição e a opressão. E esses teóricos aparecem. Mussolini, em carta feita a Bianchi, em agosto de 1921, dizia:
"O fascismo italiano necessita atualmente, sob pena de morte, pior ainda, de suicídio, prover-se de um 'corpo de doutrina'. Esta expressão talvez seja muito forte. Porém eu desejaria que a filosofia do fascismo fosse criada dentro de dois meses, para o congresso nacional".
Como podemos ver, surgem sempre os "teóricos" para os sistemas que desejam impedir ou dificultar a mudança e o desenvolvimento das sociedades. Esses sistemas necessitam, imperiosamente, de um corpo de doutrinas, ou seja, de um conjunto de pensamento que articule teoricamente os elementos de controle e de repressão. No outro pólo estão os pensadores que captam o sentido dessas transformações e mudanças, colocando-se ao lado das leis objetivas que determinam esse desenvolvimento.
E é exatamente aqui que podemos colocar o papel do sociólogo. De que lado ele se colocaria? Como elaborador de um corpo de doutrina neofascista, no caso brasileiro, ou ficar ao lado da análise objetiva das leis que transformam as sociedades?
Como se postará o sociólogo diante desta realidade conflitante: irá elaborar modelos para o sistema? Ficará numa posição de imparcialidade científica? Ou partirá para a execução de uma práxis sociológica em sincronia com o processo de transformação em curso?
Quando falamos de práxis sociológica temos em vista dois aspectos que se completam e são interdependentes: o problema gnosiológico e o problema da ação social e política. O segundo aspecto deverá ser o coroamento do primeiro. A ação política, portanto, deve ser um reflexo do conhecimento empírico da realidade social, mas não de forma contemplativa ou simplesmente pragmática. Deve ser dialética e consequentemente dinâmica na sua essência. O conhecimento das leis sociológicas dá ao homem o poder de intervir conscientemente no processo social, elevando o grau desse conhecimento à medida que atua. Daí por que a sociologia acadêmica escamoteia este fato de suma importância: a possibilidade das ações de massas se processarem não como tendências psicológicas agressivas dessas classes e grupos sociais, mas como decorrência da sua conscientização.
Pierre Naville vê três tipos de leis que atuam nas estruturas sociais, a saber: a) leis de funcionamento em longo prazo; b) leis de funcionamento em prazo médio, e c) leis de funcionamento em curto prazo. O primeiro tipo abrangeria os movimentos demográficos, a propriedade, a estrutura da família e de parentesco etc. O segundo seria constituído por aquelas de funcionamento cuja ação se faz sentir dentro de uma esfera considerada assinável por uma geração, por vezes pouco mais, tendo a duração de uma vida humana ativa. Vinte, trinta anos, às vezes menos. Finalmente, o terceiro tipo é o que concerne à ação dos partidos (2).
As leis de funcionamento de caráter econômico e social de curto prazo correspondem, geralmente, a um aspecto transitório e por vezes subordinado às leis sociológicas mais gerais.
Assim, para Pierre Naville, as "leis da evolução do regime de propriedade são, no fundo, leis em longo prazo. E é pelo conhecimento e compreensão do caráter relativamente lento dessas transformações que se torna possível agir sobre elas de maneira consciente e com perspectivas de longo prazo. As segundas – em prazo médio – são as que decorrem do que chamamos atualmente de planificação. O que deve ser planificado em função do conhecimento do estado da sociedade é justamente aquilo sobre o que se pode agir num plano assinável" (3).
Finalmente, as últimas "podem ter um caráter imediatista ou que se podem produzir bruscamente ou então não serem eficazes senão dentro de um escasso período de tempo (…) As organizações políticas e sindicais agem no mais das vezes em função das características de curto prazo das leis sociais" (4). A práxis sociológica, portanto, deve ser dirigida pelo conhecimento das leis do desenvolvimento social, desde as suas formas mais simples e transitórias até as que expressam as contradições mais radicais da estrutura social, como os movimentos revolucionários. Daí a coincidência que deverá existir – embora nem sempre isto aconteça – entre os agrupamentos e partidos políticos que se orientam pela teoria marxista e a visão científica global do desenvolvimento das sociedades nas quais atuam.
Porque o não conhecimento multifacético da realidade social e do seu ritmo de desenvolvimento, de seu dinamismo interno e, especialmente, a falta de conhecimento das contradições que atuam em cada processo específico pode levar esses grupos e/ou partidos a um afastamento progressivo da coincidência práxis/conhecimento científico, descambando na alienação voluntarista. Esses grupos e/ou partidos, ao se isolarem da realidade social, ao procurarem explicações subjetivistas e algumas vezes coincidentes apenas com os seus próprios desejos, criam barreiras a uma ação política e social eficaz. A história do movimento social mundial está, aliás, cheia de exemplos para que tenhamos necessidade de insistir no assunto.
Esta práxis não é aplicada, contudo, sobre um corpo social uniforme e estático, mas sobre um corpo social contraditório e dinâmico. Não se trata de uma sociedade abstratamente concebida, mas de uma sociedade determinada, dilacerada por antagonismos. Nas sociedades divididas em classes toda ação social ponderável, relevante, tem um conteúdo específico que a situa como reflexo dos interesses de uma das classes em luta e conflito no espaço social. Muitas vezes, por um processo de interação sutil nos diversos níveis que compõem a sociedade, eles estão camuflados ou se refletem indiretamente; projetam-se através de diversas formas; aparecem algumas vezes também de forma direta, nos momentos de tensão e/ou conflito social. A luta de classes, que se verifica na sociedade capitalista, no entanto, penetra em todos os níveis da estrutura social.
Por isto mesmo os diversos planos elaborados pelos cientistas sociais acadêmicos são travados pelas limitações do tipo de poder político que existe em seus respectivos países. Planos educacionais, de produção regional, planejamento econômico, de integração de minorias, aplicação do processo tecnológico, natureza, racionalização e aperfeiçoamento do trabalho, finalmente, todo o conjunto daquilo que representa a práxis da sociologia acadêmica, em termos de ciência aplicada, tende, por isto, a cobrir áreas que necessitam modernizar, racionalizar o modo capitalista de produção.
Desta forma, temos dois tipos colidentes de práxis: um da sociologia dinâmico-radical que age levando em consideração o caráter contraditório da sociedade e que atua sobre aquelas contradições imanentes, proporcionando a possibilidade de elevar o conhecimento e, ao mesmo tempo, resolver os problemas sociais que nascem dessas contradições; de outro lado, a práxis gradualista da sociologia acadêmica em suas diversas modalidades, que tem sua própria essência limitada pelas contradições da sociedade capitalista à qual serve, quer como conjunto ideológico, quer como conjunto de técnicas empíricas a ser usado pelas classes dominantes.
Mas, em países como o Brasil, a dimensão científica desses trabalhos é artificialmente elastecida pelos cientistas sociais acadêmicos, não apenas porque isto determina áreas de prestígio e profissionalização vantajosas, como também porque neutraliza áreas e grupos da sociedade que têm objetivos radicais. Nos países chamados subdesenvolvidos, como o Brasil, há necessidade de se sustar ideológica e praticamente classes e camadas sociais que se formam em ritmo acelerado e, especialmente, neutralizar a intelectualidade que possui consciência crítica ou revolucionária. Por isto apresentam-nos como culturalmente desarmados para realizarmos as transformações estruturais de que necessitamos sob a alegação de que não podemos dispor daqueles recursos institucionais e padrões científicos oferecidos pelos países desenvolvidos a seus cientistas sociais para que possamos operar cientificamente, de forma global, nos diversos níveis da sociedade.
Usando um conceito positivista da ciência para o qual toda procura da essência dos fenômenos é metafísica, esses cientistas sociais comprazem-se em requintes de refinamento, procurando mostrar, através de detalhes, as alternativas que as classes dominantes têm ante os problemas que se lhes apresentam.
Após a realização, esses trabalhos e pesquisas escapam-lhes das mãos, sendo transferidos para as mãos dos burocratas governamentais o seu (ou não) aproveitamento. Os cientistas sociais acadêmicos ficam, assim, como os ratos que silenciaram, na conhecida anedota, quando se perguntou quem iria pôr o guizo no rabo do gato. A analogia existente entre os ratos que encontraram a solução ideal para não serem mais atacados pelos gatos e os sociólogos acadêmicos não é, contudo, anedótica. De fato, se ventilamos o assunto nestes termos foi porque entendemos que o calcanhar de Aquiles do empirismo sociológico está justamente aqui: em sua inércia frente aquilo que representa a inércia social. O seu papel de simples municiador passivo para que, no nível da ação política, as classes dominantes, as estruturas de poder, através dos seus mecanismos de defesa e dos seus órgãos e instituições de controle e repressão, tenham elementos para ver a realidade social e possam tentar impedir a mudança global, estrutural necessária. São os "conselheiros do Rei" de que nos fala Wright Mills. Através de planos parciais e medidas burocráticas, ou mesmo abertamente repressivas, retardam o processo de mudança ou transformação revolucionária emergentes.
É, portanto, uma sociologia patológica. A sua práxis limita-se à pesquisa, à parte elaborativa, ficando alijada de participar das aplicações no plano da ação política. Apresentam a mercadoria, vendem-na profissionalmente, não sendo, no entanto, proprietários de seu trabalho. É uma práxis alienada.
Um caso extremo de aproveitamento das ciências sociais pelas estruturas de poder imperialistas dominantes na América Latina, é, sem dúvidas, o Projeto Camelot organizado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, projeto de pesquisa que obteve intensa repercussão nos círculos acadêmicos, dos quais grande parte já estava praticamente corrompida pelas possibilidades mirabolantes que os seus organizadores acenavam. A começar pela soma em disposição para esse projeto (de 4 a 6 milhões de dólares) que seria dispendida para a sua execução, fato que proporcionaria todas as possibilidades para que seus membros pudessem aplicar os mais altos padrões científicos na sua elaboração, tudo contribuiu para que esses cientistas fossem atraídos pela miragem. O critério operacional justificava a atitude desses cientistas sociais que se postavam em uma posição de equidistância dos seus objetivos finais de espionagem. Um certo cinismo "científico" servia de manto protetor e de elemento justificador para aqueles que tiveram possibilidade de ser convidados para tão alto empreendimento científico.O processo, conforme já afirmamos, não passava de espionagem refinada e tinha como objetivos: "primeiro, criar métodos para avaliar o potencial de guerra intestina nas sociedades nacionais; segundo, identificar da maneira mais segura possível, aquelas ações que um governo poderia realizar com o fim de avaliar as condições julgadas capazes de gerar um potencial de guerra intestina; e, finalmente, determinar a probabilidade de prescrever as características de um sistema de obtenção e utilização das informações essenciais necessárias à realização das duas coisas acima indicadas. O projeto é concebido como um esforço a ser levado a cabo em três ou quatro anos, com um financiamento anual de cerca de um milhão e meio de dólares. É patrocinado pelo Exército e o Departamento de Defesa, e será conduzido em colaboração com outros órgãos do governo. Planeja-se uma ampla coleta de dados básicos in loco, assim como extensa utilização dos dados já existentes sobre funções sociais, econômicas e políticas!”.
Este é trecho de uma carta enviada pelo correio, datado de 4 de dezembro de 1964, a uma lista selecionada de cientistas sociais. Dirigido por Rex Hopper, o projeto estendeu-se como uma teia de napalm corruptor até que estourou. No Chile, na Suécia e em outros lugares surgiram vozes que mostraram à sociedade o caráter ostensivamente policialesco e de espionagem de todo o projeto. Por outro lado, o Departamento de Estado americano protestou por haverem o Departamento de Defesa e o Exército se imiscuído em assunto de sua especialidade, o que vinha oficializar, publicamente, o seu objeto de espionagem.
Pois bem, esse conluio científico-militar indecoroso tão evidente era visto pelos cientistas sociais acadêmicos que dele participavam e dele se beneficiavam como um casamento legal, a tal ponto de Horowitz escrever sobre esse processo de alienação que: "o que se tornou particularmente evidente ao falar com o pessoal do Camelot, foi que nenhum deles considerou o seu papel no projeto como espionagem em favor dos Estados Unidos ou de qualquer outro órgão".
Sem comentários. Este caso extremo serve para ilustrar o grau de envolvimento ideológico e econômico exercido pelo imperialismo, através dos seus órgãos, sobre as ciências sociais universitárias nos países dominados. Há, portanto, necessidade que a ela se contraponha um outro tipo de Ciência Social que postule modificações globais e estruturais, através dos grupos e classes que estão interessados em superar as contradições inerentes a esse tipo de sociedade, modificando-o qualitativamente e criando um novo projeto de ordenação social que, no momento, é de uma democracia sem adjetivos dos opressores, com vistas a uma ordenação socialista.
A sociologia acadêmica reflete, interpreta, racionaliza e justifica, assim, na sua estrutura conceptual e na sua aplicação prática (empírica) a inércia social e o conservadorismo político em suas diversas conotações. Desta forma há necessidade, nesta constelação de teorias que configura a decomposição do pensamento social e das ciências sociais acadêmicas, de uma reformulação radical dessas categorias e dessa prática. Mas, essa reformulação não pode ser feita pela própria sociologia acadêmica, pois isto seria negar-se ao superar-se e fazer emergir uma outra ciência qualitativamente superior. E isto ela não pode fazer pela contradição intrínseca entre sua função atual e aquela que exercia ao se superar conceptualmente. Porque, ao tentar tal transformação entraria em choque e conflito com os interesses de pessoas, grupos, instituições e classes que dela se beneficiam e fornecem-lhe o fluxo de facilidades, vantagens e recursos para que ela permaneça atuante neste nível de comportamento e funcionalidade.
Há, portanto, um impasse que nos parece insolúvel se esperarmos essa transformação a partir de uma dinâmica crítica e radical da própria sociologia acadêmica e por ela executada. Este impasse gera a necessidade de uma nova sociologia capaz de produzir esta ruptura, superando o dogmatismo acadêmico e apresentando, em sua proposta, não apenas uma nova conceituação, mas também novas normas de ação. Desta forma, a nova sociologia seria a negação hegeliana daquela que se apresenta como científica, ou, em última instância, uma Sociologia que, unindo a ciência à consciência, elaboraria uma práxis revolucionária.
Em outras palavras, falando alegoricamente sobre a Sociologia acadêmica: devoremos a Esfinge antes que ela nos decifre.
* Clóvis Moura é sociólogo e escritor, examinador de Pós-graduação da Universidade de São Paulo, presidente do IBEA (Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas), autor de vários livros, entre eles Rebeliões da Senzala, A Sociologia posta em questão, Sociologia de la praxis e Introdução ao pensamento de Euclides da Cunha. Colaborador de Princípios.
Notas:
(1) RODRIGUES, José Honório. Conciliação e Reforma no Brasil, Civilização Brasileira, RJ, 1965, p. 145.
(2) NAVILLE, Pierre. Leis Sociológicas e Ação de Massas, SP, s/d, p. 153.
EDIÇÃO 14, OUT/NOV, 1987, PÁGINAS 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60