Avançar ou recuar na democracia?
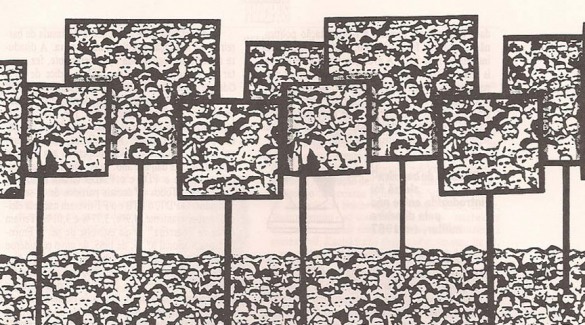
O Brasil começa o ano de 1993 com a perspectiva de definições marcantes em sua história. Um plebiscito decidirá se a forma de governo será republicana ou monarquista, e se o sistema de governo será parlamentarista ou presidencialista. Por isso dois temas assumem importância destacada e sentido de urgência: nova lei orgânica de partidos e novo sistema eleitoral. Em torno dessas questões, nos últimos meses do ano findo, desenvolveu-se no Congresso Nacional intensa movimentação.
Parlamentaristas e presidencialistas divergem inclusive sobre o tratamento a ser dado aos partidos políticos. Mas há alguns setores dessas duas correntes que demonstram acordo em um ponto, o de que no Brasil há partidos demais. O senador Marco Maciel, autor de um dos projetos sobre lei orgânica dos partidos, e o senador José Fogaça, autor de substitutivo sobre a matéria, apresentaram-se a uma Comissão da Câmara, a 11 de novembro passado, defendendo, com igual ênfase a mesma tese: é necessário acabar com o pluralismo partidário demasiado no Brasil! E, contudo, o senador Marco Maciel é destacado presidencialista, tanto quanto é parlamentarista o senador Fogaça.
Em certos círculos presidencialistas desenvolve-se a opinião de que a instabilidade política, hoje tão denunciada no Brasil, tem a ver ou decorre do número excessivo de partidos políticos existentes entre nós. E isto não é verdade.
A experiência de 103 anos de presidencialismo no Brasil foi toda tumultuada. A maior parte dela, 77 anos, transcorrida sob regimes excepcionais (1930-1945, 1964-1985) ou abertamente oligárquicos (1889-1930) (1). O período de 1946 a 1964, de 18 anos, e os sete anos transcorridos do fim do regime militar, em 1985, até hoje, são os dois momentos democráticos brasileiros que somam apenas 25 anos, onde o presidencialismo conviveu com partidos políticos mais ou menos atuantes e de maior ou menor expressão nacional. O professor Wanderley Guilherme dos Santos, da UFRJ, a propósito, desenvolveu todo um capítulo de seu livro Crime e Castigo demonstrando, com fartos dados brasileiros e de outros países, a inexistência de relação entre o grau de estabilidade política de um país e o número de partidos que nele efetivamente funcionam. Em outra oportunidade, ante a perplexidade dos que acham impossível governar o país com 20 partidos, o professor Wanderley assevera: “pois o país foi governado com 13 partidos até o início dos anos 1960”. E arremata: “1964 teria ocorrido com 13, 2 ou 22 partidos. A Dinamarca, para dar um exemplo avançado, é governada há mais de 50 anos por 16 partidos” (2).
Por outro lado, setores parlamentaristas insinuam ou insistem ser o parlamentarismo incompatível com um maior número de partidos, avesso ao voto proporcional, idéia que contrasta com as experiências parlamentaristas no mundo. A própria Constituinte de 1987-88 no Brasil, trabalhando em ambiente de efervescência democrática, com o povo atento a seus movimentos, chegou a aprovar, na Comissão de Sistematização, sob a presidência do mestre Afonso Arinos, o parlamentarismo como sistema de governo, a liberdade de organização partidária e o voto proporcional para a eleição de deputados. O parlamentarismo, aí, era sistema de governo mais democrático que o presidencialismo imperial existente, um passo à frente na evolução política de nosso país. O texto parlamentarista, aprovado na Comissão de Sistematização, foi lamentavelmente derrubado no plenário da Constituinte, por uma aliança entre as forças conservadoras, lideradas pelo presidente Sarney e os militares, e os partidos PT e PDT, todos apoiados por Ulysses Guimarães, então presidencialista. O PCdoB, parte da esquerda e democratas, defendemos o parlamentarismo como pudemos. Por 344 votos a 212 venceu o presidencialismo.
“Elites brasileiras têm o hábito de copiar soluções próprias das capitais estrangeiras”.
Agora as coisas são postas de maneira diversa. As elites brasileiras, formadas no colonialismo econômico e cultural, sempre tiveram o hábito de copiar soluções encontradas pelas metrópoles estrangeiras para seus problemas. Copiaram o “presidencialismo” dos EUA, a “Carta del Lavoro” da Itália. Deslumbradas com o primeiro mundo, arrojam-se agora para estruturar o que João Amazonas observou ser um “parlamentarismo de primeiro mundo”, para o nosso país de terceiro mundo.
O “parlamentarismo de primeiro mundo” que alguns querem para o Brasil foi buscar seu modelo acabado em um país em tudo e por tudo diferente do nosso – a Alemanha.
A Alemanha é uma das nações mais cultas do mundo. A América ainda não havia sido descoberta por Colombo e a Alemanha já dispunha de universidades famosas, como as de Heidelberg e Colônia, no século XIV, Friburgo e Munique, no século XV. Na atualidade, unificada, a Alemanha é 24 vezes menor que o Brasil, tem uma densidade populacional 13 vezes maior, renda per capita oito vezes superior e taxa de analfabetismo insignificante. Nesse país, a partir de 1949, começou-se a elaborar nova legislação eleitoral, com a preocupação especial de evitar o surgimento de uma situação como a que propiciou a ascensão de Hitler, grande trauma nacional, que felizmente não temos (3).
No período pós-guerra, a interferência americana nos negócios da então Alemanha Ocidental era enorme, se não total. Com esta influência, o sistema eleitoral definido voltava-se em geral contra as minorias, entre as quais estavam os comunistas (4). A lei de 1949, enrijecida em 1953, depois em 1956 e, finalmente, em 1990, terminou fazendo com que, ao parlamento alemão, só tivesse acesso dois ou três partidos.
O pluralismo partidário já foi muito decantado entre nós. O princípio do pluralismo está situado, logo no artigo 1º da Constituição, como um dos “fundamentos” da República.
O artigo 17, ao definir a liberdade de organização partidária, ressalta o “pluripartidarismo”. Entretanto, hoje, há setores políticos procurando as formas de conter o pluralismo partidário que estaria excessivo.
Considerar excessivo o número de partidos organizados no país é julgar exagerado o próprio pluralismo de nossa sociedade. Por que os partidos, de uma maneira geral, refletem as diferenças que existem na sociedade, entre classes, setores, facções, camadas etc. Um pequeno número de partidos, em uma sociedade heterogênea, camufla a representação política, não demonstra fortalecimento, mas deformação da instituição partidária. A evolução política de um país como o Brasil também contribui para tornar mais complexo o sistema partidário. Aqui, até agora, partidos nacionais sérios se desenvolveram nos escassos e curtos períodos democráticos, que em nossa história sempre apareceram imprensados nos intervalos que separaram um autoritarismo de outro.
“Cláusula de barreira” alemã foi introduzida entre nós pela ditadura militar, em 1967
Os partidos e a educação política do povo muito padeceram dessa irregular vida democrática, onde, a cada ascenso autoritário, dissolviam-se os partidos e encasulava-se a liberdade. Por isso, em todo período democrático ressurge plêiade de partidos e de idéias e de escolas de pensamento, dando em conjunto a impressão de certa confusão política e cultural quando é apenas momento de saudável efervescência em que, com os debates, os confrontos, as dissensões, as alianças e as eleições a vida política do país vai se decantando e se fortalecendo. Por isso também, em todo período autoritário, na vã e funesta tentativa de “simplificar” a vida política e enquadrá-la em parâmetros supostamente racionais, investe-se contra os partidos existentes, decreta-se sua extinção e criam-se os célebres “dois partidos”, que nos EUA são chamados de “Democrata” e “Republicano”; na Inglaterra “Conservador” e “Trabalhista” e, aqui, “ARENA” e “MDB”. Tem sido assim em nossa história. A vida, mais forte, protesta contra os esquemas e os leva de roldão. Felizmente.
Mas, como o objetivo preconcebido é reduzir de pronto o número de partidos, grande interesse voltam a despertar os mecanismos da lei alemã, que lá consegue manter em atividade apenas dois ou três partidos. Os dois mecanismos básicos são: a “cláusula de barreira” e o sistema eleitoral misto, majoritário e proporcional, entre nós conhecido como distrital misto (5).
A “cláusula de barreira” alemã está consignada no inciso VI do art. 6º da sua lei eleitoral. Estabelece que “somente serão levados em consideração os partidos que tiverem obtido pelo menos 5% dos segundos votos válidos dados no território federal ou que tiverem conquistado um mandato em pelo menos três distritos eleitorais”. Os “segundos votos” são aqueles dados nas listas de candidato, ao lado dos votos nos candidatos distritais. É com base nos “segundos votos” que se calcula o número de vagas a que um partido faz jus, por isso que o sistema respeita o princípio da proporcionalidade.
A tentativa de introduzir a “cláusula de barreira” na legislação brasileira não é nova. A ditadura militar, no auge de sua ação legiferante, fez constar na Carta outorgada de 1967 o índice de 10% “do eleitorado que haja votado na última eleição” como o mínimo que um partido deveria atingir para permanecer em funcionamento (art. 149, VII). A Carta outorgada de 1969 considerou escorchante este índice e reduziu-o para 5%. Mas a Emenda Constitucional nº 22, de junho de 1982, suspendeu sua vigência para as eleições daquele ano. Se tal não tivesse ocorrido, somente o PDS e o PMDB teriam ficado no Parlamento. Todos os demais partidos de lá seriam excluídos. O PDT, o PTB e o PT tiveram naquela eleição, respectivamente, 4,9%, 3,77% e 3,01%. Teriam caído na “barreira” se ela estivesse de pé. A Emenda Constitucional nº 25, de 1985, de novo considerou escorchante o índice de 5% e baixou-o para 3%. Ainda assim, para as eleições de 1986, esta exigência foi suspensa. A Constituição de 1988 extirpou do texto constitucional brasileiro a “cláusula de barreira”.
Por onde se vê que as tentativas de introduzir no Brasil as draconianas “cláusulas de barreira”, inspiradas na legislação alemã, surgem com a ditadura militar, sobrevivem com ela e com ela se acabam sem, entretanto, nunca terem sido aplicadas. Agora, de novo, o assunto é reposto no Congresso.
Em suas versões originais os substitutivos de João Almeida, na Câmara dos Deputados, e de José Fogaça, no Senado, tentaram resgatar essa frustrada e canhestra medida autoritária do passado. João Almeida retornou ao índice de 5% da Constituição outorgada pelos ministros militares em 1969. E os 3% do Fogaça são mais contundentes, na medida em que, na contagem dos votos válidos, ficam incluídos os “brancos” e “nulos”. Qualquer dos dois índices aplicados agora ceifariam, de uma penada, onze dos dezenove partidos representados no Congresso. Setenta e oito deputados federais ficariam sem legenda, 15,5% da Câmara. O deputado mais votado do Brasil – Miguel Arraes – estaria entre eles, só lhe sendo permitido tomar posse, segundo Fogaça, se se filiasse a algum partido que tivesse cruzado a “barreira”.
“Ampla liberdade de organização partidária é direito inscrito na Constituição”
As “cláusulas de barreira” das versões originais dos substitutivos de João Almeida e José Fogaça tinham caráter draconiano, inaceitável e inconstitucional, sobretudo por obrigarem o Tribunal Superior Eleitoral a cancelar o registro do estatuto do partido que não conseguisse o desempenho eleitoral por elas estabelecidas. Os partidos assim penalizados deixariam de existir na prática. Os que tivessem o fôlego que o PCdoB já demonstrou passariam à vida clandestina…
O que em vigor remete a uma lei é a regulamentação do funcionamento parlamentar do partido. Aí sim poderia haver distinções entre diferentes situações de partidos. No curso da intensa discussão havida na Câmara, conseguimos caracterizar quatro situações partidárias: a do partido que não conseguiu eleger parlamentares, mas está registrado e é livre para funcionar; aquele que elegeu entre um e quatro parlamentares, que tomam posse, mas não constituem bancada; a dos que conseguiram pelo menos 1% dos votos válidos, excluídos os brancos (nulos não são válidos) e elegeram pelo menos cinco deputados em estados diferentes; e a do partido que teve apoio expresso em mais de 5% dos votos válidos computados. De acordo com essa diferenciação, os partidos teriam maior ou menor acesso às prerrogativas regimentais do Parlamento, aos meios de comunicação e Fundo Partidário.
O que não tem cabimento é a insistência, que permanece até agora, de admitir essas quatro situações como passageiras e incluí-las na parte transitória da lei. Isto é induzir a permanência apenas de partidos grandes, o que é antidemocrático. As próprias distinções entre as quatro situações partidárias referidas devem ser entendidas como fatores para valorizar devidamente os partidos em função do apoio recebido em votos, mas não para reservar privilégios abusivos e absurdos aos grandes partidos, no acesso à TV, ao Fundo Partidário e até à possibilidade impertinente de apresentarem, sozinhos, candidatos a cargos executivos. Todas essas deformações, presentes na discussão em curso, e no texto recém aprovado na Câmara, flagram o empenho em fazer da lei orgânica um instrumento de fortalecimento dos partidos grandes e não de engrandecimento da instituição partidária no país.
A defesa da liberdade partidária, inclusive como está na Constituição, não poderá significar, por outro lado, espaços abertos para oportunistas que buscam movimentar legendas de aluguel. Acertou-se na Câmara, entre outros, o preceito que obriga os partidos a demonstrarem prévia história mínima, de participação por exemplo, em duas eleições consecutivas, antes do direito ao funcionamento parlamentar pleno. São formas que podem prevenir o registro de siglas para fins escusos.
Especial atenção deve merecer a pretensão de introduzir entre nós o chamado “voto distrital misto”, de modelo alemão. O voto distrital com variantes locais tem uma longa história no Brasil. Começa com o sistema eleitoral do Império e se estende por toda a Velha República. Foram 77 anos de sistema distrital servindo com a maior eficiência às forças oligárquicas. As minorias foram sempre aplastadas.
Quando em 1856 a oposição conseguiu eleger alguns deputados, o comentarista Soares de Souza observou ter sido “mais em vista da conciliação em vigor na época do que em decorrência dos círculos”. Foi o movimento renovador de 1930 que baniu de nossa legislação esse sistema retrógrado.
Com o intuito de reintroduzi-lo, várias tentativas foram feitas durante o registro militar até a Emenda Constitucional nº 22, de junho de 1982, patrocinada pelo general Figueiredo, estabelecendo que “os deputados federais e estaduais serão eleitos pelo sistema distrital misto, majoritário e proporcional”. Findo o regime ditatorial, sob a presidência de Ulisses Guimarães, a Câmara revogou esse entulho, em maio de 1985. A Constituinte de 1987-88 trabalhou também durante muito tempo sob essa ameaça que, porém, não prevaleceu.
“Sistema distrital elegerá os latifundiários, o vigário, tabelião e o prefeito”.
É importante acentuar que, seja a “cláusula de barreira”, sejam os diferentes tipos de voto distrital, sempre foram propostos na legislação brasileira pelos representantes do conservadorismo, sendo oportuno relacionar os projetos do voto distrital misto da época da ditadura, vindos das palavras de Tarso Dutra, Gustavo Capanema, Cantídio Sampaio, Jorge Arbage, Rubens Figueredo, José Sarney (este propôs distrital puro) e o próprio general Figueiredo. As inconveniências do distrital puro são tão evidentes que, no momento, ninguém o está pregando. Propõe-se e defende-se o sistema distrital misto. Ao observar que o eleitor, nesse sistema, poderá votar duas vezes no candidato distrital e na lista dos partidos, argumenta-se que mesmo os partidos que não consigam eleger candidatos distritais poderão receber votos nas suas listas. Isso não funciona assim nem na Alemanha, quanto mais no Brasil.
O voto no candidato distrital é voto majoritário. Elege-se o deputado federal e o estadual de um distrito como se elege um prefeito. Ganha o mais votado. É assim essa eleição, altamente polarizada, onde os centros do poder no distrito farão evidentemente prevalecer, com todos os recursos, sua força. Da mesma forma que os candidatos de origem popular, sem vínculos com fontes de poder, só excepcionalmente conseguem eleger o prefeito, também só excepcionalmente conseguiram eleger deputado, no confronto majoritário com os donos do poder. Isso assegura, de saída, quase a metade ou toda a metade das vagas em disputa para as força ligadas aos setores dominantes locais. Sobra a outra metade que seria preenchida pelos partidos que receberão os “segundos votos”, os votos nas listas. E aí surge a tentativa de empulhar os incautos com a miragem do impossível para apresentar as vantagens irreais de um projeto retrógrado.
Nas condições de uma eleição polarizada no Brasil, em que o poder econômico estará jogando tudo para eleger seu deputado único naquele distrito, o eleitor, condicionado para votar nesse candidato, inapelavelmente votará também no partido desse candidato, que na célula eleitoral está colocado ao lado do próprio nome do candidato. E assim o sistema distrital misto “elegerá”, pelo voto majoritário, os candidatos do poder local. Haverá exceções, como sempre.
Na história pregressa brasileira o fenômeno dos “currais eleitorais” esteve ligado ao predomínio do “coronelismo”. A fonte de poder no “curral eleitoral” estava ligada ao latifúndio e à sua entourage de juiz, delegado, párocos, comerciantes. O “curral” foi, durante muito tempo, a retaguarda das oligarquias mais retrógradas. O sistema distrital misto, nas condições brasileiras, promoverá o aparecimento de “currais novos”, “modernos”, para usar o linguajar da moda. Nesse “curral novo” – distrito – existirá também o tipo novo de “coronelismo” que tem, como o antigo, visão paroquial, acanhada, mas prepotência e força. Os agentes de poder dos “currais novos” são os grandes proprietários locais, de empresas agrícolas, comerciais e industriais, com sua nova entourage de gerentes de bancos, donos de meios de comunicação ou de estação retrotransmissora, funcionários importantes federais, estaduais etc.
A implantação do sistema distrital no Brasil reduzirá, e muito, o nível político do Congresso. A visão mais geral dos problemas nacionais cederá lugar ao ajuntamento das visões localizadas das díspares regiões brasileiras. O aplastamento das forças progressistas rebaixará o vigor de lutas, como o da soberania nacional, do resguardo da democracia, do avanço social, econômico e político do país. Estudiosos do assunto, como o professor Daniel Flesicher, da UnB, a quem falta talvez sensibilidade ou vivência política, incorrem em erro quando dizem “que o sistema misto tende a maximizar os benefícios do sistema de representação proporcional e distrito puro” (6). Ulisses Guimarães, a quem não faltava sensibilidade e vivência política, em debate na própria UnB afirmou: “tenho receio de que se possa daí resultar (no sistema distrital misto) uma combinação mais de defeitos do que de qualidade dos dois sistemas” (7). Foi nesse debate que Tancredo Neves, com fina ironia sentenciou: “se no Brasil um dia vier a ser implantado o distrito, não seriam mais eleitos para o Congresso Nacional os grandes vultos que imprimem diretrizes ou que apresentam uma contribuição nova para a solução dos problemas do Brasil. Mas seriam eleitos, em primeiro lugar os latifundiários, os grandes proprietários de terras; em segundo lugar, o vigário; em terceiro lugar o tabelião e, em quarto lugar, o prefeito” (8).
O sistema proporcional é o adequado quando se quer escolher não o representante da maioria, mas
os representantes das correntes políticas existentes na sociedade, na proporção de suas forças. O movimento renovador de 1930, ao introduzir o voto secreto e o voto das mulheres em nossas eleições, aboliu o sistema distrital e organizou a eleição proporcional entre nós. Esse sistema, como hoje é praticado, tem debilidades, inclusive prejudiciais aos partidos menores. Essas devem ser corrigidas, e não negado o sistema.
* Deputado federal PCdoB-BA.
NOTAS
(1) As estatísticas da época, embora questionáveis, dão conta de que Prudente de Morais, eleito presidente em 1894, sem oposição, teve 94% dos votos. Foi superado por Afonso Pena que, em 1906, conseguiu quase unanimidade, 98% dos votos (ver Estatísticas Eleitorais Brasileiras, SP, Textos IDESP, n. 34).
(2) SANTOS, Wanderley Guilherme dos. “Em favor dos nanicos”, O Globo, 13 de dezembro de 1992.
(3) Conferir “Lei Eleitoral da República Federal da Alemanha”, série “papers”, n. 2, da Fundação Konrad Adenauer, SP, 1992, p. 10.
(4) Conferir, Brasil Anos 90, Editora da Universidade do Rio Grande do Sul, organizado por Hélgio Trindade, Porto Alegre, 1992, p. 268.
(5) A legislação alemã não fala em “cláusula de barreira”. Essa expressão, assim como “cláusula de exclusão”, são contudo de uso corrente na literatura especializada. Analistas políticos comumente se referem a essa cláusula como uma “tradeoff”, junção de palavras que tem um sentido de barganha, tramóia. Em política brasileira casuísmo.
(6) FLESICHER, David. “A reforma política no Brasil”, INESC, novembro de 1992, Brasília, DF.
(7) “Modelos Alternativos de Representação Política no Brasil e Regime Eleitoral” reproduz esse importante debate realizado em 10-11-1982 com Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, coordenado pelo deputado Djalma Marinho.
(8) Idem à nota 7.
EDIÇÃO 28, FEV/MAR/ABR, 1993, PÁGINAS 6, 7, 8, 9, 10





