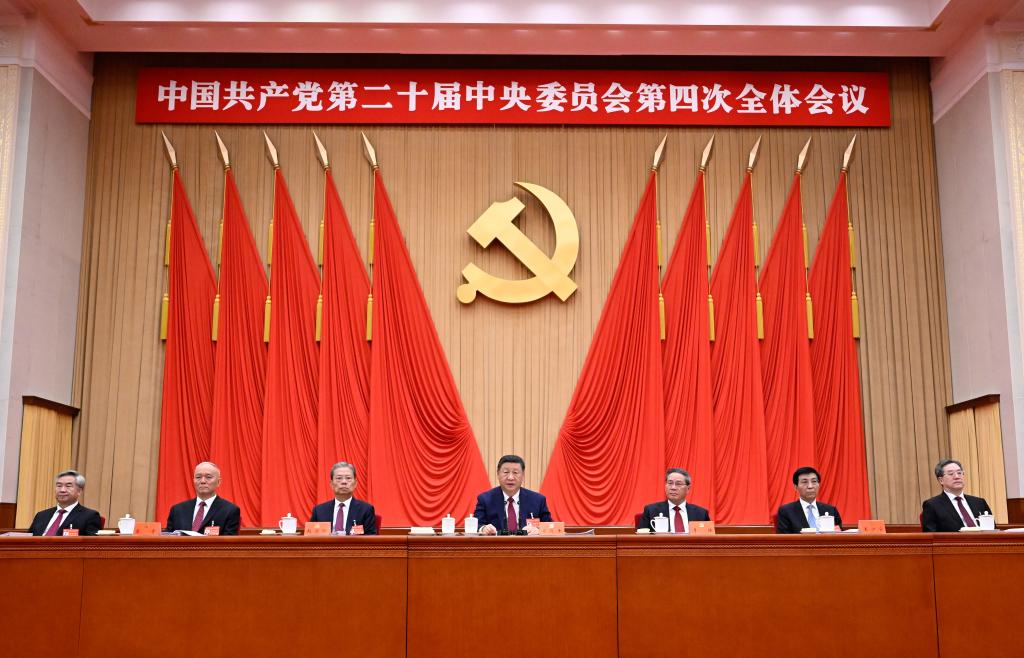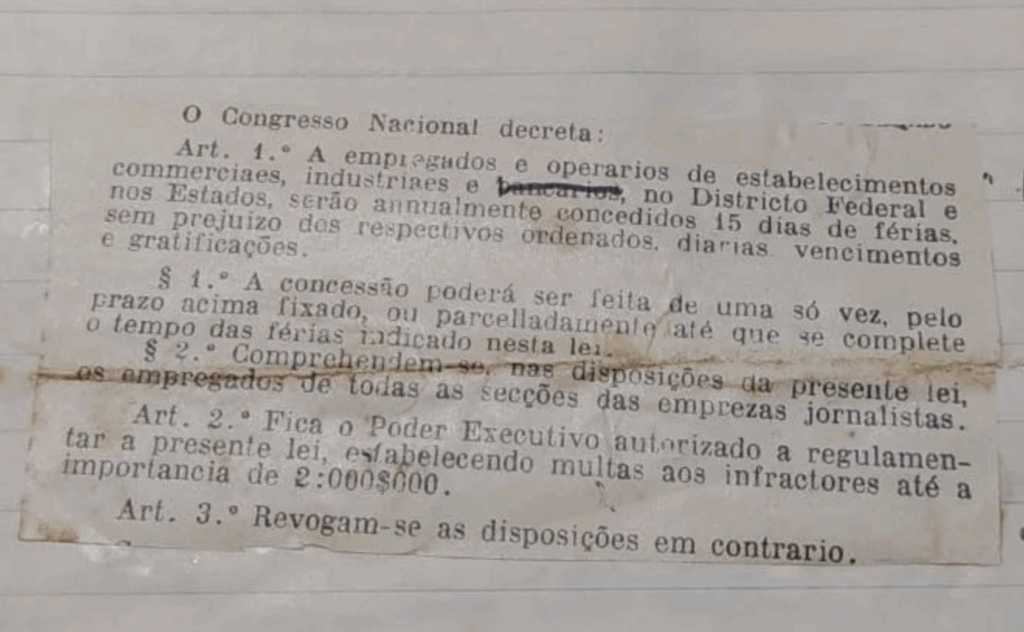É difícil encontrar um lugar na cultura brasileira moderna que não tenha sido palmilhado por Mário de Andrade, cujo centenário se comemora no dia 9 de outubro. Poeta, romancista, folclorista, etnólogo, musicista, jornalista, criador de bibliotecas (a Biblioteca Municipal de São Paulo leva seu nome justamente devido ao empenho de Mário de Andrade em sua modernização, isso lá pelos anos 1940), de conservatórios musicais, um batalhador pela democratização da cultura, ousado, que chegou mesmo a planejar (em 1929) uma Enciclopédia Brasileira, alheio às dificuldades editoriais que fatalmente tal projeto enfrentaria. Mário de Andrade foi, fundamentalmente, um lutador pela independência e autonomia da cultura brasileira.
Considerado por muitos como alma do movimento modernista de 1922, Mário de Andrade mais tarde foi um crítico das tendências cristalizadas naquele evento. Crítica que ficou registrada numa conferência pronunciada em 1942, em comemoração aos vinte anos da Semana. Ali, fala do modernismo no Brasil como “uma ruptura”, “uma revolta contra o que era a Inteligência nacional”, mas diz que “o espírito modernista e suas modas foram diretamente importados da Europa”. Lembra a origem do grupo de intelectuais e artistas, que se reuniam na casa da rua Lopes Chaves, em São Paulo (onde hoje funciona o Museu da Literatura), “onde se comia doces tradicionais brasileiros e se bebia um alcolzinho econômico”. Dali saiu a Semana, financiada pela aristocracia paulista mobilizada por Paulo Prado, ele próprio membro de uma tradicional família de São Paulo. As reuniões ganharam então os salões da elite – Paulo Prado em Higienópolis, D. Olívia Guedes Penteado na rua Duque de Caxias, a casa de Tarsila do Amaral na rua Barão de Piracicaba. “E foi da proteção destes salões que se alastrou pelo Brasil o espírito destruidor do movimento modernista”, diz ele. Um movimento que via o povo de longe, como objeto de pesquisa e inspiração, um movimento que tinha entre seus gurus o futurista italiano Marinetti, um escritor fascista.
Essa festa, como Mário de Andrade caracterizou o movimento modernista, durou todo o restante da década de 1920. Depois da Revolução de 1930, tudo mudou – as tendências ideológicas entre os intelectuais se radicalizaram. Uns tornaram-se abertamente fascistas, outros aderiram ao comunismo, outros juntaram-se ao governo Getúlio Vargas –, no esforço de ajudar a desenvolver a cultura brasileira.
Mário de Andrade foi um desses, tornou-se destacado funcionário da área cultural, tendo dirigido o Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, em 1935; foi um dos criadores do Serviço Histórico e Artístico Nacional, do Ministério da Educação e Cultura, em 1936; criou em 1937 a Sociedade de Etnografia e Folclore de São Paulo, da qual foi seu primeiro presidente, entidade que fez, pela primeira vez na América, estudos de cartografia folclórica; organizou o Congresso da Língua Nacional Cantada, que fixou a pronúncia padrão usada pelo teatro dramático e pelo canto no Brasil; foi diretor do Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal, em 1938; foi diretor do Instituto do Livro, em 1939, e sócio-fundador da Sociedade dos Escritores Brasileiros.
A defesa da cultura nacional e de sua democratização foi a principal marca da atividade de Mário de Andrade nesses cargos. Foi por sua iniciativa, por exemplo, que se construíram em São Paulo as primeiras casas de Cultura Proletária.
O texto que publicamos a seguir revela essa inquietação e registra a crítica de Mário de Andrade ao movimento modernista de 1922. Trata-se de alguns trechos da conferência de 1942, publicada originalmente na Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, janeiro de 1946, volume IV (edição em homenagem a Mário de Andrade), e republicada em Mário de Andrade. Hoje, organizado por Carlos E. O. Berriel, editora Ensaio, São Paulo, 1990. Ele revela preocupações extremamente atuais.
José Carlos Ruy “O espírito modernista reconheceu que si viviamos já de nossa realidade brasileira, carecia reverificar nosso instrumento de trabalho para que nos expressássemos com identidade. Inventou-se do dia prá noite a fabulosissima “lingua brasileira”. Mas ainda era cedo; e a força dos elementos contrários, principalmente a ausência de órgãos científicos adequados, reduziu tudo a manifestações individuais. E hoje, como normalidade de língua culta e escrita, estamos em situação inferior à de cem anos atrás. A ignorância pessoal de vários fez com que se anunciassem em suas primeiras obras, como padrões excelentes de brasileirismo estilístico. Era ainda o mesmo caso dos românticos: não se tratava duma superação da lei portuga, mas duma ignorância dela. Mas assim que alguns desses prosadores se firmaram pelo valor pessoal admirável que possuiam (me refiro à geração de 30), principiaram as veleidades de escrever certinho. E é cômico observar que, hoje, em alguns dos nossos mais fortes estilistas surgem a cada passo, dentro duma expressão já intensamente brasileira, lusitanismos sintáxicos ridículos. Tão ridículos que se tornam verdadeiros erros de gramática! Noutros, esse reaportuguesamento expressional ainda é mais precário: querem ser lidos alem-mar, e surgiu o problema econômico de serem comprados em Portugal: enquanto isso, a melhor intelectualidade lusa, numa liberdade esplêndida, aceitava abertamente os mais exagerados de nós, compreensiva, sadia, mão na mão.
Teve também os que, desaconselhados pela preguiça, resolveram se despreocupar do problema… São os que empregam anglicismos e galicismos dos mais abusivos, mas que repudiam qualquer ‘me parece’ por artificial! Outros, mais cômicos ainda, dividiram o problema em dois: nos seus textos escrevem gramaticalmente, mas permitem que seus personagens, falando, ‘errem’ o português.
Assim, a… culpa não é do escritor, é dos personagens! Ora, não há solução mais incongruente em sua aparência conciliatória. Não só põe em foco o problema do erro de português, como estabelece um divórcio inapelável entre a língua falada e a língua escrita – bobagem bêbada pra quem souber um naco de filologia. E tem ainda as garças brancas do individualismo que, embora reconhecendo a legitimidade da língua nacional, se recusam a colocar brasileiramente um pronome, pra não ficarem parecendo com Fulano! Estes ensimesmados esquecem que o problema é coletivo e que, si adotado por muitos, muitos ficavam se parecendo com o Brasil! (…)
Não tenho a mínima reserva em afirmar que toda a minha obra representa uma dedicação feliz a problemas do meu tempo e minha terra. Ajudei coisas, maquinei coisas, fiz coisas, muita coisa! E no entanto me sobra agora a sentença de que fiz muito pouco, porque todos os meus feitos derivaram duma ilusão vasta. E eu que sempre me pensei, me senti mesmo, sadiamente banhado de amor humano, chego no declínio da vida à convicção de que faltou humanidade em mim. Meu aristocratismo me puniu. Minhas intenções me enganaram.
Quando muito fiz de longe umas caretas para a máscara do tempo, o que não me satisfaz Vítima do meu individualismo, procuro em vão nas minhas obras, e também nas de muitos companheiros, uma paixão mais temporânea, uma dor mais viril da vida. Não tem. Tem mais é uma antiquada ausência de realidade em muitos de nós. Estou repisando o que já disse a um moço… E outra coisa sinão o respeito que tenho pelo destino dos mais novos se fazendo, não me levaria a esta confissão bastante cruel, de perceber em quase toda a minha obra a insuficiência do abstencionismo. Francos, dirigidos, muitos de nós demos às nossas obras uma caducidade de combate. Estava certo, em princípio. O engano é que nos pusemos combatendo lençois superficiais de fantasmas. Deveríamos ter inundado a caducidade utilitária do nosso discurso, de maior angústia do tempo, de maior revolta contra a vida como está. Em vez: fomos quebrar vidros de janelas, discutir modas de passeio, ou cutucar os valores eternos, ou saciar nossa curiosidade na cultura. E si agora percorro a minha obra já numerosa e que representa uma vida trabalhada, não me vejo uma só vez pegar a máscara do tempo e esbofeteá-la como ela merece. Quando muito lhe fiz de longe umas caretas. Mas isto, a mim, não me satisfaz.
Não me imagino político de ação. Mas nós estamos vivendo uma idade política do homem, e a isso eu tinha que servir. Mas em síntese, eu só me percebo, feito um Amador Bueno qualquer, falando ‘não quero’ e me isentando da atualidade por detrás das portas contemplativas de um convento. Também não me desejaria escrevendo páginas explosivas, brigando a pau por ideologias e ganhando louros faceis de um xilindró. Tudo isso não sou eu nem é pra mim. Mas estou convencido de que devíamos ter nos transformado de especulativos em especuladores. Há sempre jeito de escorregar num ângulo de visão, numa escolha de valores, no embaçado duma lágrima que avolumem ainda mais o insuportável das condições atuais do mundo. Não. Virâmos abstencionistas abstêmios e transcendente (1). Mas por isso mesmo que fui sinceríssimo, que desejei ser fecundo e joguei lealmente com todas as minhas cartas à vista, alcanço agora esta consciência de que fomos bastante inatuais. Vaidade, tudo vaidade…
Tudo o que fizemos… Tudo o que eu fiz foi especialmente uma cilada da minha felicidade pessoal e da festa em que vivemos. É aliás o que, com decepção açucarada, nos explica historicamente. Nós éramos os filhos finais de uma civilização que se acabou, e é sabido que o cultivo delirante do prazer individual represa as fôrças dos homens sempre que uma idade morre. E já mostrei que o movimento modernista foi destruidor. Muitos porém ultrapassâmos essa fase destruidora, não nos deixamos ficar no seu espírito e igualâmos nosso passo, embora um bocado turtuveante, ao das gerações mais novas. Mas apesar das sinceras intenções boas que dirigiram a minha obra e a deformaram muito, na verdade, será que não terei passeado apenas, me iludindo de existir?… É certo que eu me sentia responsabilizado pelas fraquezas e as desgraças dos homens. É certo que pretendi regar minha obra de orvalhos mais generosos, suja-la nas impurezas da dôr, sair do limbo ‘netrista ne lieta’ da minha felicidade pessoal. Mas pelo próprio exercício da felicidade, mas pela própria altivez sensualíssima do individualismo, não me era mais possível renegá-los como um êrro, embora eu chegue um pouco tarde à convicção da sua mesquinhez.
“Abandonei, traição consciente, a ficção em favor de estudo que não sou”
A única observação que pode trazer alguma complacência para o que eu fui, é que eu estava enganado. Julgava sinceramente cuidar mais da vida que de mim. Deformei, ninguém não imagina quanto; a minha obra – o que não dizer que si não fizesse isso, ela fosse milhor… Abandonei, traição consciente, a ficção em favor de um homem-de-estudo que fundamentalmente não sou. Mas é que eu decidira impregnar tudo quanto fazia de um valor utilitário, um valor prático da vida, que fosse alguma coisa mais terrestre que ficção, prazer estético, a beleza divina.
Mas eis que chego a êste paradoxo irrespirável: Tendo deformado toda a minha obra por um anti-individualismo dirigido e voluntarioso, toda a minha obra não é mais que um hiperindividualismo implacável! E é melancólico chegar assim ao crepúsculo, sem contar com a solidariedade de si mesmo. Eu não posso estar satisfeito de mim. O meu passado não é mais meu companheiro. Eu desconfio do meu passado.
Mudar? Acrescentar? Mas como esquecer que estou na rampa dos cincoenta anos e que os meus gestos agora já são todos… memórias musculares?… Ex omnibus bonis quae bomini tribuit natura, nullum melius esse tempestiva morte… O terrível é que talvez ainda nos seja mais acertada a discrição, a virarmos por ai cacoeteiros de atualidade, macaqueando as atuais aparências do mundo. Aparências que levarão o homem por certo a maior perfeição de sua vida. Me recuso a imaginar na inutilidade das tragédias contemporâneas. O Homo Imbecilis acabará entregando os pontos à grandeza do seu destino.
Eu creio que os modernistas da Semana de Arte Moderna não devemos servir de exemplo a ninguém. Mas podemos servir de lição. O homem atravessa uma fase integralmente política da humanidade. Nunca jamais ele foi tão ‘momentâneo’ como agora. Os abstencionismos e os valores eternos podem ficar pra depois (2). E apesar da nossa atualidade, da nossa nacionalidade, da nossa universalidade, uma coisa não ajudâmos verdadeiramente, duma coisa não participâmos: o amilhoramento político-social do homem. E esta é a essência mesma da nossa idade.
Si de alguma coisa pode valer o meu desgôsto, a insatisfação que eu me causo, que os outros não sentem assim na beira do caminho, espiando a multidão passar. Façam ou se recusem a fazer arte, ciência, ofícios. Mas não fiquem apenas nisso, espiões da vida, camuflados em técnicos de vida, espiando a multidão passar. Marchem com as multidões.
Aos espiões nunca foi necessária essa ‘liberdade’ pela qual tanto se grita. Nos períodos de maior escravização do indivíduo, Grécia, Egito, artes e ciências não deixaram de florescer. Será que a liberdade é uma bobagem?… Será que o direito é uma bobagem!… A vida humana é que é alguma coisa a mais que ciências, artes e profissões. E é nessa vida que a liberdade tem um sentido, e o direito dos homens. A liberdade não é um prêmio, é uma sanção. Que ha-de vir”.
Mário de Andrade
Notas do autor:
(1) “Uns verdadeiros inconscientes”, como já falei uma vez…
(2) Sei que é impossível ao homem, nem ele deve abandonar os valores eternos, amor, amizade, Deus, a natureza. Quero exatamente dizer que numa idade humana como a que vivemos, cuidar dêsses valores apenas e se refugiar neles em livros de ficção e mesmo de técnica, é um abstencionismo deshonesto e deshonroso como qualquer outro. Uma covardia como qualquer outra. De resto, a forma política da sociedade é um valor eterno também.
EDIÇÃO 31, NOV/DEZ/JAN, 1993-1994, PÁGINAS 70, 71, 72