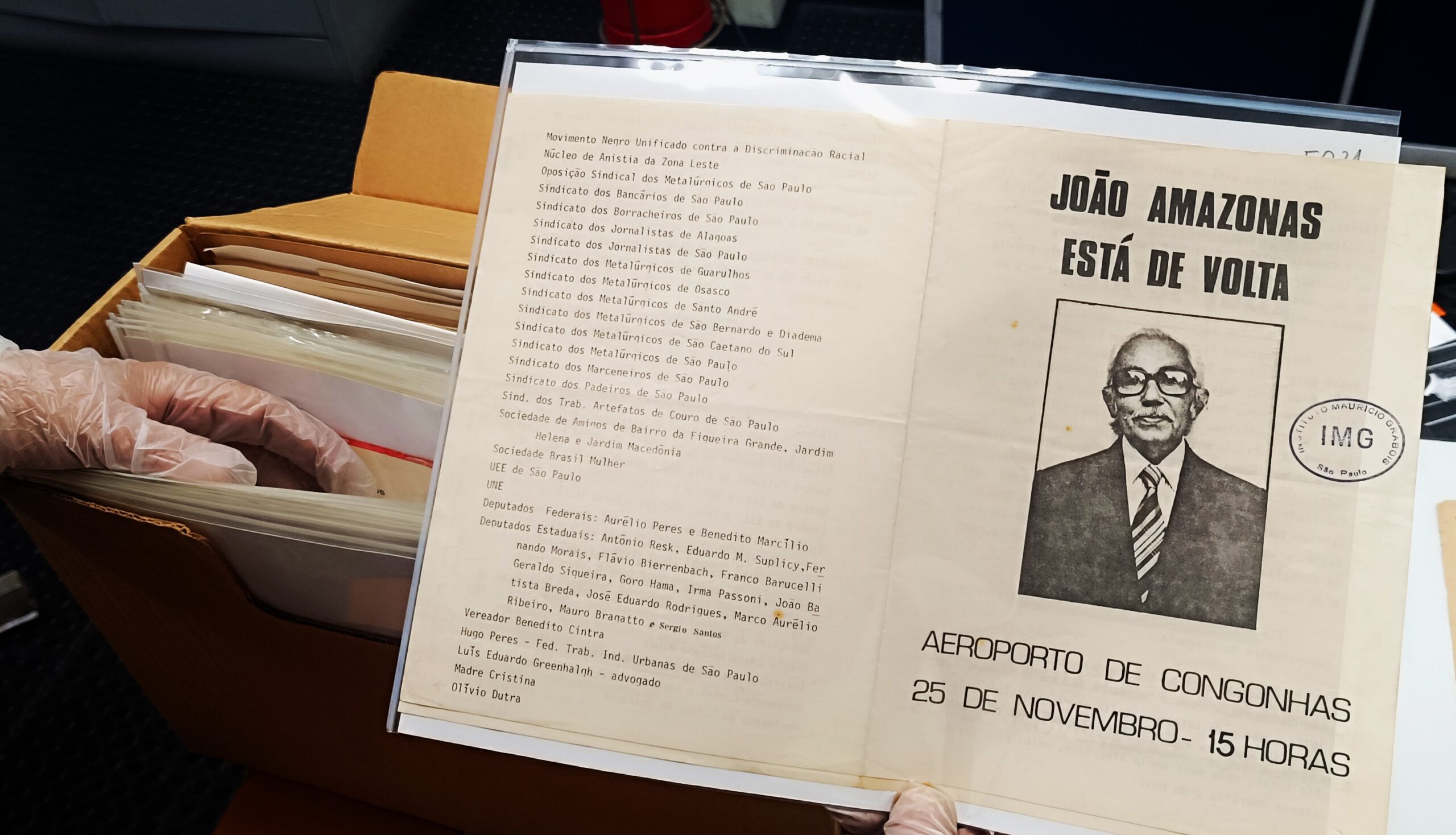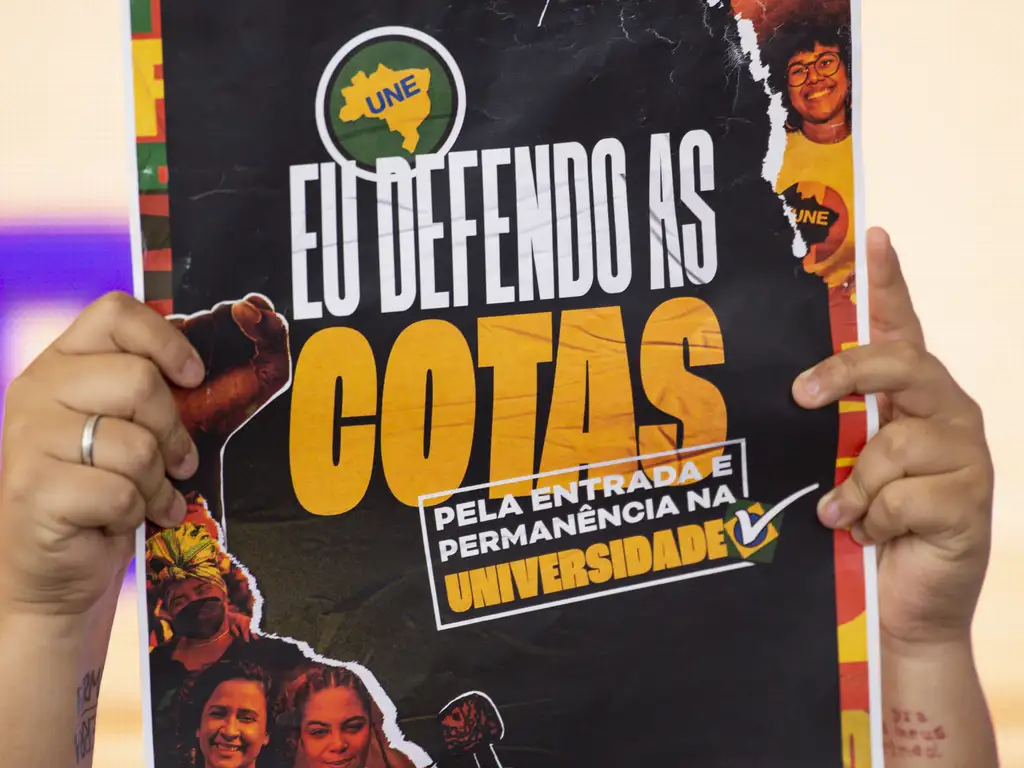O plano de estabilização econômica do ministro Fernando Henrique Cardoso (plano FHC), cuja segunda etapa iniciou-se no começo de março passado com a introdução da Unidade Real de Valor (URV), não é absolutamente um plano neutro em relação aos interesses do país face aos credores externos, nem em relação aos setores assalariados face aos grandes monopólios. O plano, como a fase anterior do chamado “ajuste fiscal” já deixava entrever, representa o mesmo projeto de ajuste da economia brasileira ao desenho da nova ordem mundial, ajuste que o capital financeiro internacional, particularmente o norte-americano, vem tentando impor ao Brasil desde 1982, quando estourou a crise da dívida externa.
“O plano FHC faz o mesmo diagnóstico e propõe as mesmas soluções do modelo neoliberal de Collor”.
Dos países capitalistas periféricos hegemonizados pelos EUA, o Brasil é um dos poucos que ainda não se enquadrou plenamente, o que já ocorreu, por exemplo, com México, Chile e Argentina. Isso se deve a um conjunto de fatores, entre os quais pode-se citar a complexa situação política interna, a dificuldade de as elites dominantes chegarem a um consenso (o que o ministro Fernando Henrique parece estar, finalmente, conseguindo) e a resistência da oposição de extração democrático-popular e nacionalista (ver quadro 1 na página 24).
O plano FHC faz o mesmo diagnóstico e propõe as mesmas soluções que o governo Collor procurava adotar, diferenciando-se apenas quanto à forma de implementação do receituário neoliberal ao país, podendo, por isso, ser chamado de “via tucana” do ajuste. O plano tem como referência cronológica básica o dia 15 de abril, estabelecido, ainda no governo Collor, entre o ministro Marcílio Marques Moreira e o comitê dos bancos credores, como data-limite para se chegar a um acordo geral sobre a dívida externa. Antes desse acerto com os credores privados, Marcílio havia feito um novo acordo com o FMI. Na ocasião (fins de 1991), segundo o jornal Gazeta Mercantil, o ministro Marcílio “fez um paralelo com os acordos anteriores, dizendo que havia uma diferença, pois o acordo envolvia um ajuste fiscal respaldado em reformas estruturais profundas” (1).
A receita completa deste “ajuste fiscal” e destas “reformas estruturais profundas”, que visam, em primeiro lugar, a garantir a segurança dos pagamentos internacionais a serem feitos pelo país, inclui grandes modificações na configuração do Estado brasileiro, inclusive a privatização das estatais; passa pela chamada reforma fiscal e monetária, pela reforma tributária e da previdência social, pelo fim do monopólio estatal na área do petróleo e das telecomunicações e pela total liberalização do mercado brasileiro – tudo isso para ampliar consideravelmente as possibilidades de super-acumulação capitalista dos grupos monopolistas internacionais e nacionais e reduzir, ao mínimo, a parcela do excedente a ser apropriado pelo aparelho do Estado, tanto para seu custeio como para financiar programas sociais. Por isso, é fundamental para seus defensores a realização da revisão constitucional, no sentido de remover, da atual Constituição, todos os dispositivos que impedem ou dificultam o ajuste.
A grande novidade da segunda fase do plano de estabilização do ministro Fernando Henrique Cardoso é a introdução da Unidade Real de Valor como indexador geral da economia, obrigatório para os salários (convertidos compulsoriamente pela média dos valores recebidos nos quatro últimos meses) e facultativo para os demais preços. A URV é uma espécie de prévia para a chegada do real, moeda, segundo o ministro, forte e estável, lastreada sobretudo nas reservas internacionais do país. O plano está concebido para adotar a nova moeda, fortemente atrelada ao dólar, depois de atendidas, pelo menos, duas condições: primeira, a eliminação do déficit público e o estabelecimento até mesmo de um excesso de arrecadação, o que teria sido conseguido com o “ajuste fiscal”, praticado pela equipe do ministro, sobre o orçamento de 1994 e com a promulgação da emenda constitucional que criou o Fundo Social de Emergência (FSE); segunda, após isso, com a eliminação da chamada “inflação inercial”, ou seja, a alimentação da inflação presente pela “memória” da inflação passada, o que seria conseguido com a introdução da URV. Assim, quando todos os preços estiverem indexados à URV e alinhados entre si, ficará mais fácil passar à terceira fase do plano: a criação do real.
Não vamos discutir aqui um dos pontos essenciais do plano FHC, ou seja, a idéia de que a causa básica da inflação no Brasil são os gastos do governo e que esses geram o chamado déficit primário (2). Está posição desconsidera que o grande problema do setor público é o déficit operacional provocado pelo gigantesco serviço da dívida pública e não apresenta explicações convincentes sobre a situação dos países capitalistas centrais, todos com elevados déficits públicos e com taxas anuais de inflação muito baixas (3).
“Simonsen: “A MP 434 não só disfarça a dolarização como a situa em cima do muro, bem ao gosto tucano”.
Um primeiro aspecto a se considerar nessa nova etapa do Plano FHC é que ele avança no sentido da completa dolarização da economia brasileira. Na exposição de motivos que acompanhou a decretação da URV, está escrito: “A terceira etapa do programa de reforma monetária iniciar-se-á com a primeira emissão do real. O real será uma moeda lastreada nas reservas internacionais e também no patrimônio da União”. E, mais adiante: “Esta emissão inicial, bem como todas as outras que lhe seguirem serão sempre feitas mediante consignação, na mesma data e em valor igual ou superior, de reservas internacionais e ações de companhias estatais dotadas de liquidez imediata nos mercados internacionais” (4). Alguns analistas consideraram que o governo estava evitando a plena dolarização e a imposição de uma taxa de câmbio fixa, como ocorreu na Argentina com o plano Cavallo, que proibiu no artigo 6º da medida provisória n. 434, qualquer contrato com indexação vinculada à variação cambial e vinculou a variação mensal da URV à média aritmética de três índices de preços, calculados por três diferentes instituições; índice de preços ao consumidor (IPC), da FIPE; índice nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA-E), do IBGE; e índice geral de preços do mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas.
O que se deve considerar, no entanto, é que a concepção e o rumo do plano apontam para a plena dolarização, mas feita “à moda tucana”, como observou o ex-ministro e teórico tupiniquim do capital financeiro, Mário Henrique Simonsen. Para ele, “obviamente, o sucesso do plano de estabilização depende da possibilidade de manter uma taxa de câmbio fixa”. E acrescentou: “o país deve operar como se estivesse no padrão-ouro, não emitindo um centavo para financiar o setor público” (5). Simonsen diz que a “MP 434 não apenas disfarça a dolarização, mas a situa em cima do muro, bem ao gosto tucano”, isto porque “a idéia de que o governo adotará uma paridade fixa entre o real e o dólar é uma presunção lógica, mas não amparada na MP 434. A decisão competirá ao Conselho Monetário Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 5º. Conclusão final de Simonsen: para que os “agentes econômicos” (leia-se grandes bancos e monopólios que controlam a economia e fixam os preços) se convençam de que haverá estabilidade, “é preciso exigir que a emissão da moeda seja lastreada em reservas cambiais”.
Quando se diz que o plano FHC aprofunda a dependência do país ao capital financeiro internacional, deve-se levar em conta que, em certa medida, a economia brasileira já é bastante “dolarizada”. É o dólar que comanda as cotações de grande parte dos produtos que o país exporta e importa; a maior parte da dívida externa brasileira foi contraída em dólar e está em mãos de bancos norte-americanos; e a América Latina é a “zona de influência” mais tradicional do imperialismo norte-americano. No entanto, os ajustes atuais estão ultrapassando esses limites.
Se o Brasil passar a lastrear sua moeda em divisas internacionais (que são sobretudo em dólares) e não no conjunto de bens e serviços disponíveis em sua economia, se renunciar à utilização de sua moeda de forma soberana e aceitar regras rígidas de emissão vinculadas às reservas em dólar e se aceitar que sua principal autoridade monetária, o Banco Central, administre a moeda de forma descolada dos interesses nacionais (e, no fundo, é isso que quer o capital financeiro ao exigir um Banco Central “independente”), estará dando mais um passo em direção ao ajuste global e diminuindo mais ainda sua soberania. Estará também facilitando extremamente os interesses do país emissor de dólares, os EUA, que praticam sua política monetária segundo seus próprios critérios. Como diz Suzanne de Brunhoff, o poder do Estado mais poderoso do mundo foi reforçado pela utilização da “senhoriagem”, privilégio exercido pela nação cuja moeda serve de unidade de cálculo e de meio de pagamento internacional. Segundo Brunhoff, os EUA, “podendo financiar o déficit de sua balança de pagamentos com sua própria moeda, sem liquidar seus ativos no exterior, aproveitaram-se disso para conseguir direitos sobre os recursos de outros países, sem realmente pagá-los” (6). Com a dolarização plena o Estado brasileiro terá renunciado à sua própria senhoriagem e transferido a esse direito de forma plena e cabal, para o governo norte-americano.
“Abrindo-mão da soberania monetária e cambial, o Brasil ajuda os EUA a resolverem sua crise”.
Outro efeito negativo da dolarização plena recai sobre o comércio exterior. Se o Brasil adotar uma taxa fixa de câmbio entre o real e o dólar (por exemplo, um real igual a um dólar), poderá ocorrer uma sobrevalorização cambial, ficando os produtos brasileiros caros e os importados baratos, sem que a situação possa ser contornada, porque a política cambial estará engessada. Aliás, atualmente, em sua monumental disputa comercial com o Japão, exatamente devido ao crescente déficit comercial com aquele país, que passou de US$ 41 bilhões, em 1990, para US$ 59 bilhões, em 1993, os EUA têm forçado a desvalorização do dólar face ao iene como principal arma para tentar reverter essa situação.
No mesmo período (1990-93), a relação iene/dólar caiu de 150 para 104 (ou seja, os produtos norte-americanos ficaram mais baratos em relação ao iene: antes, com 150 ienes se obtinha 1 dólar e, agora, compra-se o mesmo dólar com 104 ienes) (7). Dolarizando sua economia e renunciando a uma política monetária cambial própria, o Brasil também estará “contribuindo” para resolver a crise dos Estados Unidos. Nesse sentido, os ajustes que caminham nessa direção, como o plano FHC, constituem uma nova versão do antigo colonialismo. E essa é a avaliação de Roberto Mangabeira Unger, professor da Universidade de Harvard. Diz ele: “O real é o dólar. Vincular a moeda nacional ao dólar – diretamente como na Argentina, ou indiretamente, como no México é embutir o colonialismo na moeda e aceitar a sobrevalorização cambial. Cria-se pouco a pouco uma situação em que manter o câmbio significa estrangular a capacidade exportadora, subsidiar o consumo privilegiado e agradar aos investidores nacionais e estrangeiros” (8).
Outro grande eixo a se considerar no plano FHC foi a maneira com que ele tratou salários e demais preços, na busca do famoso “alinhamento” dos preços relativos antes da introdução do real. Como se sabe, o plano decretou a conversão dos salários, a partir de março, pela média dos valores recebidos nos quatro meses anteriores e deixou os demais preços flutuando, situação que perdurava até o final de março, quando este artigo foi concluído. É necessário lembrar que quando Fernando Henrique Cardoso assumiu o Ministério da Fazenda, em junho de 1993, a inflação mensal andava pela casa dos 25% e, quando o plano foi anunciado atingia um nível mensal de 40%. Os salários estavam, portanto, pressionados por uma inflação ascendente. A política salarial vigente estava corrigindo os salários correspondentes a até seis mínimos de dois em dois meses, aplicando o redutor de 10% (resumidamente, aplicava-se o IRSM, Índice de Reajuste do Salário-Mínimo, menos de 10%), sendo que, para esta faixa, havia a reposição das perdas de quatro em quatro meses. Ora, num processo de inflação ascendente, com uma defasagem do índice de reajuste de cerca de 45 dias, mesmo as categorias com maior poder de barganha, que conseguiam aplicar o reajuste pleno, estavam perdendo, porque repunham a inflação passada, digamos de 30% ao mês, mas a inflação passada (mais próxima do presente) já era de 35%; em seguida conseguiam repor 35%, mas a inflação já pulara para 40%. Se mesmo estas categoria estavam perdendo, imagine-se então a situação para aquelas que seguiam a política oficial, do chamado redutor.
Estas, também num exemplo resumido, conseguiam repor 20% (30% menos o redutor de 10%) quando a inflação já era 35%! Vinham, portanto, num processo de perdas aceleradas. O plano, ao adotar o critério da média do salário efetivo obtido nos quatro meses anteriores, sacramentou estas perdas, ou seja, operou a transformação dos salários em URV a partir de um índice comprimido. As perdas foram bastante diferenciadas, variando de categoria para categoria, em função do acordo salarial vigente para cada uma e da sua data-base. As que mais perderam foram aquelas que se submetiam à política salarial oficial e que, no momento da transformação, estavam mais distantes da data-base anual. Em função dessas diferenças significativas, o movimento sindical teve dificuldade de articular uma resistência maior e se mobilizar.
“De média em média o salário perde com os planos: o pico de hoje foi o média de ontem”.
No entanto, as perdas salariais no decorrer da década foram muito grandes, como mostra o quadro 2 (ver página 25). Por volta de 1980, os salários representavam 50% da renda interna urbana do país, caindo para 38% em 1988 (uma queda de 24% neste curto período, o dobro da verificada entre 1949 e 1980). Pode-se deduzir que esta enorme queda da participação relativa da massa salarial na renda ao longo dos anos 1980 tenha sido provocada por uma combinação de recessão, inflação desenfreada e mudança do perfil tecnológico das empresas, que passaram a empregar cada vez menos trabalhadores. E também pela imposição de planos como o FHC, que comprimem os salários a partir da “média”, sendo que o “pico” de hoje foi a “média” de ontem. De plano em plano, de “média” em “média”, usando uma lógica que sempre joga contra os trabalhadores, vai-se conseguindo achatar os salários. Por outro lado, vê-se que, no período 1980-88, cresceu enormemente a participação relativa dos juros e lucros na renda, que passou de 50% para 62%, também como resultado inexorável desse processo.
O método utilizado pelo plano para conseguir o alinhamento dos demais preços foi o de deixá-los flutuar em URV. E aí, obviamente, funcionou a lei do mais forte em cada setor da economia e em suas diversas interligações. Numa economia fortemente monopolizada, como a brasileira, onde cada setor de peso é dominado por poucas empresas e o crédito é controlado por um punhado de grandes bancos, o plano FHC alinhou-se descaradamente ao lado dos monopólios e do setor financeiro, deixando “o mercado” acertar os critérios de conversão dos preços em URV. A única ameaça concreta feita pelo governo foi a de baixar a alíquota de importação dos produtos que apresentassem inflação em URV, como no caso de certos produtos farmacêuticos. Apesar da grande margem de folga com que os monopólios estavam operando – pois tomaram fôlego durante todo o ano de 1993, elevando seus preços muito acima da inflação, aproveitando o imobilismo do governo Itamar e da complacência do ministro Fernando Henrique – o problema da inflação em URV já era uma hipótese concreta. Setores oficiais já admitiam que, caso o real fosse adotado em julho próximo, haveria uma inflação na nova moeda, que poderia chegar a 15% até o final do ano (9). Nessa hipótese, os assalariados serão novamente prejudicados, porque o governo se recusou a aprovar um “gatilho salarial” que seria acionado toda vez que a inflação em URV (ou em real) atingisse 5%, sob a alegação de que não haveria inflação.
Cumprida a agenda interna, com o ajuste fiscal, a introdução da URV, o enquadramento dos salários e o anúncio da dolarização com a breve entrada em cena do real, o ministro Fernando Henrique se abalou para Washington, a fim de receber a aprovação do FMI. A agenda externa estava prevista para ocorrer do seguinte modo: o FMI aprovaria o plano do ministro, inclusive os números de sua equipe sobre o controle do déficit público, além da política monetária e cambial, e fecharia com o Brasil um empréstimo stand by (empréstimo de emergência) de US$ 1 bilhão; com base neste acordo, o governo norte-americano faria a emissão dos títulos especias – denominados de zero coupons bonds –, no valor aproximado de US$ 3 bilhões, que o Brasil compraria e que seriam apresentados como garantia inicial aos bancos privados credores do país (detentores de uma dívida de US$ 52 bilhões), para fechar o acordo de renegociação da dívida externa, a ser escalonada num prazo de trinta anos, conforme o pacote anteriormente acertado pelo ministro Marcílio Marques Moreira, durante o governo Collor; finalmente, em 15 de abril, os bancos credores selariam o acordo, recebendo os títulos do Tesouro dos EUA adquiridos pelo Brasil e aderindo a diversas outras formas de renegociação da dívida.
O ministro se esforçou para cumprir o figurino, mas o FMI deu uma esfriada e não aprovou o empréstimo stand by de US$ 1 bilhão. Na verdade, o Fundo sinalizou sua simpatia pelo plano FHC, pela revisão constitucional e pelo programa de privatização, mas deu a entender que precisava de garantias mais concretas, pois desde a crise de 1982 já fizera com o país cerca de dez acordos, e nenhum fora cumprido integralmente. Tudo indica que o Fundo irá aguardar até que se complete a reforma monetária, com a chegada do real e a definição clara das regras que irão comandar sua emissão. Por isso, não deu seu aval total ao plano. E sem o aval do FMI, o Tesouro norte-americano não fez a emissão especial dos zero coupons bonds para o Brasil. No final, a operação toda acabou ficando muito mais cara para o país, pois o governo brasileiro resolveu bancar sozinho a compra dos US$ 2,8 bilhões em títulos do governo norte-americano no chamado mercado secundário. Sacou este dinheiro das reservas internacionais do país para fechar o acordo com os bancos privados, que “aprovaram” a operação mesmo sem ter saído o acordo com o FMI, o que foi comemorado com grande barulho pela imprensa brasileira.
Por que estes bancos não deveriam aceitar a oferta do ministro FHC? Para eles, afinal, a situação vem se arrastando desde 1982, o Brasil tem sido um país bastante incerto, que chegou até a suspender mais de uma vez seus pagamentos internacionais, e está, agora, às vésperas de uma eleição presidencial, com o candidato Lula liderando as pesquisas. Nessa situação, o país desembolsa sozinho quase US$ 3 bilhões em títulos fortes e oferece estes títulos aos credores, como garantia inicial do acordo de renegociação da dívida externa. Para os credores, isso é ótimo: se Lula for eleito e não cumprir os termos do acordo, será ele que estará desrespeitando um acordo internacional, e o problema será dele e não dos bancos que, de qualquer modo, terão lucrado com a troca que fizeram, pois o país não irá mais recuperar estes US$ 3 bilhões. Por outro lado, se o ministro Fernando Henrique for o vitorioso nas eleições, a expectativa destes bancos é de que ele cumpra o acordo no qual teve participação tão vital. Assim, para o país, nada há a comemorar, pois o Brasil acaba de assumir um pesado encargo anual pelo serviço da dívida externa em poder dos grandes bancos internacionais (sobretudo norte-americanos), por um prazo de trinta anos. É mais um obstáculo gravíssimo ao seu desenvolvimento autônomo e voltado para as necessidades de seu povo.
“A vitória de FHC na eleição de outubro será uma derrota para o país e para o povo”.
A consequência política mais notável do plano FHC foi a de transformar o ministro Fernando Henrique num pólo de aglutinação da reação e do conservadorismo, com o lançamento de seu nome como candidato à presidência da República, numa provável coligação PSDB/PFL. O capital monopolista internacional e nacional parece ter finalmente conseguido encontrar a tão buscada candidatura anti-Lula, contando com um nome não tão pesado (como Maluf) para tentar viabilizar eleitoralmente seu projeto e dar sequência ao ajuste. Nestas circunstâncias, a vitória de Fernando Henrique nas eleições presidenciais deste ano representará uma enorme derrota das forças que buscam defender os interesses do Brasil e de seu povo. Por outro lado, frustraram-se completamente as expectativas (melhor seria dizer “ilusões”) de setores da oposição democrática que acreditavam numa composição com o PSDB em apoio à candidatura Lula. De certo modo, o plano FHC e a candidatura Fernando Henrique ajudaram a limpar o cenário político, a partir da definição clara da cúpula do PSDB de se colocar à frente do projeto conservador. Neste contexto, cabe aos setores democráticos e populares consequentes intensificar os esforços para se unir em torno de um projeto alternativo, representado, na batalha eleitoral que se aproxima, pela candidatura Lula. Um projeto que englobe o campo popular, democrático e nacional e demarque com a reação, a direita e o entreguismo. Um projeto que critique as propostas neoliberais, como o plano FHC, e apresente a perspectiva não de destruição do Estado nacional, mas de sua democratização (incluindo o controle social das estatais), do enfrentamento do poder dos monopólios e do capital financeiro, além do problema das dívidas interna e externa. Um projeto que busque uma nova articulação de forças no terreno internacional, capaz de evitar o isolamento do país e que sirva de alternativa às propostas da “nova ordem” comandada pelos EUA.
* Economista e jornalista, foi editor de economia dos semanários Opinião e Movimento e membro do Conselho Federal de Economia de 1987 a 1989.
Notas
(1) PRADO, Maria Clara R. M. do. “Brasil já apresentou dez cartas de intenção ao FMI, que nunca foram cumpridas”, Gazeta Mercantil, 18-03-1994.
(2) Em 1993, segundo o Banco Central, o setor público fechou com um superávit primário de 2,7% do PIB e com déficit operacional de 0,9% do PIB. Ver Boletim do Banco Central, março de 1994.
(3) Para uma visão sobre o problema do déficit público e da inflação, ver o artigo de MORAIS, Lécio. “FHC e a hiperinflação para assalariados”, revista Princípios, n. 32, São Paulo, Anita Garibaldi, 1994.
(4) Esta “Exposição de Motivos” foi publicada pela Folha de S. Paulo, São Paulo, 02-03-1994.
(5) SIMONSEN, Mário Henrique. “Desta vez, existe a âncora do bom senso”, revista Exame, São Paulo, 16-03-1994. Todas as citações de Simonsen, feitas até aqui, são deste artigo. Em artigo posterior, ele sugere que, para evitar os incômodos de uma taxa de câmbio rígida, como ocorreu na Argentina, o governo adote para o real a taxa de câmbio por sistema de bandas. Assim, por exemplo, 1 real seria lastreado rigorosamente por um dólar, mas se admitiria uma oscilação de 15% na taxa de câmbio, para mais ou para menos, e o mercado fixaria a taxa entre 0,85 e 1,15 real. Seria uma mistura de dolarização com o câmbio flexível. Ver seu artigo “O que fazer para evitar a inflação em real”, revista Exame, 30-03-1994.
(6) BRUNHOFF, Suzanne de. A hora do mercado – Crítica do liberalismo, São Paulo, Editora da Unesp, 1991.
(7) Os dados estão na revista Business Week, edição de 14-03-1994. A revista considera que não basta desvalorizar o dólar para combater o déficit comercial dos EUA, sendo necessário que o Japão promova a abertura de sua economia, sob pressão do governo Clinton. Ver o editorial “Why Japan Must Open Up”, Business Week, 28-02-1994.
(8) UNGER, Roberto Mangabeira. “Estabilização colonial”, Folha de S. Paulo, São Paulo, 18-03-1994.
(9) PINTO, Celso. “Inflação em real de 15% este ano”, Gazeta Mercantil, 15-03-1994. Quadro 01 Quadro 02
EDIÇÃO 33, MAI/JUN/JUL, 1994, PÁGINAS 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25