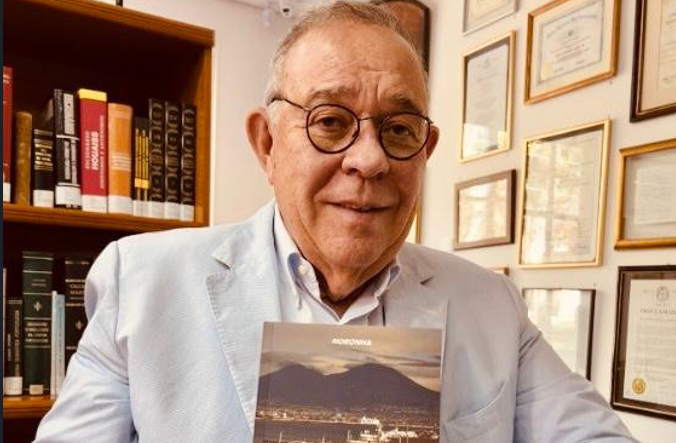Relações raciais e poder

A presença do elemento racial nos processos de exclusão é uma discussão frequente no movimento social. Nos tempos atuais, de avalanche neoliberal, fica nítido o processo de extermínio praticado pelas classes dominantes, e isto ocorre devido à impossibilidade de o projeto capitalista incorporar ao estatuto da cidadania as populações marginalizadas. Vários documentos de instituições estratégicas, como por exemplo a CIA, a OTAN e até mesmo a brasileira Escola Superior de Guerra, apontam mecanismos de extermínio como necessários para consolidar a atual estrutura de poder.
Esta política de extermínio é a radicalização da “seleção natural” apregoada pelos teóricos liberais, entre eles Keynes, que disse em 1926:
“(…) os economistas têm pressuposto um estado de coisas no qual a distribuição ideal de recursos produtivos pode ser conseguida através de indivíduos que agem de maneira independente, pelo método de tentativa e erro, de tal maneira que os indivíduos que se movimentam na direção correta destruirão pela competição aqueles que se movimentam na direção errada. Isso implica que não deve haver clemência ou proteção para os que investem seu capital ou trabalho na direção errada.
Desenvolve-se uma luta cruel pela sobrevivência, que seleciona os mais deficientes através da falência dos menos eficientes. Não se leva em conta os custos da luta, mas apenas os lucros do resultado final que se supõe serem permanentes. Como o objetivo é colher as folhas dos galhos mais altos, a maneira mais provável de alcançá-lo é deixar que as girafas com os pescoços mais longos façam morrer à míngua as de pescoço mais curtos” (1).
Os últimos dados sobre a violência e miséria do Brasil comprovam o extermínio das populações excluídas do sistema. O neoliberalismo, no seu processo de consolidação, acirra os mecanismos de violência social e aponta para a necessidade de redução do contingente populacional. Especialmente nos países do chamado Terceiro Mundo, onde se concentram as populações não brancas.
Entretanto, o debate torna-se acirrado quando se coloca o elemento racial. Seria a questão racial mera ocasionalidade neste processo de extermínio? Ou, em outras palavras, o extermínio é dirigido às populações pobres, indistintamente da etnia, sendo os negros, em virtude de ocuparem a base da pirâmide social, os mais atingidos? Deste fato se depreende que a exclusão é social e não racial.
Em contrapartida considera-se que a exclusão – assim como todos os mecanismos de violência social – tem na raça o elemento-chave, sendo a questão social, de classe, sua subordinada.
Tal polarização é ainda mais acirrada entre as correntes revolucionárias, em consequência de o pensamento marxista não ter elaborado conceitualmente as dinâmicas das relações raciais. Isso tem levado muitas correntes de esquerda a pensarem a questão racial como mera manifestação da luta de classes do capitalismo, subordinando mecanicamente as relações raciais às relações de classe. As lacuna deixadas por tal concepção levaram a outro extremo, tão mecanicista quanto o primeiro: subordinar todas as relações sociais às relações de raça. Pretendemos, neste artigo, não colocar um ponto final neste debate, mas levantar algumas considerações e diretrizes para avançar na discussão e chegar a uma concepção que supere a lógica destes mecanicismos, que são totalmente opostos à teoria marxista, apesar de utilizarem seu palavreado.
Além do mais, ambas as concepções não conseguem explicar certos fenômenos, como a discriminação praticada contra negros que não pertencem à classe operária (como foi o caso da filha do governador Albuíno Azeredo, do Espírito Santo) ou a participação de negros (de origem proletária, inclusive) nos processos de repressão às populações periféricas.
Uma abordagem revolucionária do problema do racismo exige os seguintes pressupostos: 1) Considerar o racismo como algo socialmente criado – portanto, que atenda a determinadas necessidades de um segmento ou classe social – e, consequentemente, socialmente superável; 2) rejeitar o mito da democracia racial em sociedades como a brasileira, pois tal formulação considera a possibilidade de diferentes segmentos sociais terem o mesmo status em diferentes hierarquias sociais e, portanto, conviverem harmonicamente; essa harmonia não existe nem em termos de cultura, apesar de diversos teóricos considerarem o Brasil como um “triturador de culturas” (acredito ser um triturador de culturas não-brancas); 3) diferenciar racismo de preconceito ou discriminação: o primeiro é ação sistêmica ou a construção material e simbólica que justifica e legitima as desigualdades sociais e, portanto, o seu produto são as consequências sociais – ou um “apartheid social”; já o preconceito ou a discriminação originam-se do racismo sistêmico, são práticas pontuais e assistemáticas que se reproduzem no âmbito das relações cotidianas. Como sistema de relação social, o racismo enseja uma práxis política de exclusão do diferente, com o objetivo de manter uma ordem dominante. O que move simbolicamente tal práxis é o temor da perda do poder, ainda que esse “poder” seja meramente microestrutural ou pontual. Assim, mais que mera manifestação da luta de classes, racismo é o exercício do poder excludente. Num país como o Brasil, onde uma ilha da prosperidade vive em função da espoliação de um estrato marginal cada vez mais numeroso, esta exclusão torna-se uma das ferramentas principais para a manutenção desse capitalismo dependente (2).
Consideramos a luta de classes a chave para o entendimento das relações sociais, dos sistemas de poder, porém é necessário que tal compreensão leve em conta a transcendência da questão infra-estrutural para o domínio da superestrutura social. Em outras palavras, a luta de classes não se manisfesta apenas no domínio do plano econômico, mas também do plano simbólico – e é nesse simbólico, dada a complexidade dos modernos sistemas de poder, cuja violência sistêmica se concentra muito mais no plano imaginário (ideológico), que proliferam subsistemas de poder, que ganham autonomia e se reproduzem no âmbito das relações inter e intraclasse.
A análise das relações políticas leva em consideração as práticas de classe, porém seus atores não se vinculam mecanicamente à divisão clássica das classes sociais do período. Segundo Poulantzas, “a homogeneidade de campo da conjuntura consiste na consideração das práticas de classe relativa à sua ação sobre a estrutura como forças sociais” (3). Ou seja, a ação política a ser levada em consideração está diretamente vinculada à capacidade de os segmentos – classe, frações de classe ou grupos sociais – serem forças sociais. Ainda Poulantzas:
“Portanto, se nós quisermos delimitar os elementos de conjuntura, poderemos dizer: a) são, em primeiro lugar, classes distintas e frações autônomas de classe que se refletem na prática política por efeitos pertinentes, e isso caracteriza-se precisamente como forças sociais; b) além disso, podem constituir forças sociais e categorias específicas que chegam, num determinado momento concreto, a ter ‘efeitos pertinentes’, como foram definidos na prática política, sem no entanto serem classes nem frações de classe” (4).
A lógica da exclusão sempre esteve presente na formação do capitalismo brasileiro. Segundo Otávio Ianni, a convivência entre uma ilha de prosperidade (dada pelo fato de o Brasil ser a oitava economia do mundo) e uma massa imensa de miseráveis (que supera as dos países mais pobres da América Latina) atravessou vários períodos históricos. Porém, Ianni não considera isso apenas uma convivência, mas uma interdependência: os chamados dois “brasis” existem um em função do outro (5).
“Desde seu início o sistema capitalista do país convive com grande contingente de população marginalizada”.
A interdependência dos dois brasis passa pelas características particulares do capitalismo brasileiro. Podemos apontar três que mais se ligam ao problema aqui tratado:
1) A prioridade dada ao atendimento das demandas externas – No período da predominância da agricultura, esta desenvolveu-se sob o sistema extensivo, monocultural, latifundiário, típico da agricultura de exportação. Por isso apesar da grande dimensão territorial do país e de se priorizar a agricultura, faltavam alimentos. No período industrial após a década de 1950, o mesmo aconteceu. As indústrias transnacionais que aqui se instalaram aproveitaram o baixo custo da mão-de-obra para auferir lucros para as suas matrizes no exterior. Por esse motivo, uma das leis mais combatidas pelas transnacionais nas vésperas do golpe de 1964 foi a Lei de Remessa de Lucros.
2) A conformação com um mercado consumidor restrito – Esta característica decorre da primeira. A agricultura extensiva dos tempos coloniais e do início da República era exportadora, e com a renda importavam-se produtos manufaturados destinados prioritariamente ao consumo das classes média e alta. No período industrial, o incremento do setor de produção de bens de consumo duráveis segue a mesma direção. Segundo Ricardo Antunes, o produto real da indústria de transporte (inclusive da automobilística) cresceu 549,9% e a de material elétrico e telecomunicações (incluído o ramo de eletrodomésticos) 367,7% entre 1955 e 1961. No mesmo período a indústria de alimentos cresceu apenas 46,4% e a têxtil 28,9% (6). Os bens de consumo não-duráveis, cujo consumo é realizado em maior escala pela classe operária, tiveram um incremento bem menor no processo de industrialização do país, fato que denuncia um caráter elitista e anti-social.
3) A formação de um grande contingente de população marginalizada – Em consequência da prioridade dada as demandas externas, de conformação com um mercado consumidor “restrito”, o capitalismo brasileiro convive, desde o início, com um grande contingente de população marginalizada. O caráter “descartável” dessa população – ou seja, ela não é necessária para as classes dominantes, pois não é consumidora nem tem perspectivas de ser integrada ao mercado de trabalho, que cresce em ritmos inferiores ao crescimento dessa população – a diferencia do conceito clássico de “exército industrial de reserva”. O exército industrial de reserva implica uma certa mobilidade e sazonalidade: o contingente de população marginalizada não, pois é fruto de um modelo de capitalismo que, na sua gênese, já é excludente. A existência desse contingente de marginalizados é permanente na História do Brasil, o que cria constantes crises sociais.
Conceito racista de nação
No Brasil, a formação do conceito de nação, que começa a ser elaborado a partir da metade do século XIX, impôs a exclusão dos setores que estão na base da pirâmide social. Há que se considerar, na formulação desse conceito, que o Brasil surge como nação soberana em 1822, abole o trabalho escravo em 1888 e proclama a República somente em 1889. Nesse período, os países europeus já se encontravam numa fase adiantada do sistema capitalista e já haviam surgido as primeiras organizações operárias e socialistas.
Com este retardamento histórico, as classes dominantes brasileiras tenderam a optar pela realização de um desenvolvimento capitalista “associado” ao grande capital internacional, mesmo porque o sistema de trabalho escravo e a economia centrada na agricultura extensiva não acumularam capital suficiente para a edificação de um capitalismo independente. No entanto, principalmente após a Guerra do Paraguai, a necessidade de uma auto-afirmação nacional era imperiosa nas elites. O atraso do país em relação à Europa incomodava os pensadores da época, que buscavam uma explicação para o fato.
Foi assim que os teóricos conservadores passaram a identificar a “chave” dos problemas com a predominância do elemento negro na população brasileira. As teorias da eugenia e da antropometria ganharam corpo entre os intelectuais conservadores brasileiros. Daí, tanto a defesa da miscigenação para ocultar a presença do negro quanto a defesa explícita do extermínio dos não-brancos são apresentadas como soluções para o problema e contribuem para formar um conceito de nação. Estas idéias vão povoar os tratados dos teóricos conservadores Gilberto Freyre e Silvio Romero.
O branqueamento da população era uma prática evidente. A abolição dos escravos em 13 de maio de 1888 significou tirar os negros da escravidão e jogá-los na marginalidade. Incentivou-se a imigração de europeus para trabalharem como assalariados. Leis como a criminalização do desemprego (a chamada “Lei da Vadiagem”) institucionalizavam a exclusão. De 1850 a 1930 foi o período da consolidação de um conceito racista de nação brasileira e da legitimação do racismo como ideologia justificadora da exclusão social.
Por isso a questão racial é um elemento de vital importância para a compreensão do poder capitalista brasileiro. Em outras palavras, o discurso anti-racista é uma força social em potencial a ser considerada na análise da sociedade brasileira. Tornou-se força social pelas variantes históricas da formação de poder capitalista brasileiro, pela configuração racista da sociedade e pela presença dos mecanismos racistas nos processos de exclusão social. Assim, pode-se definir o poder capitalista brasileiro como classista e racista.
A transcendência das suas práticas e da visão de mundo do âmbito interno de suas relações imediatas para uma interferência na dinâmica social é que eleva a classe social para o nível de força social, da mesma forma que se tornam forças sociais as frações de classe ou segmentos sociais que não são propriamente classes mas que, dada a sua importância na movimentação das engrenagens sociais, também se tornam agentes políticos coletivos.
Segregados, os marginalizados desenvolvem uma tecnologia de sobrevivência. A luta cotidiana para suprir as necessidades básicas de se defender dos vários mecanismos de violência sistêmica e não sistêmica cria uma cultura própria desse estrato marginal. Na sua autodefesa, a identidade racial aparece como um elemento de agregação, de autoconhecimento e de diferenciação da sua condição da condição dos “incluídos”. Por isso, neste contingente, organizações de recuperação da identidade racial proliferam com muito mais intensidade que as clássicas organizações da sociedade civil. Exemplos: terreiros de candomblé, grupos de capoeira, posses de rap, escolas de samba.
Esta “cultura da marginalidade” cria demandas próprias, muitas vezes aproveitadas pela indústria cultural. Um exemplo é a penetração do capital nas escolas de samba através da indústria do turismo.
Mas a relação da indústria cultural com a cultura da marginalidade é realizada muito mais no sentido de ressaltar os aspectos estéticos da marginalidade, esvaziando assim o seu conteúdo político. Em geral, a identidade racial, um dos pilares mais fortes da agregação e da autodefesa destes segmentos, é diluída. Daí a promoção de sambistas brancos, mães-de-santo brancas, rappers brancos, capoeiristas brancos. Tudo isso vem no sentido de impedir a expressão política destes segmentos.
O racismo, como exercício do poder, foi construído historicamente e não é mera manifestação pontual e pessoal ou derivada de uma discriminação social, embora esses elementos a potencializem. Nunca é demais lembrar que a humanidade não conseguiu constituir sistemas sociais em que várias culturas convivessem harmonicamente: em maior ou menor grau, a exclusão do outro sempre esteve presente.
Racismo e acumulação de capitais
Segundo Eduardo Galeano, “graças ao sacrifício dos escravos do Caribe, nasceram a máquina de James Watt e os canhões de Washington”. De fato, durante a colonização da América, a Inglaterra conseguiu a acumulação de capital necessária para realizar a sua Revolução Industrial, graças ao mercado de escravos e à intermediação no comércio dos produtos das colônias produzidos com a mão-de-obra escrava. No século XVIII, os mercadores de escravos de Liverpool somavam lucros anuais de 1 milhão e 100 mil libras esterlinas. Quem financiou e subvencionou a invenção da máquina a vapor por James Watt foram mercadores de escravos. A riqueza aflorou tanto na Inglaterra desse período que bancos se propagaram nas cidades de Liverpool, Manchester, Bristol, Londres e Glasgow. Até mesmo indústrias de aparelhos para castigar escravos prosperaram nas cidades de Birmigham e Sheffield (7).
O escravismo na América foi, além de um sistema de produção desumano, uma das formas de espoliação das economias do continente latino-americano e africano. Segundo Clóvis Moura, entre as características que marcaram o escravismo no Brasil, uma delas é a “subordinação total da economia colonial à metrópole e a impossibilidade de uma acumulação primitiva do capital interno em nível que pudesse determinar a passagem do escravismo ao capitalismo não dependente” (8).
Tal relação econômica se materializa politicamente na constituição de um aparelho de Estado “voltado fundamentalmente para defender os direitos dos senhores e seus privilégios (…) exportadores de tudo ou quase tudo o que se produzia no Brasil” (9).
A manutenção desse sistema deve-se ao tráfico intermitente de escravos entre a África e a colônia, mecanismo que rendeu os lucros já mencionados para a Inglaterra e, em contrapartida, selou a ruína da África, que sofreu índices altíssimos de despovoamento, destruição de nações e perda de lideranças.
Nota-se com essas constatações, que os Estados coloniais se firmaram com a ideologia do racismo, da mesma forma que as elites da época, e que as relações sociais e econômicas do escravismo permitiram uma concentração de riquezas na Europa e o empobrecimento da América Latina e da África.
No Brasil, particularmente, a passagem do escravismo para o sistema de mão-de-obra assalariada não se deu por uma ruptura, mas por um rearranjo das elites, e aqui deve-se levar em consideração as pressões do imperialismo britânico. A mudança “por decreto” do sistema de mão-de-obra possibilitou a manutenção de um sistema ultra-explorador e, simbolicamente, a manutenção da ideologia racista que, se antes justificava a escravidão, passou a legitimar a marginalização do povo negro, que deixou de ser escravo, mas não foi incorporado à indústria como assalariado, nem recebeu terras para plantar – o latifúndio permaneceu firme e forte. Quem continuou dirigindo o país no moderno sistema de mão-de-obra assalariada foram os velhos escravistas e seus descendentes.
A ideologia racista permite, por exemplo, uma intensificação da exploração da mão-de-obra assalariada ao impor critérios racistas no ingresso ao mercado formal de trabalho ou nos salários. Segundo pesquisas do Dieese de 1987, o desemprego entre os negros é 35% maior que entre os brancos. Em termos salariais, o trabalhador negro recebia, nesse mesmo ano, 57,84% do que seu equivalente branco.
Além de atingir o mercado de trabalho, a ideologia racista é um mecanismo de restrição ao acesso à cidadania, o que legitima a desobrigação social do Poder Público. O acesso seletivo à instrução resultou num analfabetismo maior entre os negros (30,1%) que entre os brancos (12,1%), segundo o Anuário Estatístico do IBGE de 1992.
Ideologia racista modela perfil das classes
Além de ser um mecanismo de legitimação da exclusão social e de um Estado autoritário e desobrigado das questões sociais, a ideologia racista é um elemento modelador do perfil das classes sociais brasileiras, particularmente da classe dominante.
Gestada numa economia predatória, submetida aos interesses da Metrópole e originária das elites dessa mesma Metrópole, a classe dominante brasileira tem um perfil antinacional e centrado em referências externas. Figuras como Roberto Campos são emblemáticas e os melhores exemplos para definir o perfil das elites brasileiras: o ódio ao país em que vivem, a exaltação do Primeiro Mundo, a subserviência às elites dessas grandes potências.
Assim, a mesma ideologia racista que legitimou o escravismo permanece justificando outras formas de exclusão. Esta é a prova de que o racismo não é mera manifestação pontual, mas sistêmica, que engendra uma ideologia social modeladora do perfil das relações sociais, econômicas, de classes sociais e até mesmo do Estado autoritário.
Luta anti-racista é luta contra o sistema
Inversamente à perspectiva das elites escravistas e de sua ideologia racista, as lutas dos negros contra a escravidão sempre buscaram transformações profundas nas relações sociais e de poder. Um desses exemplos é Palmares. Segundo Clóvis Moura, a República de Palmares, formada inicialmente por quarenta negros que fugiram do cativeiro dos engenhos de Pernambuco no início do século XVII, era um embrião de uma nova nação “surpreendentemente progressista para a economia e os sistemas de ordenação social da época” (10).
A afirmação do sociólogo Clóvis Moura baseia-se no fato de a organização social da República de Palmares ensejar uma lógica radicalmente oposta à existente na Colônia. Em primeiro lugar, a economia palmarina era voltada para o consumo interno, ao contrário da economia colonial, destinada totalmente à exportação. Esta lógica impôs uma diferença no tipo de agricultura: em Palmares predominou a policultura de alimentos e a propriedade coletiva da terra. Na Colônia, a monocultura, a agricultura extensiva e a propriedade latifundiária. Resultado: enquanto na colônia faltavam alimentos, em Palmares, ao contrário, havia fartura. Em segundo lugar, Palmares não foi uma perspectiva apenas para os escravos negros fugidos do cativeiro, mas recebeu outros setores marginalizados da sociedade colonial – para lá também se dirigiram índios e brancos pobres (11).
Para melhor entender o significado de Palmares é preciso estudá-lo em perspectiva. As várias lutas dos negros contra a escravidão tinham como propósito não apenas a sua libertação imediata, mas transformações na estrutura social e política do país. A Revolta dos Malês e as várias insurreições armadas de escravos ocorridas no Recôncavo Baiano tinham um caráter fundamentalista, trazidos pelos negros hauçás.
A participação dos negros em outras insurreições, como a sabinada e a Confederação do Equador, já vinha com o propósito republicano e de luta contra os projetos políticos das elites imperiais.
Estas lutas armadas diferenciaram-se do projeto abolicionista dos “liberais”. Estes vendo a impossibilidade de manutenção do sistema de trabalho escravo, traçaram uma política de abolição gradual e controlada. O eixo da luta contra a escravidão, ao se deslocar das insurreições para o parlamento imperial, passa a sinalizar nessa perspectiva. Por isso, paralelamente ao projeto de abolição gradual, começam a ser elaborados os conceitos racistas de nação brasileira. Era a preparação da legitimação ideológica da exclusão do negro, agora já não mais escravo. Portanto, a luta do negro contra o racismo sempre tem um fundo libertador, ainda que a ideologia revolucionária não esteja totalmente elaborada em seu seio.
A participação dos negros em outros movimentos populares da libertação só vem corroborar isto: a luta do negro contra o racismo não é apenas um movimento contra uma discriminação específica e pontual, mas contra uma ideologia cristalizada, que legitima um poder excludente e uma elite entreguista e super-exploradora.
Se a destruição do poder excludente e da ideologia racista implica a necessidade de uma transformação social revolucionária, é correto supor que qualquer transformação social revolucionária só é possível com a superação da ideologia racista e do poder excludente.
Lutar contra o racismo é, portanto, lutar contra o sistema de exploração, contra a concentração de renda e contra o imperialismo. É, enfim, lutar por uma sociedade verdadeiramente igualitária. A ideologia libertária da luta anti-racista resgata o valor do diferente como possibilidade de ampliação dos horizontes do conhecimento humano. Contrariamente, a ideologia racista vê no diferente o perigo da instabilidade, do questionamento e, assim, necessita da sua destruição.
* Jornalista, professor da Unimep e coordenador da União dos Negros pela Igualdade, de São Paulo.
Notas
(1) Citado por MORAES, Reginaldo Correa. “Exterminadores do Futuro, a lógica dos neoliberais”. In: Universidade e sociedade n. 6, p. 11.
(2) Ver, a este respeito, o artigo de Francisco de Oliveira “Crítica à razão dualista”. In: Estudos Cebrap n. 2, de 1972.
(3) POULANTZAS, Nicos. Poder político e classes sociais, p. 90.
(4) Idem, p. 91.
(5) IANNI, Otávio. A idéia de Brasil moderno.
(6) ANTUNES, Ricardo. A rebeldia do Trabalho, p. 105-106.
(7) GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina, p. 92-93.
(8) MOURA, Clóvis. Sociologia do negro brasileiro, p. 221.
(9) Idem, p. 221.
(10) MOURA, Clóvis. Sociologia do negro brasileiro, p. 184.
(11) Sobre Palmares, ver CARNEIRO, Edison. O quilombo dos Palmares (São Paulo, Brasiliense, 1947), e FREITAS, Décio. Palmares – a guerra dos escravos (Porto Alegre, Mercado Aberto, 1984).
Bibliografia
ANTUNES, Ricardo. A rebeldia do trabalho, São Paulo, Ensaio, 1988.
BOURDIEU, Pierre. Economia das trocas simbólicas, São Paulo, Perspectiva, 1992.
DIEESE/SEADE. Relatório sobre Emprego e Desemprego, 1988.
GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina, São Paulo, Paz e Terra, 1992.
IANNI, Otávio. A idéia do Brasil moderno, São Paulo, Brasiliense, 1993.
IBGE. Anuário Estatístico de 1992.
MOURA, Clóvis. Sociologia do negro brasileiro. São Paulo, Ática, 1988.
POULANTZAS, Nicos. Poder político e classes sociais. São Paulo, Martins Fontes, 1986.
UNEGRO. Extermínio do povo negro e pobre no Brasil (Caderno publicado em 1990 pela União de Negros pela Igualdade de São Paulo).
EDIÇÃO 34, AGO/SET/OUT, 1994, PÁGINAS 39, 40, 41, 42, 43