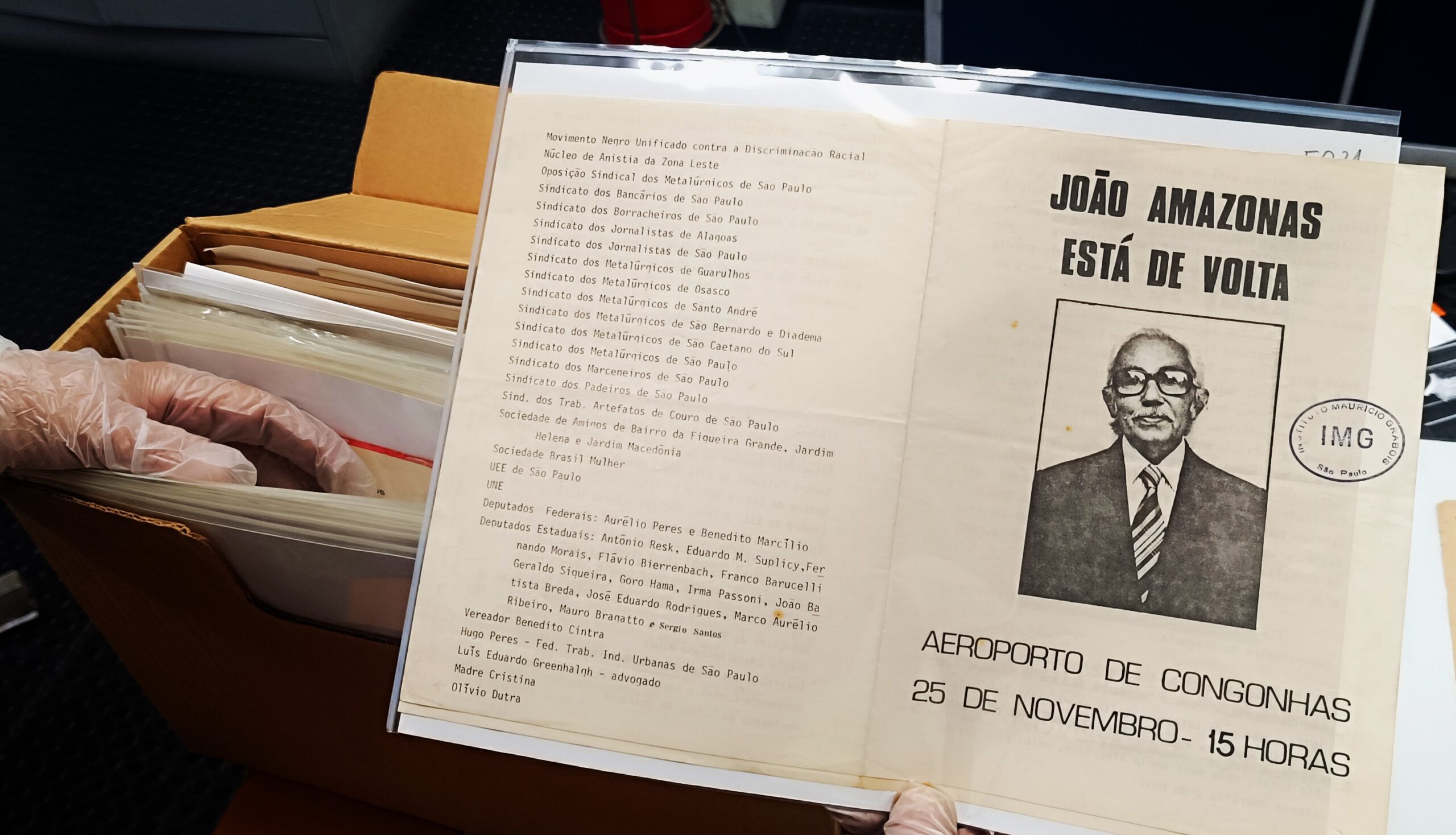Como está se conduzindo o governo Fernando Henrique Cardoso depois que a crise do México detonou os planos econômicos de “ajuste” das economias periféricas concebidos pelo governo dos Estados Unidos, FMI e Banco Mundial, como o Plano Real? Seria de se supor que do ponto de vista puramente lógico e racional, constatada a falência dos pressupostos em que o plano se baseava, o governo revisse seus rumos e apresentasse uma nova estratégia em conformidade com as lições da crise mexicana e a sinalização da situação internacional. As tão propaladas “condições propícias” que, supostamente, dariam sustentação ao Plano Real, não existem mais nem mesmo na aparência dos fatos: as taxas de juros vigentes no mercado financeiro mundial continuam subindo, os fluxos de capitais para os chamados “mercados emergentes” foram estancados e as reservas internacionais do país sofreram um acelerado processo de sangria.
Com o esgotamento do atual modelo de ajuste, do qual o México era o paradigma, qual a proposta do governo FHC? Antes era manter o real ancorado no dólar com uma taxa de câmbio fixa; era basear a luta contra a inflação na “abertura” e entupir o mercado interno com produtos importados, que aumentariam a oferta de bens e jogariam os preços para baixo; e, como ponto essencial, financiar o déficit em transações correntes com o exterior e o pagamento das prestações da dívida com o esperado ingresso maciço de capitais especulativos externos. Para se ter idéia dos sonhos que embalavam o governo antes da crise mexicana, falava-se com entusiamo, segundo a revista Veja, “numa cachoeira de US$ 30 bilhões, talvez US$ 50 bilhões estrangeiros prestes a inundar o Brasil” (1).
Muito mais cedo do que se esperava, a cachoeira secou. E não foi somente devido à crise do México.
De março de 1994 a março de 1995, o banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve Board) elevou a taxa básica de juros dos federal funds de 3,49% para 6,1% ao ano, segurando com isso os capitais que saíram do mercado norte-americano em busca dos denominados mercados emergentes (no mesmo período, a prime rate, taxa de juros básica dos grandes bancos norte-americanos para clientes preferenciais, pulou de 6,25% para 9% ao ano). Antes, os capitais especulativos, entre aplicar em renda fixa a taxas de 3% ao ano nos Estados Unidos, preferiam os títulos de México, Argentina e Brasil, que remuneravam mais de 15% ao ano. Mas a situação hoje é outra. Como explicou um banqueiro ao jornal Gazeta Mercantil: “O quadro externo mudou. A crise mexicana elevou o risco da América Latina e retraiu o investimento estrangeiro. A alta do juro nos Estados Unidos aumentou mais o desinteresse dos aplicadores pelos países emergentes” (2).
“Após a crise mexicana o capital financeiro se afasta da AL e impõe novas e pesadas exigências para retornar”.
As novas previsões sobre o volume de ingresso de capitais externos na América Latina, neste ano, mostram até que ponto a situação se reverteu. De acordo com o Instituto de Finanças Internacionais (IFI), organização internacional que reúne bancos e instituições financeiras, o ingresso líquido de capitais privados na América Latina totalizará apenas US$ 1,3 bilhão neste ano, em comparação com mais de US$ 60 bilhões em 1994, e mais de US$ 75 bilhões em 1993. O IFI recomendou ao FMI que realizasse um maior controle das “economias emergentes” e também sugeriu que os países em desenvolvimento fornecessem dados mais atualizados sobre dívidas no exterior, fluxos monetários e déficits orçamentários (3). Ou seja, o recado do capital financeiro é claro: depois da crise do México, ele se afasta da América Latina e impõe novas e pesadas exigências para retornar à região.
Neste novo quadro, o Brasil foi pego completamente desprevenido, como demonstram os fatos decorridos nos primeiros meses do ano, com o acúmulo de déficits na balança comercial (da ordem de US$ 2,4 bilhões no período de janeiro/março) e perda acelerada das reservas internacionais. Estas perdas teriam superado os US$ 6 bilhões, pois especula-se que o país teria começado o ano com US$ 36 bilhões, que, ao final de março, já estariam reduzidas para algo entre US$ 29 bilhões e US$ 30 bilhões (4). Isso, no entanto, parece ser apenas uma parte do problema. A grande pergunta é esta: nessa conjuntura internacional adversa pós-crise mexicana, como o Brasil vai financiar o rombo esperado em suas relações econômico-financeiras com o exterior? O déficit previsto na balança de serviços é de cerca de US$ 15 bilhões, que poderá ser financiado em parte por um superávit de US$ 5 bilhões na balança comercial. Mesmo assim ainda seria registrado um saldo negativo de US$ 10 bilhões nas transações correntes com o exterior. Mas isso não é tudo. As amortizações da dívida externa, durante 1995, chegam a cerca de US$ 11 bilhões. Assim o país precisa cobrir um déficit bruto de US$ 21 bilhões em suas relações com o exterior! Tomando como referência um Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 425 bilhões, que é a cifra utilizada pelo Banco Mundial, esse déficit representaria quase 5% do PIB brasileiro. Triste ironia para o governo chefiado pela mesma pessoa que há um ano, como ministro da Fazenda, fechou nos Estados Unidos o acordo da dívida externa com o comitê dos bancos credores e declarou, solenemente, que o problema da dívida externa estava resolvido.
“FHC: forçar o ajuste da economia à nova ordem mundial e fazer o congresso aprovar reformas constitucionais”.
Na realidade, em meio a esse quadro, o governo tinha duas opções: recuar em seu projeto ou persistir no mesmo caminho, fazendo novas e arriscadas apostas. E, em que pese toda a sinalização dos fatos, o governo FHC optou por aprofundar seu caminho de forçar o ajuste da economia brasileira à conformação da chamada nova ordem mundial, agora numa conjuntura muito pior que a de 1994, quando o Plano Real teve início. O governo fez recuos tímidos, com a revisão das alíquotas para certos produtos importados (como automóveis e eletrodomésticos) e a substituição do câmbio fixo pela chamada banda cambial estreita, com o dólar variando entre R$ 0,88 e R$ 0,93. Por outro lado, no terreno interno, FHC partiu para a ofensiva política decidido a fazer o Congresso aprovar seu pacote de reformas constitucionais, que representam a essência das modificações que o capital financeiro internacional (hegemonizado pelos interesses norte-americanos, nunca é demais dizer) quer impor ao país e simbolizam, também, o que o Brasil ainda tem que o diferencia de países como México e Argentina, ou seja, um forte setor produtivo estatal em áreas econômicas estratégicas, como petróleo, telecomunicações e energia elétrica, e um conjunto de direitos políticos e sociais, pelos quais o povo se bateu durante décadas e que finalmente se materializaram na Constituição de 1988.
Na frente externa, desesperado com a crise mexicana e com a fuga de capitais externos, o governo FHC ingressou numa defensiva descontrolada, prometendo ao capital financeiro novas concessões, entre elas a privatização da Companhia Vale do Rio Doce (a maior empresa produtora e exportadora de minério do mundo) e das empresas de energia elétrica (5). Pelo visto, o caminho do governo, contrariando a lógica, é um caminho sem retorno, e nem mesmo a humilhação sem precedentes recentemente sofrida pelo México está servindo de advertência para que o Brasil evite a mesma armadilha.
“Nas negociações dos US$ 40 bilhões para “salvar” o México as concessões não foram pequenas”.
Não se sabe exatamente, ainda, a profundidade das concessões feitas pelo governo mexicano às pressões dos Estados Unidos e do capital financeiro internacional no decorrer das negociações do pacote de mais de US$ 40 bilhões, articulado pelo presidente norte-americano Bill Clinton para “salvar” o México (isto é, salvar os interesses do capital financeiro de origem norte-americana e as bases do NAFTA, articuladas pelo governo Clinton, um ano antes). Mas quem acompanhou os noticiários sobre essas negociações sabe que as concessões não foram pequenas. Em primeiro lugar, o governo do presidente Ernesto Zedillo teve de se comprometer com um plano econômico de “austeridade” fiscal e monetária, que prevê novas privatizações (nos setores de ferrovias, telecomunicações, eletricidade e outros), congelamento de salários, corte de gastos públicos e recessão. Segundo a revista Business Week, mesmo que o governo consiga estabilizar a situação, “os economistas dizem que o México tem pela frente meses de recessão, demissão, e sofrimento” (6). A já precária soberania mexicana ficou ainda mais exposta, pois o país teve de empenhar a receita proveniente de suas exportações de petróleo ao governo norte-americano, dadas como aval ao pacote financeiro articulado pelos Estados Unidos e FMI e que, até a liquidação do empréstimo, serão controladas pelo banco central norte-americano. As agências internacionais informaram que o governo norte-americano chegou a exigir do México o rompimento de suas relações com Cuba, o controle da imigração para os Estados Unidos, a privatização da empresa estatal de petróleo Pemex e a realização de reformas políticas (7).
E pouco tempo depois de iniciada, em janeiro passado, a grande ofensiva militar ordenada pelo presidente Ernesto Zedillo contra a guerrilha zapatista no Estado de Chiapas, apareceu um documento do Chase Manhattan Bank, grupo financeiro norte-americano com grandes interesses no México, no qual se preconizava, em nome da “comunidade de investimentos”, a necessidade de o governo mexicano “eliminar” os zapatistas “para demonstrar seu controle do território nacional” (8).
O conteúdo do documento reforçou a suspeita de muitos analistas de que o governo mexicano havia decidido a ofensiva militar em Chiapas para mostrar serviço ao capital financeiro. O que se pode dizer, diante disso, é que o México não está atravessando, como muitos afirmaram, um processo de “integração” com a economia capitalista globalizada, mas vive um efetivo processo de “desintegração” nacional (econômica, política, cultural) nos mercados globalizados liderados pelos Estados Unidos, perdendo cada vez mais sua própria identidade.
“A postura do governo e da mídia revela servilismo e subserviência ao capital internacional”.
O Brasil, temerariamente, segue a mesma trilha do México e, quanto mais faz concessões, mais lhe é exigido. A viagem de FHC aos Estados Unidos, em abril passado, mostra como o governo vai perdendo até mesmo a compostura diante dos grandes banqueiros e financistas que estão com o destino do país nas mãos. Primeiro se viu toda a imprensa reconhecer, como se fosse fato normal, que o presidente Fernando Henrique e a diplomacia brasileira lamentavam que a viagem se iniciasse sem que se pudesse levar a Washington três grande trunfos: a aprovação pelo Congresso da nova Lei de Patentes (que beneficia imediatamente a indústria química e farmacêutica dominada pelas multinacionais norte-americanas); a assinatura do acordo do SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia), um projeto de US$ 1,4 bilhão a ser implantado pela empresa norte-americana Raytheon; e alguma reforma constitucional já aprovada pelo Congresso, como demonstração de que essas reformas são mesmo para valer.
Esta postura do governo e da mídia revela um indisfarçável tom de servilismo e de subserviência, traindo a necessidade de o Brasil “mostrar serviço” ao governo norte-americano e ao capital financeiro. Durante a viagem, ministros e autoridades brasileiras discutiram, sem nenhum pudor, delicados problemas políticos do país perante platéias formadas por banqueiros e administradores de fundos de investimento, tarefa em que se esmerou, particularmente, o ministro da Justiça Nelson Jobim (9). O ministro da Fazenda, Pedro Malan, também pediu à denominada “comunidade financeira” norte-americana “mais tempo” para que o governo consiga aprovar “as reformas estruturais” que pretende fazer, e o secretário para Assuntos Estratégicos, Ronaldo Sardenberg, distribuiu a banqueiros e investidores um livreto explicativo da concessão de serviços públicos no país, editado pela Presidência da República e que ainda não estava disponível no Brasil (10). Tudo num esforço desesperado para convencer os grandes grupos norte-americanos da viabilidade do “ajuste” no Brasil e de que o compromisso do atual governo para com este modelo é para valer.
“O país que quiser atrair capitais que siga as regras do jogo, cada vez mais duras e inflexíveis”.
Muito mais do que as análises otimistas feitas sobre os supostos resultados positivos desta visita, valeram as observações do economista e professor do Massachussets Institute of Techonology (MIT), Rudiger Dornbusch, considerado um dos especialistas em planos econômicos de ajuste adotados por países da América Latina e do Leste europeu. Dornbusch disse que a viagem de FHC aos Estados Unidos não traria nada de concreto se o governo brasileiro não adotasse “reformas urgentes” para segurar o Plano Real, cobrando sobretudo um processo de privatização “selvagem” das estatais – para ele a “prioridade número um” – combinado com as reformas fiscal, tributária, dos bancos estatais e a reengenharia do Estado (11).
O economista não teve meias palavras e sua franqueza refletiu a expectativa do setor financeiro internacional em relação ao Brasil, após os acontecimentos da crise mexicana: o país que quiser atrair capitais que siga as regras do jogo, cada vez mais duras e inflexíveis. Novas e novas concessões são necessárias, num processo sem limites. Neste caminho sem volta, até onde irá o governo FHC? Aqui, como no México, somente uma dura e tenaz resistência popular será capaz de deter este processo.
* Economista e jornalista. Foi editor de economia dos semanários Opinião e Movimento e membro do Conselho Federal de Economia, de 1987 a 1989.
Notas
(1) “O fim do sonho dos importados”, Veja, 05-04-1995.
(2) “Os latinos perdem com a alta de juros”, Gazeta Mercantil, 02-02-1995.
(3) Matéria de Robert Chote, do Financial Times, transcrita pela Gazeta Mercantil, 24-04-1995, com o título “Drástica queda no fluxo de capitais para a América Latina”.
(4) “Reservas internacionais podem cair a US$ 16 bi”, Folha de S. Paulo, 26-03-1995.
(5) Para a Business Week, a Cia. Vale do Rio Doce é "o prêmio mais rico" do programa de privatização do governo FHC. Ela cita palavras de Andres V. Gil, especialista em direito latino-americano do escritório de advocacia novaiorquino Polk & Wardwell para quem "a CVRD é a jóia". Ver matéria da Business Week transcrita pela Gazeta Mercantil, de 23-01-1994, com o título "Brasil prepara o salto".
(6) Matéria da Business Week transcrita pela Gazeta Mercantil, de 02-02-1995, com o título "Mexicanos sem champanhe".
(7) “EUA podem impedir que México rompa com Cuba”. Folha de S.Paulo, 20-01-1995.
(8) O documento, um informe do Chase denominado “Chase Manhattan's Emerging Markets Group Memo”, tem data de 13-01-1995 e é assinada por Riordan Roett. Ele diz textualmente: “the government will need to eliminate the Zapatistas to demonstrate the effective control of the national territory and of the security policy”. Foi divulgado pela rede eletrônica Altenex, do Ibase, na conferência “AX. AM Latina” em 15-02-1995.
(9) Em seminário realizado em Nova Iorque, promovido pela Gazeta Mercantil, banqueiros e financistas, de acordo com o jornal, "foram bombardeados por uma abrangente, profusa e complexa massa de informações sobre o Brasil, levada por altos representantes do próprio governo". O ministro Nelson Jobim, "para uma platéia atenta, até certo ponto perplexa", mergulhou "nas minúcias da aprovação de uma emenda constitucional". Ver a matéria de Fernando Dantas, "Jobim explica a lentidão", Gazeta Mercantil, 11-04-1995.
(10) “Livreto sobre concessões”, Gazeta Mercantil, 11-04-1995.
(11) “Real depende de reforma já, diz Dornbusch”, Folha de S.Paulo de 24-04-1995.
EDIÇÃO 37, MAI/JUN/JUL, 1995, PÁGINAS 8, 9, 10, 11