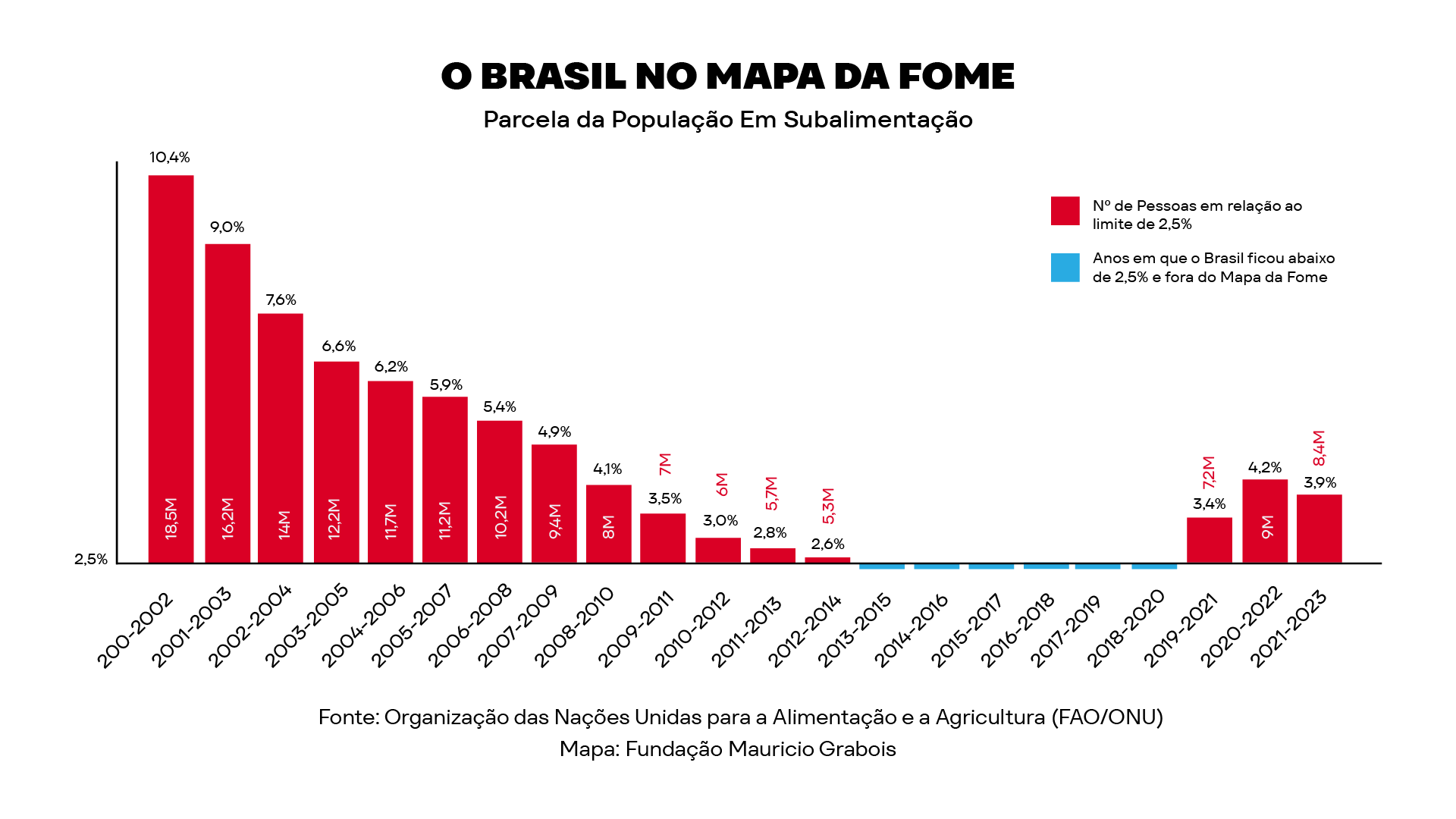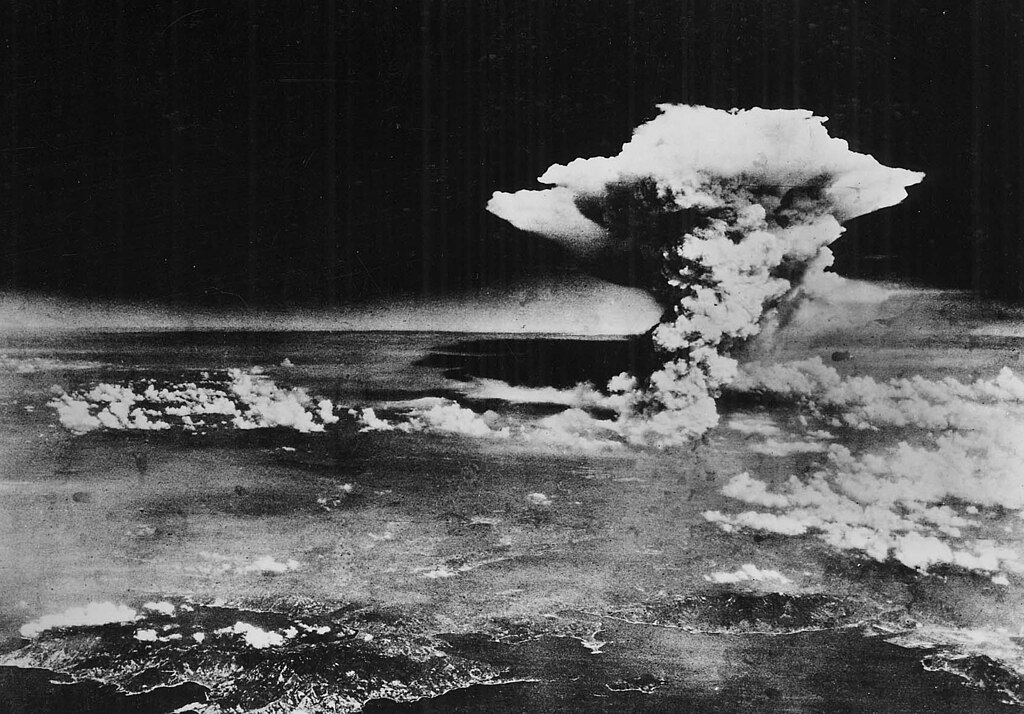O Plano Real caminha para virar peça de museu. Poucos meses de uso, e já começa a demolição dos fundamentos que levaram Fernando Henrique Cardoso à Presidência. O presidente e o círculo íntimo do poder se encarregaram, a canetadas, da “operação-desmanche”. A ficção de uma moeda estável lastreada no afluxo regular de capitais externos e compatível com a expansão do consumo dá lugar aos fatos: o governo corre atrás de medidas que freiam a evasão de divisas, tenta esfriar o mercado externo, promete austeridade e apela aos exportadores, enquanto promete um ajuste estrutural e insiste na venda de patrimônio público a preço de banana.
Nenhuma novidade, nenhum ineditismo em relação aos planos do passado e às advertências pré-eleitorais. Um tédio assistir a esse novo (?) exercício de realpolitik, ver o chefe do Executivo empurrar para debaixo do tapete todo o dito e repisado por ele na época em que ainda andava atrás de votos para chegar ao Planalto. O arrazoado dos porta-vozes, que bombardearam o país mostrando por que desta vez as coisas iriam “dar certo”, vai para a lixeira, como palavrório insensível.
Ao menos isto…
Desequilíbrio estrutural e impasse estratégico
Passada a anestesia eleitoral-cambial, a economia volta a exibir seus desajustes crônicos, seus desequilíbrios estruturais. Após o sonho, continuam exatamente do mesmo tamanho a dívida externa, a dívida interna, o salário-mínimo, a anemia do Estado quando confrontado com as demandas sociais. E o governo, surpreendentemente, parece impotente para desatar os nós.
Surpresa? Só para quem, num wishful thinking reacionário, enxergou o triunfo esmagador de Fernando Henrique Cardoso, como a outorga do mandato definitivo para impor ao país as medidas antipopulares já tentadas, sem sucesso, por governos anteriores. Ou para quem, num supremo delírio, imaginou o novo chefe do executivo como o reformador social que voltaria as costas à sua coligação conservadora e governaria “com o país”.
Ilusões, cultivadas na natural euforia da eleição e no alarido dos áulicos, em meio à sofreguidão de uma mídia escandalosamente disponível.
A realidade vem derrubando fantasias. Nem chegou ao poder a social-democracia tupiniquim, nem a vitória eleitoral das classes dominantes gerou uma hegemonia estável, capaz de romper a seu modo o impasse estratégico em que a economia (ou a sociedade) brasileira se meteu desde a democratização de 1984-85.
Qual a natureza do impasse? Uma “transição sem ruptura” que abriu as portas da política aos milhões de oprimidos do nosso capitalismo, sem no entanto abrir-lhes as portas da prosperidade econômica. A outra face da mesma moeda: já temos as massas que exigem, e até impõem, do Estado políticas corretivas para os aleijões da sociedade mais injusta do planeta; não temos ainda um Estado capaz de cobrar da burguesia a conta destas providências, parte delas inscritas na Constituição.
Mas, então, pergunta-se o príncipe, o que fazer?
A receita dos novos teólogos
Do ângulo das classes dominantes, a esfinge já foi decifrada pelos novos teólogos do liberalismo. Rasgue-se a Constituição, eliminem-se os direitos sociais e trabalhistas, entregue-se o país ao capital financeiro, de preferência estrangeiro. Com isso, garantem, a mão mágica do mercado nos fará felizes a todos. E, para evitar surpresas, opere-se uma reforma política que reduza a possibilidade de imprevistos nas eleições, que circunscreva, restrinja, limite o alcance do voto plebiscitário, majoritário, portanto, popular.
Claro, a coisa não é vendida assim, descarada. Ela vem numa embalagem mais atraente, mais cínica.
Privilégios. Nesta sociedade marcada pelos privilégios de uma elite culturalmente escravocrata, rotulam-se “privilegiados” aos grupos de trabalhadores que, na luta, alcançaram conquistas e ergueram a cabeça um degrau acima de seus irmãos de classe. Migalhas conseguidas com sangue transformam-se em “privilégios” a que é preciso abolir, para conferir racionalidade ao sistema econômico e fazer “justiça” aos que vegetam na pré-cidadania. Privatizações. A mesma elite que vem limpando os cofres públicos e quebrando as pernas do Estado, os capitalistas cevados ao longo de décadas com o dinheiro do povo, todos se lançam contra o patrimônio do país para saqueá-lo. O pretexto é “reduzir o endividamento” estatal. Em primeiro lugar, não consta que as privatizações tenham até hoje resultado em efetiva diminuição da nossa dívida pública, fartamente nutrida por juros estratosféricos. Em segundo, pergunte a qualquer empresário o que faria com um executivo seu cuja única proposta para abater dívidas fosse liquidar o patrimônio da empresa…
Globalização. Num mundo marcado pela ofensiva do capital financeiro, sustentada nas ações dos Estados nacionais dos países imperialistas, a burguesia brasileira tenta vender a mentira da “globalização”. É uma realidade virtual em que projetos nacionais (dos países periféricos) vão para o arquivo, em que o passaporte ao paraíso depende de renunciar à independência, à moeda, às Forças Armadas, a uma pesquisa científica própria, a uma economia auto-sustentável, ainda que não autárquica. Ou seja, a velha lengalenga das oligarquias, repetida há séculos sempre que as forças nacionais se erguem para tirar o país da subalternidade em relação às grandes potências. Foi assim com Floriano e Vargas, para citar apenas dois dos momentos mais agudos de confirmação em nossa história.
As “reformas políticas” comparecem nesse receituário como um ingrediente indispensável para dar estabilidade ao quadro econômico desenhado na moldura neoliberal. Agitam-se a racionalidade, a modernidade, a eficácia. Mas o objetivo central é reduzir o efeito direto do voto popular e “enxugar” os elementos de instabilidade decorrentes desse fator. Trata-se de transformar o sistema político num mecanismo eficaz de filtro. Nele, o povo entraria com o voto, deixando o exercício real do poder para as elites.
Uma obervação. Mesmo com a derrota do golpe parlamentarista no plebiscito de abril de 1993, permanece a insistência em aprovar alguns de seus corolários, como o voto distrital e a cláusula de barreira. A respeito desta última, como explicam nossos amigos politicólogos que as maiores dificuldades de Fernando Henrique no Congresso sejam causadas pelos grandes partidos, os mesmo que “sustentam” o governo?
Mas, dizíamos, o governo Fernando Henrique não está conseguindo reunir forças para aplicar o receituário, ou então outro qualquer. No poder o presidente paga o preço por ter construído uma vitória eleitoral sobre pés de barro. Sua candidatura galvanizou o desejo maciço de que a inflação permanecesse baixa e só. São patéticas as teses de que “o eleitorado referendou nas urnas um plano de reformas”. Mentira. O Plano Real contribuiu para semear a ilusão de que a estabilidade pode ser alcançada sem sacrificar os interesses de nenhum grupo social. Propagandeou a fantasia de que o Brasil pode ser um caso inédito em que se liquida a hiperinflação preservando as altas taxas de emprego, a expansão do consumo e os superlucros do capital financeiro, local e estrangeiro, tudo ao mesmo tempo.
Quem espalhou essa bobagem estava em seu papel. Afinal, tratava-se de ganhar uma eleição a qualquer custo. Tratava-se de apagar um incêndio cujas labaredas já lambiam os calcanhares da elite brasileira.
Grave mesmo é o caso de quem acreditou…
A “esquerda possível”, o “apelo à razão” e a virada estratégica
Nesse quadro de impasse, crescem as pressões para que a oposição adote uma “atitude positiva” diante das propostas do governo e das tentativas de ajuste neoliberal. Pressões que se alimentam de certo traço constitutivo da cultura política brasileira: o governo de plantão e suas propostas são apresentadas como a síntese dos interesses nacionais naquele momento. Em consequência fazer oposição dura e radical configuraria uma crise de lesa-pátria.
Tais pressões também se nutrem da conjuntura ideológica desfavorável e de uma forçada “consensualização”. As derrotas do socialismo são esgrimidas como a prova final de que só nos resta seguir obedientemente a cartilha dos senhores do capital, de que qualquer resistência representa tão somente um atavismo dinossáurico. Nem Keynes escapa desse exorcismo compulsório.
Mas quem quer ser exorcizado? Quem deseja se transformar “numa esquerda viável”? Os antecedentes históricos recomendam cautela em relação à política desse tipo. As correntes que optaram por caminhos assim ou desapareceram ou acabaram instrumentalizadas pelo conservadorismo, reduzindo-se a caricaturas de si mesmo. De tão “viáveis”, transformaram-se em algo inviável, ao menos como instrumento para atingir suas metas originais. Bem ou mal, os eleitores e os setores populares organizados têm voltado as costas a tais propostas, até por instinto: o simples bom-senso sugere desconfiar de quem pede aos de baixo uma “civilidade”, que não se encontra nos de cima. Os “apelos à razão” têm caído no vazio. Ao menos por enquanto.
Mas quais poderiam ser os ângulos para a abordagem da conjuntura política pelas forças populares, levadas a um período de resistência, após a derrota eleitoral de outubro de 1994? Como evitar a tentação adesista sem cair num isolacionismo estéril, que acabaria por favorecer a ofensiva da direita?
A discussão está em aberto, mas o que se vislumbra envolve a confluência e articulação de duas vertentes políticas: transformar o debate abstrato da “crise do Estado” em um movimento pela justiça fiscal, por uma reforma que aumente a carga tributária sobre os mais ricos e transfira a eles o ônus de sanear as fianças públicas; unir a este movimento o conjunto de forças nacionais dispostas a resistir à “pinochetização” da economia. Ou seja, das forças decididas a lutar para que a abertura da economia e a integração do país ao mercado mundial se dêem sob o comando da hegemonia dos interesses nacionais, preservando-se a base produtiva instalada no país e garantindo a democratização e expansão do mercado interno.
Um caminho desse tipo teria a vantagem adicional de evitar que a esquerda e as correntes populares caíam vítimas de catastrofismo, ou das apostas sobre uma hipotética deterioração do quadro econômico. É preciso evitar a qualquer custo a repetição dos erros fatais cometidos ao longo da campanha eleitoral do ano passado. Como diz o ditado, errar é humano, mas repetir o erro é burrice. As forças progressistas não podem se deixar acuar por quem deseja apresentá-las à nação como “torcedoras” da inflação, como um aglomerado “sem propostas, defensor de monopólios e privilégios”.
EDIÇÃO 37, MAI/JUN/JUL, 1995, PÁGINAS 5, 6, 7