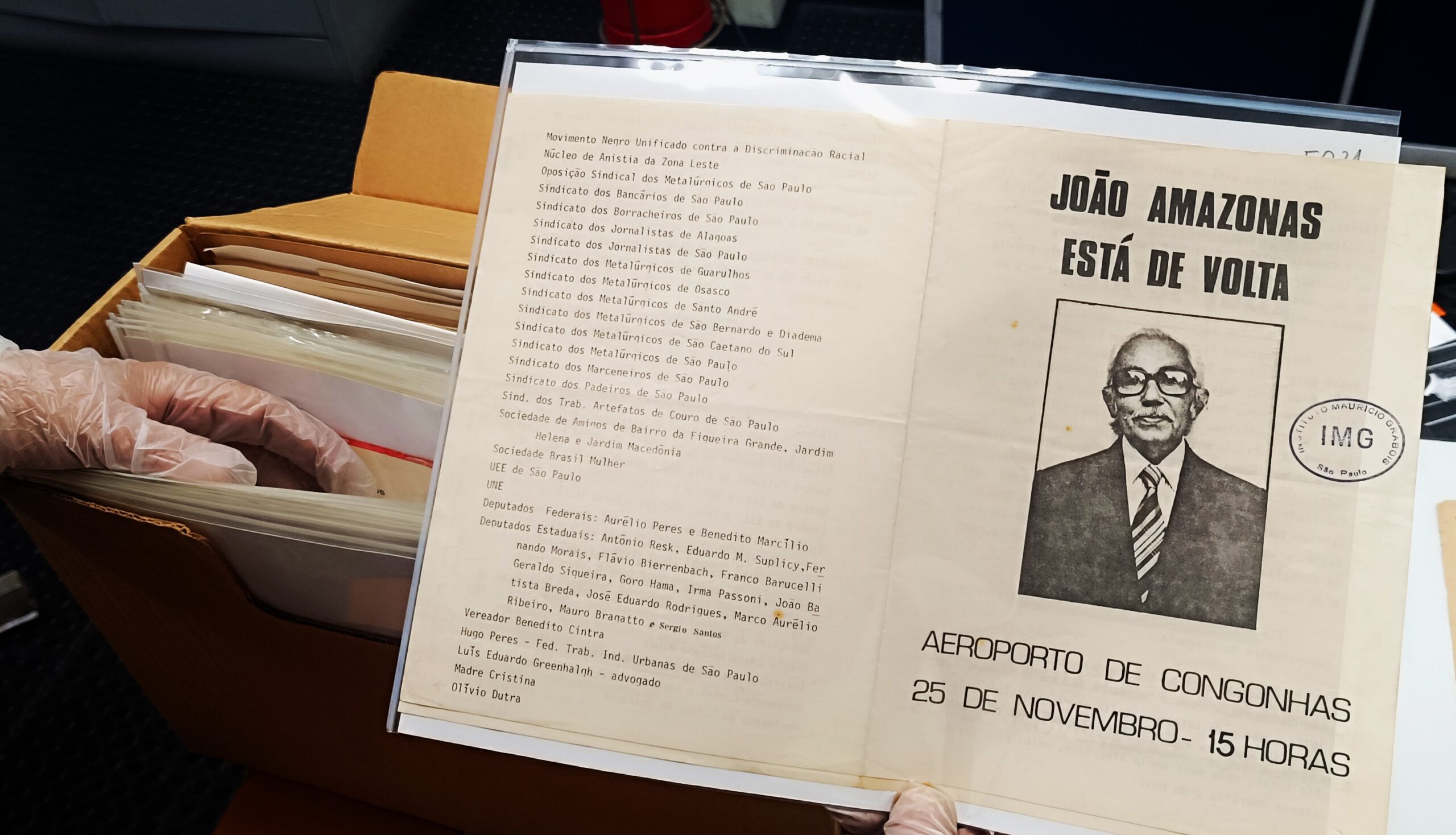As coisas na sociedade nunca ocorrem obedecendo apenas à vontade dos atores sociais. Cada fenômeno esconde, atrás da obviedade do fato, toda a trama social que lhe deu origem. Não se faz história por ato de vontade: ele decorre do fato de, para produzir aquelas coisas que lhes são necessárias à sobrevivência, os homens estabelecerem certas relações com a natureza e com os outros homens. Foi com Marx que o reconhecimento dessa verdade se impôs.
Para criar as condições materiais de sua existência, os homens estabelecem “relações básicas e fundamentais que são o suporte de toda a organização social” (Costa Pinto: 1978, p.183-184). É no âmbito dessas relações – que são relações de produção, e cuja expressão jurídica é o direito de propriedade – que as classes sociais se definem e se organizam.
“As classes sociais são grandes grupos ou camadas de indivíduos que se diferenciam, basicamente, pela posição objetiva que ocupam na organização social da produção. Essas classes se relacionam e se superpõem formando um sistema de classes que é parte integrante da estrutura social e que, historicamente, se transforma com a transformação de sociedade. A posição das diferentes classes na estrutura social é fundamentalmente determinada por suas relações com os meios de produção e com o mercado. Elas se identificam pelo papel que têm na organização do trabalho e, daí, pelo volume, pelo modo de ganhar e pelo modo de empregar a porção de riqueza de que dispõem” (Costa Pinto, 1978, p. 188-189).
Em consequência, só através da análise das diversas classes que compõem a sociedade, da forma como se relacionam, do estado atual da luta de classes, é que podemos acompanhar os fenômenos sociais até suas raízes, saber onde estão seus limites e quais as nossas possibilidades reais de ultrapassá-los.
No Brasil, o surgimento e o desenvolvimento das classes sociais foram – como em toda parte – condicionados pela dinâmica histórica da formação econômico-social brasileira. Vamos fazer aqui apenas um esboço da situação atual das classes sociais no Brasil, deixando para outra oportunidade o exame – essencial – de seu desenvolvimento histórico, desde o passado escravista até a plena hegemonia do modo de produção capitalista em nosso país.
É necessário, entretanto, registrar que a sucessão dos modos de produção no Brasil seguiu uma dinâmica própria, que condicionou o desenvolvimento da estrutura de classes da sociedade brasileira e que dá a ela suas particularidades próprias.
O escravismo perdurou no Brasil desde o início da colonização até o fim do século passado. Foi em suas entranhas que o capitalismo brasileiro se desenvolveu – e esta é uma particularidade importante: ele surgiu a partir da desagregação do modo de produção escravista, seguindo uma rota diferente daquela vivida pelo capitalismo europeu, que nasceu a partir da desagregação do feudalismo. Aqui, a passagem do escravismo ao capitalismo foi mediada por um período de transição que, em linhas gerais, vai de meados do século XIX – quando o escravismo começa a se desagregar – até o final da República Velha (Pereira, 1984, p. 457).
Outra particularidade importante do capitalismo brasileiro é que ele foi retardatário. Ele aflorou numa época em que o capitalismo, em nível mundial, entrava em sua etapa imperialista. Surgiu em uma sociedade dominada por interesses agrários, pelo grande capital mercantil, aliados ao capitalismo estrangeiro, e com um papel definido na divisão mundial do trabalho. A base da estrutura produtiva brasileira ainda era ocupada por uma categoria de trabalhadores semi-assalariados, típica do período de transição: o colono ou morador, cuja remuneração combinava uma forma de regime salarial pouco desenvolvida com formas de remuneração ainda marcadamente pré-capitalistas. Estava configurado, assim, um quadro em que a burguesia industrial tinha de lutar, de um lado, contra aqueles setores da elite que eram adversários da industrialização e, de outro, defender-se de lutas operárias que resistiam à exploração capitalista que começava a se impor (Ruy, 1984, p. 253; Gorender, 1987, p. 26).
Com a revolução de 1930 e, principalmente, com o Estado Novo (1937-1945), começa a ocorrer uma mudança fundamental na sociedade, que levou ao Brasil moderno: a ascensão da burguesia industrial ao centro do poder e o começo da incorporação da classe operária na cena política oficial. No final dos anos 1950, a burguesia industrial e o proletariado firmaram-se como classes fundamentais na sociedade brasileira. Com o Estado Novo, a transição para o capitalismo começa a encerrar-se e, nas décadas de 1940 e 1950, as relações de produção tipicamente capitalistas generalizam-se no país e começam a tornar-se hegemônicas.
“Entre 1950 e 1980, a classe operária cresceu e passou a trabalhar em grandes indústrias”
Na década de 1950, o valor da produção industrial superou, pela primeira vez, o valor global da produção agrícola. A população ocupada na agricultura parou de aumentar, para retrair-se nas décadas seguintes. Em 1940, 69% da população estavam na zona rural; em 1980, apenas 32%. Nas cidades, as indústrias modernas registraram enorme crescimento: entre 1960 e 1980, a indústria metalúrgica cresceu 202%, a mecânica 730%, a de materiais elétricos 342% e a de material de transporte 225%.
No começo dos anos 1980, a burguesia urbana controlava mais de 346 mil estabelecimentos. Desses, 1040 grandes empresas controlam 12% do valor da produção e empregam 9% dos trabalhadores.
Segundo Jean Bernet, autor de Atlas Financeiro do Brasil, um pequeno grupo de 180 famílias ocupa o topo de estrutura de classes: forma a burguesia monopolista brasileira que, aliada ao capital estrangeiro e ao Estado, domina a economia brasileira.
A presença das empresas estrangeiras tornou-se enorme. Entre as 8480 maiores empresas que operavam em 1983, segundo a revista Visão de agosto de 1984, havia 7545 empresas privadas nacionais que empregavam 68% dos trabalhadores e detinham 65% do lucro líquido. As estrangeiras, um pequeno grupo de 527 empresas, ocupavam 12% dos trabalhadores e ficavam com 22% do lucro líquido, enquanto as estatais, 408 empresas, empregavam 20% dos trabalhadores e tinham 13% do lucro líquido.
Entre 1950 e 1980, a classe operária cresceu, e grande parte de seu contingente passou a trabalhar em grandes indústrias. Em 1950, a soma dos operários na indústria, dos transportes e da comunicações, da construção civil e rurais era cerca de 2,8 milhões, e representava 16,5% da população economicamente ativa (PEA). Em 1980 essa soma era de 14,3 milhões, e representava 32,7% da PEA. Nesses anos, 22% dos operários estavam empregados em estabelecimentos que tinham, em média, 85 trabalhadores. Em 1981, apenas três gigantes – Petrobras, Volkswagen e General Motors – empregavam mais de 100 mil trabalhadores (Retrato, 1984, vol. 3, p. 127).
“Em anos recentes verificou-se uma crescente proletarização das camadas médias”
No campo, aceleraram-se as transformações que levaram do colono ao bóia-fria. Colonos, pequenos rendeiros e parceiros foram despojados dos poucos instrumentos de produção que ainda possuíam e arrastados à voragem capitalista triunfante, que os transformou nos ossos e na carne do proletariado rural, a principal categoria de trabalhadores agrícolas nas décadas de 1960 e 1980.
Outra transformação importante ocorrida no campo com a extensão do capitalismo foi o aburguesamento do latifúndio. O estímulo aos produtos de exportação e o desenvolvimento do latifúndio por meio de capitais monopolistas beneficiados por incentivos fiscais e creditícios resultaram num aumento de concentração da propriedade, na mecanização de algumas culturas e na difusão do trabalho assalariado, significando também um aprofundamento da aliança entre o capital monopolista brasileiro e estrangeiro e o latifúndio modernizado na forma de empresa agrícola.
A estratégia governamental de distribuição de recursos públicos e serviços através de bancos oficiais e outras agências estatais significou um golpe fundo no poder das oligarquias locais, deixando-as com poucas opções: transformar-se, adotando métodos capitalistas em suas propriedades e na comercialização de seus produtos, ou desaparecer (Bursztyn, 1984, p.30).
Essas mudanças foram completadas, em anos recentes, com a crescente proletarização das camadas médias. Os dados oficiais não permitem a identificação quantitativa das novas e das “velhas classes médias” (constituídas por pequenos industriais e comerciantes, profissionais liberais e autônomos, altos funcionários públicos civis e militares) e o crescimento das “novas classes médias” (formadas por administradores de empresas privadas, técnicos, gerentes, trabalhadores assalariados de formação universitária, como médicos, advogados, engenheiros, bancários, a camada superior dos empregados no comércio, o baixo funcionalismo etc.) Dados divulgados em 1982 pelo Sindicato dos Médicos de São Paulo dão uma idéia da proletarização desse importante setor de velhas classes médias: apenas 5% dos médicos viviam exclusivamente do exercício liberal da medicina, e 80% dependiam unicamente de seus salários (Folha de São Paulo, 04-04-1982).
“Os dados do censo de 1991 mostram que três entre quatro brasileiros moram nas cidades”
O resultado dessas mudanças é a atual estrutura de classes capitalistas na sociedade brasileira, que eliminou ou subordinou velhas formas pré-capitalistas. Estas, no entanto, ainda mantêm o peso significativo em muitas regiões e setores marginais e subordinados da formação social brasileira.
O censo de 1991 mostrou que essas mudanças ainda não estavam estabilizadas. A população rural diminuiu em 22 dos 27 estados, e três em cada quatro brasileiros moram em cidades. No sudeste, 88% das pessoas moram em cidades; no Nordeste, são 60,6% (em 1980 eram 50,5%). Parcela significativa da população fixou-se nas regiões metropolitanas – 42,6 milhões de pessoas, cerca de 1/3 do total, número semelhante ao de 1980.
As grandes metrópoles nacionais, como São Paulo e Rio de Janeiro, deixaram de atrair migrantes, e o censo constatou um importante movimento de fixação regional e de redirecionamento do fluxo migratório para o interior do país. Não por acaso o censo encontrou 12 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. No Nordeste, por exemplo, a tendência dos migrantes não é mais procurar as cidades grandes do Sudeste, mas sim os centros regionais. Para o IBGE, a população nordestina iniciou um movimento de fixação, e as cidades tiveram um crescimento de 3,55% ao ano, taxa maior que a média global da região; paralelamente, o volume de população rural caiu em mais de meio milhão de pessoas.
Mas as desigualdades regionais ainda são enormes. Elas são reveladas de forma eloquente pelos dados sobre renda. No Sudeste, a renda média mensal do chefe de domicílio em 1991 era de 4,4 mínimos; no Nordeste, era de 1,9. A renda da metade dos chefes de família mais pobres variou muito de estado para estado. No Ceará, por exemplo, 61% tinham renda inferior a um salário-mínimo. Em São Paulo e no Distrito Federal, a metade dos chefes de família mais pobres tinha renda abaixo da marca de cinco mínimos.
Tabela 1 (p. 31)
Como a pobreza, a riqueza também está concentrada regionalmente. O Ceará tinha 3% de chefes de família com renda superior a 10 mínimos. Em situação melhor, São Paulo tinha 12% de chefes de família nessa faixa privilegiada, e o Distrito Federal, 20%.
Os dados do PNAD de 1990 permitem uma aproximação, embora imprecisa, do esboço numérico das classes sociais no Brasil de hoje. Eles mostram que, naquele ano, 5% da população economicamente ativa (PEA) eram formados por patrões; 23% trabalhadores por conta própria, e 65% empregados assalariados (apenas 36% com carteira profissional assinada).
Tabela 2 (p. 31)
Esses 62,2 milhões de trabalhadores estavam assim divididos pelos setores da economia: 14,2% na agricultura e extração mineral e vegetal; 14,2% na indústria de transformação; 54,4% no chamado terciário (comércios, serviços, administração pública etc.).
Tabela 3 (p. 32)
A metodologia do IBGE não permite uma avaliação do tamanho da classe operária. O Instituto pesquisa a distribuição dos trabalhadores por ramo de atividade e a posição de ocupação, sem se preocupar em identificar com precisão o caráter da função exercida (trabalhador manual, técnico, administrativo, cargos de chefia, gerência e direção etc.) Por isso, os dados do censo e do PNAD permitem apenas uma indicação da situação de classes. Em 1990, existiam 40,2 milhões de trabalhadores assalariados no país (65% do total de trabalhadores). Comparados com dados de 1980, percebe-se uma diminuição relativa da participação dos trabalhadores na indústria em relação ao conjunto dos assalariados. Em 1990, o número de trabalhadores da indústria (sem contar os demais trabalhadores que fazem parte da classe operária) era de 14,2 milhões, representando 23% da PEA. Em 1980, era de 11,3 milhões, e representava 26% da PEA. Os patrões eram, em 1980, 3% da PEA; hoje, são 5%. Os autônomos e os familiares não remunerados eram 31% em 1980, e continuam nessa marca em 1990.
Hoje o Brasil é um país de capitalismo desenvolvido, onde as categorias próprias desse modo de produção (o trabalho assalariado e a generalização das relações mercantis, por exemplo) estão firmemente enraizadas. Mas trata-se ainda de um capitalismo pobre e dependente, cujas potencialidades só poderão florescer plenamente com um projeto de desenvolvimento baseado em suas próprias forças e necessidades.
Finalmente, outra faceta importante do Brasil revelada pelo censo de 1991 é política. Três em cada quatro brasileiros vivem nas cidades e fazem parte da estrutura de classes urbana típica, cuja importância cresce no conjunto da sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que é visível a redução da base social das oligarquias agrárias que ainda subsistem e monopolizam a posse da terra.
A concentração da população nas cidades – mais que isso, em cidades grandes – promete acabar com os velhos currais eleitorais da oligarquia, embora isso não signifique automaticamente um crescimento do eleitorado urbano progressista, podendo levar ao fortalecimento temporário de práticas populistas baseadas em relações pessoais, no clientelismo e no salvacionismo messiânico, retrato de um atraso político urbano em transição para uma compreensão madura, autônoma e classista da cidadania.
Hoje, há uma grande controvérsia a respeito do papel dirigente e central da classe operária na luta pelo socialismo, que alcança, inclusive, setores avançados do movimento operário e socialista.
“Estaria eliminado o papel da classe operária no trabalho da produção capitalista?”
O argumento apresenta-se sob várias e sofisticadas formas. Diz que as profundas alterações tecnológicas da produção em nosso tempo diminuíram, ou mesmo eliminaram, o papel do trabalho direto na produção capitalista. Diz também que essas mudanças na produção levaram a um crescimento enorme do papel do conhecimento (e, portanto, do trabalho intelectual ou científico) na produção, dando-lhe uma posição essencial na geração de riquezas. Outros complementam o argumento alargando o conceito de classe operária para abarcar os trabalhadores assalariados das funções científicas e intelectuais.
As consequências desse pensamento são variadas. Vão da descrença e ceticismo em relação à luta pelo socialismo até a idéia de que a exigência de uma sociedade mais justa e essencialmente ética é desligada da dinâmica econômica e social, e estranha à forma de organização da produção material. Reaparece também, com frequência, a velha idéia reformista de que a classe operária só estará habilitada a dirigir a luta pelo socialismo se for maioria entre a população. Como não é, dizem, torna-se urgente encontrar a força social que herdará o papel histórico antes atribuído aos operários.
Essas teses não são novas. No começo do século, setores reformistas da social-democracia alemã já alegavam que só poderiam passar à luta revolucionária quando a classe operária fosse numericamente predominante e conseguisse obter maiorias parlamentares sólidas. Mesmo uma revolucionária notável como Rosa de Luxemburgo pagou seu tributo a essa tese.
Mais tarde, nos anos 1930, os intelectuais ligados à Escola de Frankfurt difundiram a tese de que, ao aburguesar-se e aderir ao capitalismo, a classe operária perdeu as credenciais como força dirigente da revolução. Nos anos 1960, Herbert Marcuse popularizou essas opiniões, propondo que o lugar da classe operária fosse ocupado, na vanguarda da revolução, por novos agentes históricos: os estudantes, as mulheres, os negros, os homossexuais (Slater, 1978, p. 131).
Os analistas soviéticos dos anos 1960 e 1970 deram também sua contribuição ao fortalecimento da idéia de que o papel histórico da classe operária diminuía. Melnikov, por exemplo, faz uma distinção entre concepções “ampla”e “restrita” da classe operária em nosso tempo, e incluiu no conceito ampliado os trabalhadores intelectuais, científicos e administrativos (Melnikov, 1978, p. 51).
“As credenciais da classe operária para seu papel histórico são qualitativas”
É preciso lembrar, finalmente, uma tese paralela a essas: a de James Burnham, que defendeu, no livro A revolução dos gerentes, de 1941, a idéia de que os métodos de gerenciamento levarão à superação do capitalismo por um modo tecnocrático de produção, devido a uma virtual separação entre propriedade privada e controle dos meios de produção, crescentemente assumidos pelos gerentes, isto é, pela tecnocracia.
Este artigo não pretende desenvolver a crítica a essas concepções. Registra-as, apenas, para lembrar alguns pressupostos básicos da avaliação, no âmbito do marxismo, do papel histórico da classe operária, sua relevância e as condições para sua superação.
Marx, Engels e Lênin jamais afirmaram a necessidade do predomínio da classe operária em termos numéricos, quantitativos, para dirigir a luta de todos os trabalhadores assalariados, do campo e da cidade. As credenciais da classe operária para esse papel histórico são qualitativas, decorrem da natureza de sua atividade, da sua relação coletiva, social, e não proprietária, com os meios de produção. Trata-se de um estilo de vida que prepara o futuro onde não existirá a propriedade privada.
No comunismo, serão os produtores diretos que controlarão a aplicação e o desenvolvimento dos meios de produção. Não existirão proprietários privados a ditar normas, como no capitalismo. Assim, é a decisão coletiva, social, organizada que vai fundamentar a direção da produção material. E a organização política correspondente a essa forma de produção avançada é a república operária, o governo dos operários, aquilo que os clássicos chamaram de ditadura do proletariado – cujo exemplo, disse Engels, foi a Comuna de Paris. É o governo dos sovietes, que Lênin iniciou em nosso tempo.
Outro aspecto que precisa ser lembrado aqui diz respeito diretamente à produção material capitalista contemporânea. Antes de afirmar que a lei do valor já vigora, ou que a mais-valia teve uma transformação essencial, é preciso prová-lo. E, para isso, é preciso responder a duas perguntas. Diz-se que a lei do valor e a mais-valia já não teriam vigência, pois o trabalho direto não é essencial para a produção. A primeira pergunta decorre da afirmação: se isso é verdade, qual o motivo que leva as grandes empresas capitalistas ocidentais a incorporarem, cada vez mais, em sua cadeia produtiva, a mão-de-obra de preços aviltantes dos trabalhadores de China, Taiwan, Coréia e outros países do chamado Terceiro Mundo? Essa pergunta só pode ser respondida pelo exame da geração e apropriação da mais-valia em nível mundial.
A segunda pergunta decorre da análise de Marx, em O Capital, da geração e apropriação da mais-valia nas entranhas da produção capitalista. Na célebre equação da composição orgânica do capital, Marx mostrou que, quanto maior for o capital constante menor será a taxa de lucros do capitalista. As mudanças tecnológicas de nosso tempo, como sempre ocorreu no capitalismo, tendem a aumentar o volume de investimentos em maquinarias e matérias-primas (capital constante), e a diminuir o volume da mão-de-obra empregada (capital variável). Essa é a realidade visível em qualquer empreendimento capitalista moderno, que acena com a realização próxima do sonho dos capitalistas de todos os tempos: uma fábrica sem operários (Sandroni, 1987, p. 76).
“A classe operária continua a ter papel central na luta pelo socialismo”
Se a tese de Marx é correta – e penso que continua correta – a pergunta decorrente das teses que sobrevalorizam as modernas transformações tecnológicas é a seguinte: se o capital constante é tudo, e o capital variável nada, e se essa alteração na composição orgânica do capital gera a tendência à queda na taxa de lucros, de onde sairá o lucro capitalista, numa economia cuja base tecnológica e produtiva esteja fundamentada em semelhante composição orgânica do capital – onde o capital variável, os salários, o trabalho do operário não estejam presentes? É preciso responder também a essa pergunta para poder afirmar ou negar aquelas teses atualizadoras. Por enquanto, fechando este parêntese polêmico, e analisando a evolução da luta de classes no Brasil desde a desagregação da ditadura militar, é visível que, apesar das mudanças tecnológicas em curso, a classe operária continua a ter um papel central na luta política em nosso país.
O silêncio imposto pela ditadura de 1964 aos trabalhadores durou pouco mais de uma década. Os primeiros anos heróicos da retomada da luta de massa dos trabalhadores foram marcados pelo movimentos de protestos de 1973 contra a política salarial da ditadura e pelas grande greves de 1978 a 1980, com suas assembléias de massa e enfrentamento claro e aberto da ditadura e dos padrões com ela identificados. Nunca é demais lembrar a grande greve de 1980, que infringiu séria derrota política à ditadura, ao colocar em xeque o projeto de abertura política controlada pelo alto e que visava à institucionalização do regime militar.
A rebeldia operária do final dos anos 1970 retomava, assim, em grande estilo, a tradição das lutas operárias de massa, que vem desde o início do século, e que se apresentou de forma decisiva e moderna no período de 1945 a 1964, quando passou rapidamente das questões econômicas às exigências políticas, chegando mesmo a vetar a escolha de um primeiro-ministro claramente identificado com as forças de reação. Esse movimento foi derrotado, entretanto, em 1964. E um dos pretextos dos golpistas foi, justamente, o crescimento da organização operária, fora do controle do governo e dos patrões.
“Sob a ditadura militar a classe operária cresceu nas cidades e no campo também”
A derrota dos trabalhadores pela ditadura militar foi temporária, mas deixou graves prejuízos. Um deles, talvez o principal, foi o corte profundo do desenvolvimento da cultura política socialista da classe operária brasileira, com o reforço do caráter assistencialista e burocrático-administrativo dos sindicatos, paralelamente a um esforço para apagar a memória das lutas operárias do período anterior e abastardar a consciência de classe, limitando sua atividade apenas às reivindicações de caráter econômico que, mesmo assim, só podiam ocorrer nos limites draconianos da legislação trabalhista da ditadura.
Mas, contrariamente, a ditadura militar também criou condições para que a classe operária brasileira crescesse, se modernizasse e se transformasse na força política e social que é hoje. Ao aprofundar o desenvolvimento capitalista no país, os militares criaram as condições objetivas – grandes fábricas com milhares de operários, concentração dos trabalhadores assalariados nas grandes cidades, esvaziamento do campo, degradação das condições de vida das massas populares, relações de trabalho coercitivas e muitas vezes desumanas – que tornaram inevitável o reaparecimento do protesto operário.
Sob a ditadura militar, a classe operária cresceu, transformou-se na principal força entre os trabalhadores assalariados brasileiros. Além disso, cresceu também a proletarização do campo, com o desenvolvimento do capitalismo agrário e a generalização do assalariamento rural, traduzido no fenômeno dos bóias-frias dos anos 1970 e 1980. Nas cidades acentuou-se a proletarização de grandes setores da antiga pequena burguesia – trabalhadores de serviços como médicos, professores, bancários etc.
“Nos anos 1960 e 1970 ficou mais nítida a contradição entre os de baixo e os de cima”
No período anterior, por exemplo, o movimento dos trabalhadores era mais propriamente operário, e seu esteio era principalmente a fábrica. Os trabalhadores rurais viviam esmagados na sub-cidadania a eles imposta nas fazendas, e seus protestos eram reprimidos à bala por uma elite saudosa dos tempos da escravidão. A pequena burguesia afundava-se no pântano das ilusões de um estilo de vida e de trabalho que a confundia com as classes dominantes, às quais frequentemente se aliava na defesa da ordem constituída. O desenvolvimento capitalista dos anos 1960 e 1970 polarizou essa situação de classe e tornou mais nítidos os contornos da contradição entre os debaixo e de cima.
Cresceu a mobilização dos trabalhadores rurais. A pequena burguesia foi cindida, e setores importantes dessa camada, assalariados, criaram suas entidades profissionais e foram para o campo da luta sindical e política dos trabalhadores.
Assim, juntamente com os operários e os proletários rurais, a luta dos trabalhadores está hoje enriquecida pela presença e militância dos demais setores assalariados que estão na base da população brasileira.
Essa luta política dos trabalhadores tem uma expressão partidária diversificada. O PCdoB, nas condições democráticas conquistadas pelos trabalhadores com a desagregação da ditadura militar, vive o mais longo período de legalidade de sua história, luta clara e abertamente para o socialismo, e procura organizar a vanguarda do movimento operário democrático para formular um projeto socialista que incorpore o projeto crítico das experiências socialistas tentadas na União Soviética e no Leste europeu. Ao lodo dele, outros partidos de trabalhadores e de socialistas alinham-se na luta por um mundo mais justo, como PT, PSB, PPS, setores do PDT e do PMDB, e mesmo do PSDB; eles são expressão da rica, contraditória e diversificada luta dos trabalhadores e dos democratas brasileiros.
“O predomínio agora é do grande capital monopolista do Brasil e do estrangeiro”
No campo das classes dominantes, hoje o predomínio do grande capital é inconteste. Sua face mais visível é a Fiesp, mas incorpora também federações semelhantes do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros estados; a Febraban e os banqueiros; as associações comerciais, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro; as Câmaras do Comércio, particularmente a Brasil/Estados Unidos; a Sociedade Rural Brasileira etc. A velha aliança dos proprietários – banqueiros, industriais, empresários rurais, capital estrangeiro, latifundiários tradicionais – reformula-se, e o predomínio que antes era do setor agroexportador aliado ao capital estrangeiro, agora é do capital monopolista brasileiro e estrangeiro. Os latifundiários tradicionais aparentemente passam a uma posição subordinada nessa aliança, cabendo-lhes o papel de reserva político-eleitoral para viabilizar, através do voto que ainda comandam, a legitimidade do exercício do poder em detrimento dos setores populares da sociedade brasileira.
Essa aliança de classes proprietárias que estão no vértice da sociedade brasileira procura – desde a promulgação da Constituição de 1988 – criar as instituições adequadas ao domínio da burguesia e seus aliados no quadro de uma ordem democrática formal, onde ocorram eleições, os partidos políticos funcionem e o Congresso Nacional tenha participação efetiva no exercício do poder. Por isso, insistem em criar restrições à livre organização partidária e adotar o voto distrital. Querem também fortalecer o controle do poder executivo pelos agentes da aliança de proprietários. Esse foi o sentido do parlamentarismo conservador derrotado no plebiscito de 1993. Ao lado disso, esforçam-se por subtrair o Congresso Brasileiro à legítima pressão dos setores populares, seja isolando-o em uma redoma de vidro, em Brasília, seja insistindo na idéia de que o mandato parlamentar deve ser exercido apenas no plenário do Congresso, e não nas ruas, nas cidades, nas lutas ao lado do povo.
Contra esse projeto da elite brasileira, hoje mais do que nunca, está na ordem-do-dia a necessidade de formular, e propagar aos quatro cantos do país, uma proposta autônoma da classe operária, que se dirija ao conjunto dos trabalhadores assalariados – dos pequenos e médios patrões do campo e da cidade aos intelectuais, e aos funcionários públicos; um projeto que permita a organização dos setores explorados pelo capital brasileiro e internacional –, no esforço para construir um país novo, mais avançado, mais justo e independente. E esse projeto só pode ser um projeto socialista, formulado pela vanguarda organizada da classe operária brasileira e adequado às condições históricas particulares de nosso país.
* Jornalista.
Bibliografia
ANDRADE, Manuel Correia de. A terra e o homem do nordeste. São Paulo. Brasiliense, 1973.
AZEVEDO, Carlos & ZAGO JR., Guerino. Do tear ao computador – as lutas pela industrialização no Brasil, São Paulo, Política, 1989.
BURSZTYN, Marcel. O poder dos donos – planejamento e clientelismo no nordeste. Petrópolis: Vozes, 1984.
COSTA PINTO, Luiz de Aguiar. Sociologia e desenvolvimento. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978.
GORENDER, Jacob. Gênese e desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987.
GUIMARÃES , Alberto Passos. Quatro séculos de latifúndio. São Paulo: Fulgor, 1964.
MELNIKOV, A. N. A estrutura de classes dos Estados Unidos, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
PEREIRA, Duarte. “Industrialização deformada”, Retrato do Brasil, v. 2, São Paulo: Política, 1984.
Retrato do Brasil, v. 3, São Paulo: Política, 1984.
RUY, José Carlos. Do escravo ao metalúrgico. Retrato do Brasil v.1. São Paulo, Política 1984.
SANDRONI, Paulo. Dicionário de Economia. São Paulo: Best Seller, 1987.
SLATER, Phil. Origem e significado da Escola de Frankfurt. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
SODRÉ, Nelson Werneck. História da burguesia brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976.
EDIÇÃO 38, AGO/SET/OUT, 1995, PÁGINAS 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35