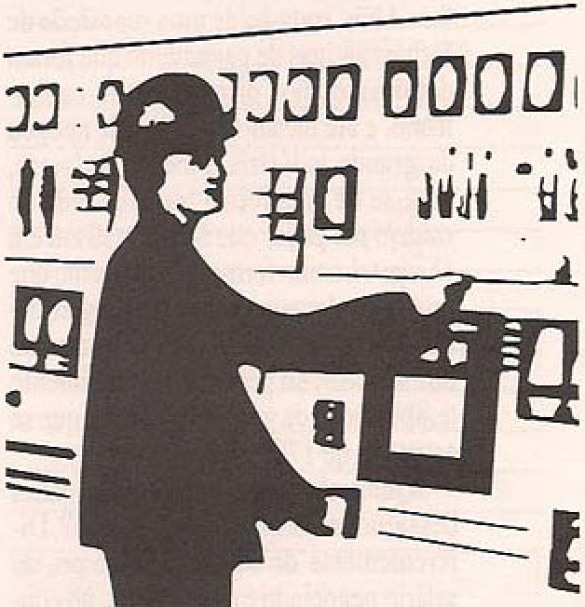Desde 1984, um grupo formado por Francisco Soares Teixeira, fulano e ciclano, reuniu-se regularmente aos domingos para uma tarefa árdua: estudar O Capital de Karl Marx. Os dois anos iniciais foram de preparação – estudaram a filosofia e a economia anteriores a Marx, para melhor penetrar nos labirintos da dialética.
O resultado desse esforço está registrado num livro publicado no ano passado pela Editora Ensaio: Pensando com Marx, reune as anotações feitas por Francisco José Soares Teixeira nesse período de estudos, do qual extraímos o trecho abaixo. Trata-se de uma vigorosa defesa da atualidade do pensamento marxista e que, por isso, merece a atençào dos herdeirtos desse pensamento.
José Carlos Ruy
Numa época em que o pensamento ontológico é considerado um pensnebto superado, numa época em que a racionalidade das ciências reduziu a raão a uma ciência supostamenter livre de valor, impõe-se, por força desse negativismo, perguntar como se justifica um livro comentando O Capital, quando se diz que essa obra há muito tempo foi superada pela emergência de uma nova realidae, qualitativamente diferente daquela em que viveu Marx.
O tom de pessimismo que transparece nessa questão é revelador do espírito de um tempo marcado por uma profunda crise no campo do saber, habitado por consepções relativas do pensar e por um ceticismo que chega ao limiar do niilismo. Esse comportamento negativista não é um mero fenômeno de consciência: ele se nutre da crise econômica anunciada desde o final da década de 60 e que se prolonga até os dias de hoje. Essa crise guarda características peculiares, que a distinguem das crises anteriores. Reportando apenas a uma dessas singularidades, parece bastante improvável que a presente crise seja seguida de uma nova fase prolongada de crescimento acelerado, pelo menos num horizonte próximo. Alega-se que um novo boom de crescimento e prosperidade econômica, semelhante àquele verificado no período que vai desde o final da Segunda Guerra Mundial até meados da década de 70, não seja mais possível. Esse prognóstico pessimista apóia-se no fato de que a crise não pode mais provocar uma desvalorização massiva de capitais existentes, pré-condiçào necesária para a retomada da taxa média de lucros. ( Ver, a esse respeito, o livro de Ernest Mandel, A crise do Capital: os fatos e sua interpretação marxista,São Paulo,Ensaio, 1990.) Dentre os valores apontados, que vêm pondo obstáculos à recuperação da taxa de lucros, ressalta-se a intervenção estatal. O argumento usado é mais ou menos o seguinte: o Estado, ao impedir a falência de grande parte dos capitais não competitivos, bloqueia o desenvolvimento das forças produtivas e, assim, dificuta a rtetomada do crescimento de taxas próximas àquelas verificadas nos anos 50 e 60.
Diante desse quadro aporético, convém voltar à questào anteriormente levantada: que sentido teria a leitura comentada de uma obra, quando se diz que seu conceitos e formas não são mais adequados para responder às necessidades do presente? Noutras palavras, argumenta-se que a estrutura de articulação de inteligibilidade do real de O Capital só tem sentido sob a premissa de seus limites históricos, visto que seu objetivo de estudo de uma realidade historicamente determinada, portanto, afetada peal historicidade da realidade social. Em consequ6encia disso, alega-se que essa estrutura não é capaz de dar conta de novos fenômenos do capitalismo comtêmporâneo. O argumento geralmente usadopara demonstrar essa superação histórica são transformações radicais por passarem o processo de produção e a emergência de novas práticas por que passaram os processos de produção e de emerg6encia de novas práticas e poderes do Estado. Acredita-se que essa ordem de acontecimentos implodiu as bases sobre as quais se assenta a teoria do valor-trabalho, jogando por terra seu núcleo racional.
Desenvolvendo melhor essa ordem da argumentos, quando se diz que as transformações operadas nos processos de produção implodiram a realção valor-trabalho, revela-se como tema de discussão o seguinte: a introdução da microeletrônica, da robótica, de novos materiais de produção e de novas fontes de energia nos processos de trabalho deslocou o trabalho como unidade dominante de produção da riqueza. Agora, é a ciência que é levada à condição de primeira força produtiva. Por isso, o trabalho passa por uma verdadeira revolução no sentido de que, doravante, a atividade produtiva passa a se fundar em conhecimentos técnicos-científicos, em oposição ao trabalho rotineiro, repetitivo e desqualificado, que predominou na fase do capitalismo liberal e nas primeiras décadas desse século. Em consequência dessa revolução, o trabalhador não é mais considerado como simpels apêndice da máquina, mas sim como sujeitoque regula o processo de trabalho, em vez de ser por ele regulado. E o mais contundente de tudo isso, é o fato de se julgar essa inversão como representando a libertação material do trabalhador em relação à objetividade anônima dos processos de trabalho. ( Para uma discussão dessas transformações por que vêm passando os processos de trabalho, ver Ruy Fausto,”A pós-grande indústria nos Grundrisse ( e para além deles)”, in Lua Nova, revista de cultura e política, novembro de 1989,n.19.)
Levando mais adiante essas transformações por que vem passando o capitalismo, argui-se que a intervenção estatal pôs abaixo a clássica separação entre estrutura e superestrutura, de tal modo que a polítca não pode mais ser julgada apenas como um fenômeno superestrutural. Em apoio a ess tipo de argumento, lança-se mão de fato de que a economia não mais subsiste como um sistema auto-regulado e abandonado a si mesmo. Hoje a valorização do valor passou a depender dos mecanismos das políticas econ6omicas estabilizadoras dos ciclos econômicos. Por conta dessa repolitização da economia, Habermas, por exemplo, acredita que a força estruturadora e socializadora do trabalho abstrato perdeu sua eficácia. Em favor disso, ele argumenta que os determinantes do tempo do trabalho socialmente necessário se apóiam, atualmente, em critérios validados politicamente. Consequentemente, a ideologia da troca de equivalentes, ainda de acordo com Habermas, desmascarada teoricamente por Marx, foi destruída na prática. Esse desmoronamento prático da troca justa torna supérflua a tarefa da teoria do fetichismo, que consistia em desvelar o “local oculto” da produção, isso é o segredo da mais-valia.
Posta a natureza das objeções à validade histórica das análises do O Capital, pode-se passar a sua crítica. Importa então perguntar se todas trasformações alegadas por que passo o captalismo podem ainda ser pensadas a partir da estrutura categotial de O Capital. Noutras palavras, poder-se-ia indagar se essa nova realidade plasmada anula a análise marxiana e seus resultados.
No seu sentido mais geral, pelo menos, não é difícil responder a essas objeções. O capitalismo é um modo de produção afetado de negações que se tornam claras, quando se tem presente o modo como Marx as expõe em O Capital, na seção V do livro I ele apresenta o capitalismo como um sistema que se desenvolve através e por meio da criação de uma sucessão de formas, que surgem em decorrencia da luta do capital, para criar uma base adequada às sua exigências de valorização. Assim se explica, na história do capitalismo, o aparecimento das formas de cooperação simples, manufatura, grasnde indústria. Nessa última forma, o capital eliminou todas as bareiras que impossibilitavam de dominar o trabalho. Realmente, a grande indústria destruiu o trabalho virtuoso, na medida em que, a partir de então, são as máquinas que empregam o trabalhador, e não o contrário, como ocorria nas formas anteriores. De modo que, assim pela primeira vez, o trabalho abstrato ganhou uma realidade tecnicamente tangível. Como assim? A nivelação geral das operações permitiu o deslocamento dos trabalhadores, efetivamente ocupados, de uma máquina para a outra, em tempo muito breve e sem a necessidade de um adestramento especial.
Além dessa nivelação geral do trabalho, a grande indústria possibilitou ao capital libertar-se dos limites de um mercado basicamente determinado pelo consumo pessoal. A criação de um departamento especializado na produção de máquinas, equipamentos, instalações etc. deu liberdade ao capital para investir além da capacidade de consumo pessoal da população. E o mais importante é que a criação desse departamento, ao permitir a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, deu condições ao capital para controlar o nível e o movimento dos salários, posto que a demanda por trabalho passou a crescer menos do que a procura por esses instrumentos mudos de trabalho.
Vê-se, assim, que a grande indústria se apresenta como sendo aquela forma em que todas as barreiras que impediam a dominação do capital sobre o trabalho foram superadas. Ressalta-se, porém, que essa superação não permite ao capital se afirmar como sujeito absoluto, no sentido forte do absoluto hegeliano. E não o pode porque os meios aos quais ele recorre para impor sua dominação sobre a sociedade são, ao mesmo tempo, negadores desse absoluto. Realmente, para erigir-se como força que aspira a tudo dominar, o capital precisa desenvolver, incondicionalmente, as forças produtivas. Ao fazê-lo, ele “nega” as bases de sua própria valorização: o trabalho vivo como criador de valor.
A grande indústria não pôde eliminar essa contradição. Ao contrário, ela a aguçou ainda mais, o que levou o sistema a se deparar com uma das duas possibilidades: (1) ou reiniciar uma nova sucessão de formas de produção de mercadorias, (2) ou desembocar numa crise final, decretando, assim, a morte do próprio sistema.
As transformações ocorridas hoje no sociedade capitalista, e antes referidas, atestam que, dessas duas possibilidades, a primeira foi a que de fato se concretizou. Realmente, as modificações operadas nos processos de produção se fizeram em nome do capital. Por conta disso, o desenvolvimento da ciência, que se tornou a primeira força produtiva, não redundou na criação de um tempo livre de trabalho, como possibilidade concreta para o pleno desenvolvimento das capacidades intelectuais e espirituais dos indivíduos. Enquanto o desenvolvimento das forças produtivas for mediado pela forma capital, o saber técnico e científico permanece uma mercadoria chave e fundamental na concorrência capitalista. E na concorrência, como diz Marx, “(…) não se põem como livres os indivíduos, senão que se põe como livre o capital”. Assim sendo, a promessa de liberdade, que a concorrência traz em si, se inverte em não liberdade; não porque as forças produtivas, depois de certo estágio de desenvolvimento mesmo se realiza dentro de uma forma social fetichizada, de uma forma social coisificada, em síntese, de uma forma social que é formada de desenvolvimento não do homem, mas do capital.
Mas para se restringir apenas aos efeitos imediatamente diretos das inovações por que passaram os processos de produção, pode-se argumentar que o domínio das ciências sobre os processos produtivos não dispensou o trabalho vivo como fonte produtora de valor e de mais-valia. É claro que as grandes unidades de capital transformaram o lay-out de suas estruturas produtivas num gigantesco esqueleto mecânico, em cujas vértebras se pode caminhar metros e mais metros sem encontrar uma “viva alma”. Embora esse esqueleto possa se automovimentar, tenha nele mesmo a fonte de seu movimento mecânico, ele, contudo, precisa de uma fonte “externa” que o alimente. A subcontratação é essa fonte. As grandes corporações contam hoje com uma rede de pequenas e microempresas espalhadas ao seu redor, que têm como tarefa fornecer os inputs necessários, para serem transformados em outputs por aquele monstro mecânico. Além disso, essas grandes unidades de produção contam com um enorme contingente de trabalhadores domésticos, artesanais, familiares, que funcionam como peças centrais dentro dessa cadeia de subcontratação. Constituem-se todos como fornecedores de trabalho “materializado”, porque, agora, a compra e venda de força de trabalho são veladas sob o véu da compra e da venda de mercadoria semi-elaboradas. Segundo Havey:
“A atual tendência dos mercados de trabalhadores é reduzir o número de trabalhadores centrais e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra facilmente e é demitida sem custos quando as coisas ficam ruins. Na Inglaterra, os ‘trabalhadores flexíveis’ aumentaram em 16%, alcançando 8,1 milhões entre 1981 e 1985, enquanto os empregos permanentes caíram em 6%, ficando em 15,6 milhões (…) Mais ou menos no mesmo período, cerca de um terço dos 10 milhões de empregos criados nos EUA estavam em categorias temporárias”. (David Harvey, op. cit., p. 44)
Mas isso está longe de constituir o fim do trabalho abstrato, enquanto forma de estruturação e socialização dos trabalhos privativos. Ao contrário, trata-se de uma forma de dispêndio de trabalho que levou às últimas conseqüências o trabalho abstrato, como forma específica e particular de produção de valor e de mais-valia. Com efeito, esses “novos” trabalhadores, metamorfoseados em vendedores de “trabalho objetivado”, porque não mais fazem parte da estrutura interna da empresa, são obrigados a fazer do seu trabalho pessoal a razão do seu sucesso como produtores de mercadorias. Como sua capacidade empresarial depende diretamente do seu esforço pessoal, do seu trabalho próprio, sua atividade, mais do que nunca, é para eles um meio que lhes permite existir. É o ter que trabalhar para viver. Por isso, suas vidas são invadidas pelo trabalho, o que faz deles meros suportes de uma atividade que tem nela mesma sua finalidade e sua razão de ser.
Levando mais longe essa radicalização do trabalho abstrato na realidade contemporânea, descobre-se que essa sua nova estruturação potencializa enormemente a exploração da mais-valia. Isso pode ser demonstrado quando se analisam as peculiaridades características das formas de pagamento do trabalho. Aliás, trata-se de uma reposição de formas antigas de pagamento que foram dominantes nos primórdios do capitalismo, e até mesmo na época de apogeu da grande indústria. Noutras palavras, trata-se de uma forma transfigurada do salário por peça, que Marx analisou em O Capital, como forma de pagamento que serviu de alavanca para o prolongamento do tempo de trabalho e rebaixamento dos salários, no período de crescimento tempestuoso da grande indústria, que se estendeu de 1787 a 1815.
Quais são, então, as peculiaridades dessa nova forma de pagamento? Diferentemente do salário por tempo, do salário negociado e estabelecido no contrato de trabalho, a receita dos trabalhadores, “vendedores de trabalho objetivado”, ao contrário, depende do quantum de mercadorias que eles fornecem às unidades finais de produção. O valor do seu dia de trabalho se mede pelo trabalho dispendido, pelo número de unidades que produzem. Seu salário é, portanto, determinado por sua capacidade de produção por unidade de tempo.
A particularidade dessa forma de pagamento transforma-a numa das mais adequadas ao modo de produção capitalista. Ela se torna uma fonte fecunda de descontos salariais e de fraudes dos capitalistas. Não é difícil imaginar por quê. Como a qualidade do trabalho passa a ser contratada pelo produto, são as unidades finais de produção que estabelecem esse controle. E elas o fazem mediante um manual de procedimentos que especifica o tipo de produto e/ou serviço exigidos. E não é só isso. Elas predeterminam o tempo de trabalho necessário de cada produto e serviço – conseqüêntemente, também os seus preços. Com relação ao primeiro aspecto, o controle de qualidade, a unidade final de produção submete os vendedores de “trabalho materializado” a uma vigilância constante, que se faz por meio de auditorias periódicas. Nessas auditorias verifica-se se os produtos têm arranhões ou outro tipo qualquer de defeito que prejudique sua qualidade. Caso isso ocorra, os custos são suportados pelos fornecedores, que poderão perder, inclusive, seus contratos de venda. Quanto ao tempo de trabalho necessário que deva ser dispendido em cada unidade de mercadoria ou venda de serviço, a empresa compradora fixa esse tempo e faz dele a base de pagamento de seus fornecedores. Se o fornecedor consume tempo maior do que aquele determinado pela empresa, ele é obrigado a arcar com os prejuízos. (Para uma análise mais demorada dessas formas de contratos entre fornecedores e compradores, veja Francisco José Soares Teixeira, “Terceirização: os primeiros serão os últimos”, in Fontes de estudo sobre o mercado de trabalho, Fortaleza, Sine/CE, 1993.)
Mas isso não fecha de todo o processo de potencialização de produção de mais-valia que essa nova forma de trabalho abstrato encerra. Nessa nova forma, o trabalhador se torna, ele próprio, uma fonte potencializada de auto-exploração. Visto que seu salário depende da quantidade de mercadorias produzidas por unidade de tempo, é de seu interesse, diz Marx, ao analisar as características do trabalho por peça, “(…) aplicar sua força de trabalho o mais intensamente possível, o que facilita ao capitalista elevar o grau normal de intensidade. Do mesmo modo, é interesse pessoal do trabalhador prolongar a jornada de trabalho, pois com isso sobe o seu salário diário ou semanal” (O capital, v. II, p. 141).
Finalmente, há ainda que se destacar que essa nova forma de estruturação do trabalho abstrato abre espaço para o surgimento de todo tipo de parasitas que se interpõem entre o capitalista e o trabalhador: o subarrendamento do trabalho. Torna-se lugar comum hoje o que era prática na Inglaterra no século passado, e que Marx assim constatou: “(…) O salário por peça permite ao capitalista concluir com o trabalhador principalmente (…) um contrato de tanto por peça, a um preço pelo qual o próprio trabalhador principal se encarrega da contratação e pagamento de seus trabalahdores auxiliares. A exploração dos trabalhadores pelo capital se realiza aqui mediada pela exploração do trabalhador pelo trabalhador” (Id. ibid., p. 141).
FRANCISCO JOSÉ SOARES TEIXEIRA é Professor de Filosofia da Universidade Estadual do Ceará. Este artigo é parte de um capítulo do livro Pensando com Marx, editado pela Ensaio (São Paulo) em 1995.
EDIÇÃO 42, AGO/SET/OUT, 1996, PÁGINAS 75, 76, 77, 78