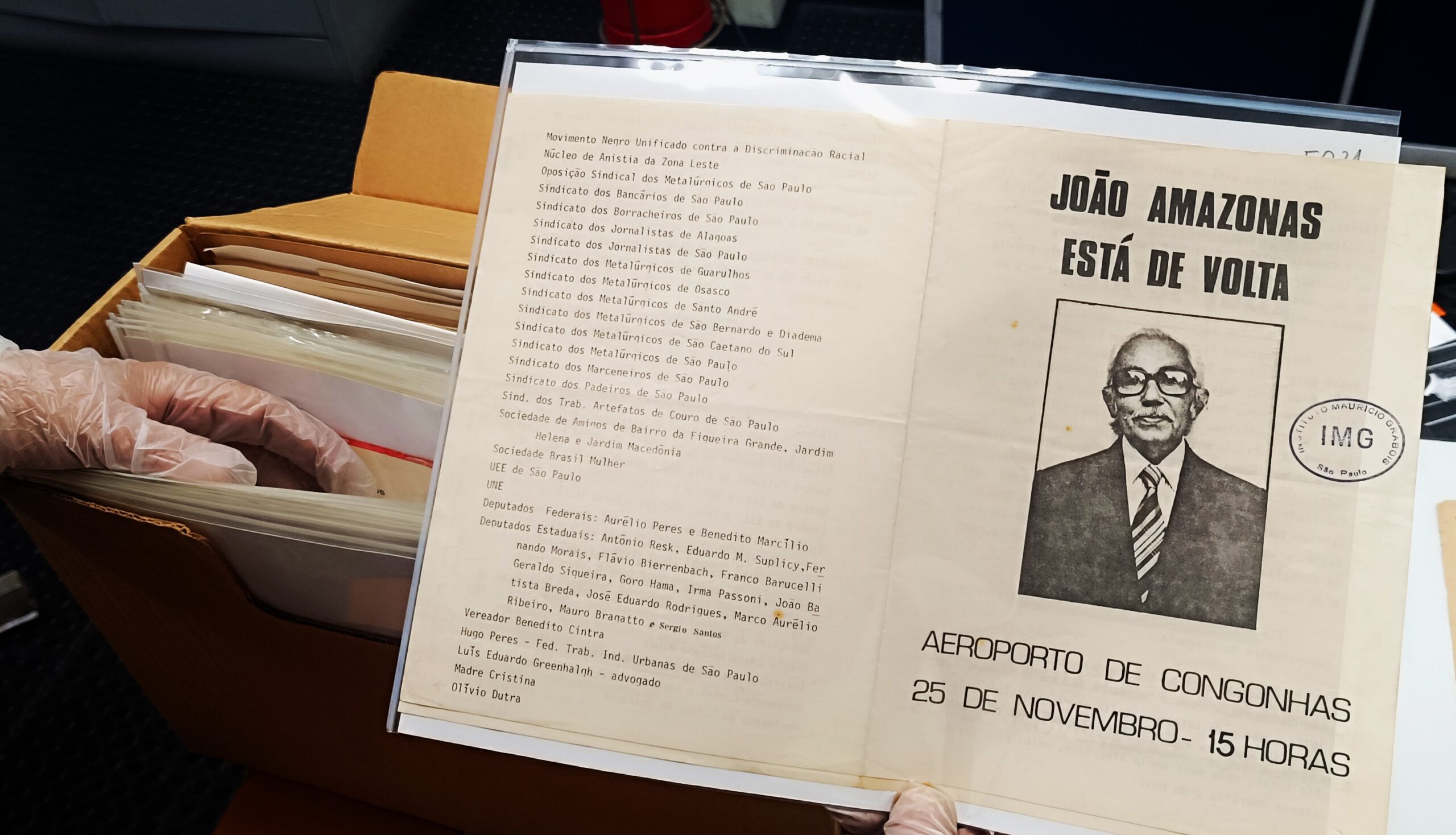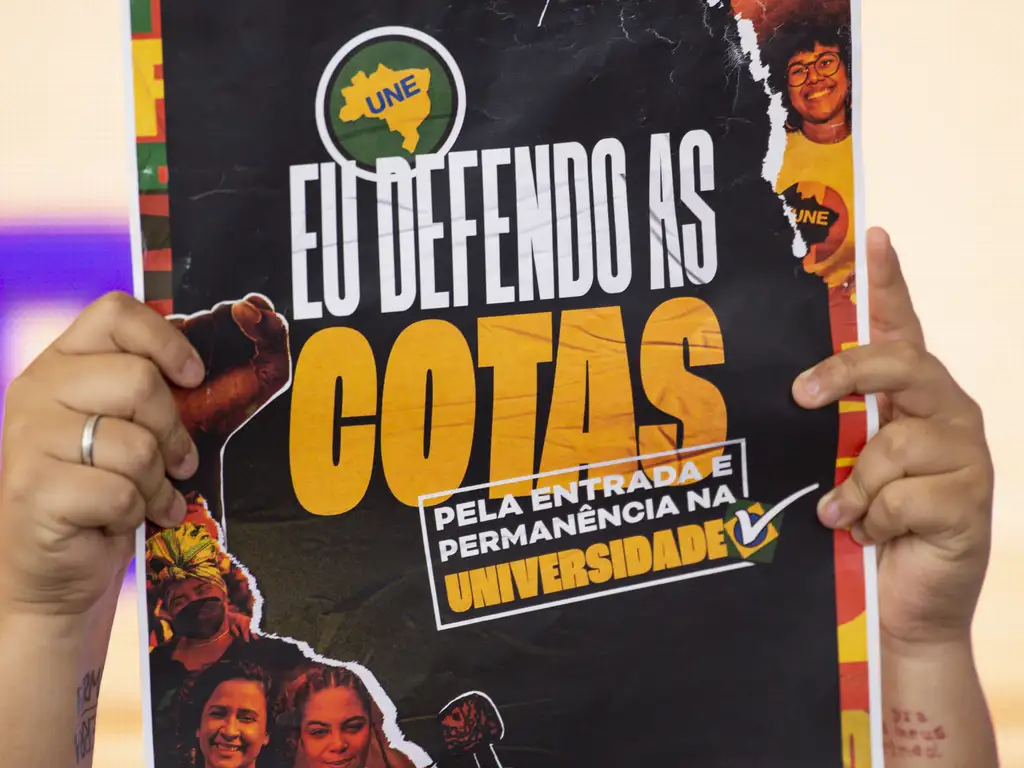Globalização e administração tributária são dois temas bastante diferentes, mas relacionados em alguns aspectos significativos. O curioso é que o tema da “globalização”, que faz muito mais sucesso, é provavelmente um tema menos importante, do ponto de vista prático. É sintomático do estado do debate público no Brasil, que uma questão fundamental, como é a da administração tributária, desperte tão pouco interesse da opinião pública, enquanto um tema de valor duvidoso, de apelo em grande medida ideológico, como o da “globalização”, tenha impacto tão extraordinário. Seja como for, vou procurar tratar dos dois assuntos e fazer uma ponte entre eles, começando pela “globalização”.
É impressionante como nos últimos dois ou três anos esse tema da “globalização” ou “mundialização” da economia empolgou o debate público nacional. Em uma cidade como São Paulo, não passa uma semana sem que ocorra algum evento relacionado a esse tema. Os organizadores de seminários e debates descobriram que esse é um chamariz tão grande, que quando se quer discutir temas específicos, de interesse de um determinado grupo profissional ou acadêmico, sempre convém introduzir a palavra globalização no título. Temos um professor na USP, no Instituto de Estudos Avançados, o Jacob Gorender, que recentemente queria fazer um seminário sobre organização industrial e discutir assuntos como fordismo, taylorismo e modelo japonês. Espertamente, decidiu chamar o debate de “Globalização, Revolução Tecnológica e Relações de Trabalho”. Choveu gente.
Mas, na verdade, a exposição do Professor Gorender tratou relativamente pouco da chamada globalização. Como ninguém sabe direito o que é isso, não fez muita diferença e o seminário foi um sucesso.
Não estava nos meus planos de pesquisa tratar do tema da “globalização”. Sempre desconfiei que essa era uma discussão muito mais ideológica do que real. Mas a quantidade de solicitações que recebi nos anos recentes para me manifestar sobre essa questão foi de tal ordem, que acabei sendo obrigado a examiná-la mais detidamente. Pois bem. Quanto mais examino os dados referentes à economia internacional nas últimas décadas, mais me convenço de que está havendo um enorme exagero quanto ao alcance efetivo do processo de internacionalização da atividade econômica e quanto às suas consequências políticas e sociais. A própria palavra globalização é inadequada, dá uma idéia incorreta do que acontece no mundo hoje. Por motivos que explicarei em seguida, trata-se de um termo carregado de conotações ideológicas. A meu ver, só deveria ser usado entre aspas para denotar distanciamento e até ironia.
Vou procurar argumentar que o grau de integração das economias nacionais existente hoje no mundo, embora significativo e crescente, não é tão expressivo quanto sugere o uso indiscriminado de palavras como “globalização” ou “mundialização” da economia. Na verdade, o debate sobre a economia internacional adquiriu uma dimensão quase fantasiosa. A palavra “globalização” parece ter algo de mágico, que provoca encantamento ou pânico. E a onda em torno do assunto não é casual. Tem a ver com a dinâmica política da discussão pública nas sociedades modernas, especialmente nas sociedades modernas, especialmente nas sociedades periféricas como a brasileira.
Antes de mais nada, queria deixar bem claro, para que não haja qualquer mal-entendido, que é inegável o aumento das transações econômicas internacionais, apoiado em progressos tecnológicos e inovações em áreas como informática, telecomunicações e finanças. Nos últimos 30 anos, houve crescimento expressivo do comércio internacional de bens e serviços, dos investimentos diretos e dos empréstimos e financiamentos internacionais. Mas é preciso resguardar-se – e essa é a mensagem básica que eu queria trazer aqui – contra a carga de fantasia e mitologia que se constrói em cima dessas tendências reais, que são bem mais limitadas do que sugere o barulho em torno do assunto.
A ideologia da globalização cumpre duas funções básicas. Em primeiro lugar, a de propagar a idéia de que existe um processo irresistível em curso na economia mundial. Segundo essa concepção, o que cabe à sociedade, aos sindicatos, às corporações profissionais e aos Estados nacionais é simplesmente se adaptar a esse movimento inexorável da economia mundial, comandado por forças tecnológicas e pelas grandes corporações, ditas transnacionais, que operam no plano internacional.
Essa é a história que estão tentando nos contar.
O atual presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, tem sido um dos principais propagadores dessa discussão no Brasil nos últimos anos, desde o tempo em que era ministro das Relações Exteriores no governo Itamar Franco. Em diversas entrevistas e pronunciamentos oficiais, como ministro das Relações Exteriores, depois como ministro da Fazenda e agora como presidente da República, Fernando Henrique Cardoso tem insistido na tese de que estamos diante de uma nova realidade mundial: “A globalização é um fato, uma realidade”, diz o presidente, “e não adianta lutar contra fatos; temos que nos adaptar a esse quadro e tirar o melhor partido das tendências mundiais, contra as quais não há o que fazer”.
Não se deve perder de vista que a palavra “globalização” é altamente conveniente, porque tem conotações positivas em termos dos valores e anseios da humanidade. Para os incautos, “globalização” sugere um processo de unificação do mundo, de formação de uma única sociedade mundial, sem conflitos ou fronteiras, acima dos egoísmos nacionais. Isso tem apelo muito forte e atende ao imaginário de grande parte da humanidade, que anseia pela paz, pela unificação e pelo congraçamento universal. Então, essa palavra, que mascara tanta coisa, que exagera tanta coisa, é politicamente muito potente. Ela tem um conteúdo falsamente positivo, que seduz muita gente. Quem aqui não viu uma propaganda da IBM, que tem sido repetida em horário nobre em vários canais de televisão, sobre a formação de um mundo unificado através da tecnologia da informática? Começa com um senhor africano, vestido com roupas típicas, falando na sua língua, com legendas em português, sobre a mudança fabulosa pela qual está passando o nosso planeta. Depois, surge uma menina falando francês: “o mundo está ficando menor”. Em seguida, aparecem pessoas de várias nacionalidades e diferentes idiomas, russos, americanos, asiáticos, latino-americanos, todos celebrando a unificação do mundo, todos unidos pela computação. E a propaganda termina como emblema da IBM. Nessa propaganda, como em tantas outras, joga-se com o valor positivo que tem para nós, a integração mundial, a paz entre os povos e a confraternização geral, supostamente numa base de igualdade.
O termo “economia global” é impróprio pois insinua um grau de integração que não existe; os mercados nacionais continuam a preponderar sobre as transações internacionais
O rolo compressor da propaganda sedutora da “globalização” é tão forte, que a discussão de praticamente todos os temas tem sido, de alguma maneira, afetada por ela, inclusive a do tema da administração tributária. Também aqui se percebe a influência, em geral nefasta, das noções exageradas sobre a “globalização”. Alega-se, por exemplo, que com a “globalização”, os Estados nacionais estão sendo obrigados a reduzir a carga tributária, sob pena de verem as empresas e os indivíduos de alta renda transferirem as suas atividades produtivas e aplicações financeiras para países com tributos mais leves. Alega-se, também, que a “globalização” do capital e o crescimento do comércio intra-firma dificultam enormemente o controle dos impostos e, em especial, o estabelecimento ou a manutenção de um sistema progressivo de tributação. Tentarei argumentar que há muito exagero nessas alegações e que o discurso dos imperativos da “globalização” tem sido usado para paralisar o pensamento crítico, particularmente nos países que compõem a periferia subdesenvolvida. Criou-se uma visão mitificada, distorcida da economia internacional, com o propósito, ou pelo menos o efeito, de fazer crer que não há outro caminho para países como o Brasil senão o de aceitar uma adaptação passiva, uma integração subordinada.
Vou basear a exposição em trabalho de pesquisa em andamento no âmbito do Instituto de Estudos Avançados da USP. Pretendo tratar de cinco pontos. Primeiro, procurarei mostrar que a chamada globalização é, sob vários pontos de vista, uma falsa novidade. Esse é um ponto importante, pois um dos aspectos mais sedutores da ideologia da globalização é a idéia de que estamos vivendo uma nova era, cheia de promessas e oportunidades. Não é difícil argumentar que muitas das supostas novidades da chamada globalização são fatos e processos antigos, que reaparecem sob nova roupagem. O apelo a falsas novidades não é acidental. Vivemos numa época dominada por um forte preconceito a favor do novo e do progresso. Todos os movimentos ideológicos que conseguem conquistar a etiqueta da novidade, mesmo que indevidamente, alcançam uma vantagem inestimável.
Isso foi feito pelo liberalismo nos últimos 25 anos. Sem a menor justificativa, passou a se falar em “neoliberalismo”, para fazer referência a um movimento político-ideológico que representava, na verdade, uma tentativa de restaurar o liberalismo do século XIX. Trata-se de um movimento profundamente regressivo, retrógrado. “Paleoliberalismo” teria sido um termo mais adequado. No entanto, seus adversários aceitaram a designação “neoliberal”, e passaram a se referir ao velho, caquético liberalismo do século XIX como se fosse algo de novo. O mesmo fenômeno enganoso, traiçoeiro, está sendo criado com as falsas novidades da chamada globalização.
Vou argumentar, em segundo lugar, que o grau de internacionalização que hoje existe é muito mais limitado do que se imagina. Como já disse, o próprio termo “economia global” é impróprio, pois insinua um grau de integração que não existe. Em todos os campos, até no terreno financeiro, os mercados nacionais continuam a preponderar sobre as transações internacionais. O que temos é uma economia internacional, e não uma economia global.
Em terceiro lugar, vou tratar do mito do declínio generalizado do Estado. Essa é uma noção amplamente aceita no Brasil. Tentarei mostrar que é uma fantasia para consumo de incautos. O Estado pode estar em declínio em países da África e em boa parte da América Latina, mas não está em declínio nos países bem-sucedidos, particularmente nos países desenvolvidos.
Em quarto lugar, vou abordar outro mito muito comum aqui no Brasil, que é a idéia de que predominam empresas “transnacionais”, que operam sem lealdades nacionais, acima das fronteiras. Mais uma vez, a própria palavra é enganosa, pois a grande maioria das empresas que operam internacionalmente são empresas com base nacional definida.
Em último lugar, comentarei a questão da administração tributária no Brasil. Esse tema tem sido praticamente ignorado nos últimos dois anos, apesar de constituir inegavelmente uma dimensão decisiva da reforma tributária, sobretudo no caso de um país como o Brasil em que os órgãos responsáveis pela administração de impostos e contribuições sociais padecem de deficiências crônicas de recursos humanos e materiais. Para fazer face aos desafios associados ao aumento das transações internacionais e à maior integração da economia brasileira com o resto do mundo, é indispensável fortalecer e modernizar a administração tributária.
Peço paciência da platéia para mencionar e mostrar alguns números. Sei que isso é cansativo, mas é indispensável. Um dos grandes defeitos do debate sobre “globalização” no Brasil é justamente a falta de atenção aos números. Em geral, a discussão se faz com base em noções vagas, em evidências anedóticas ou em comentários específicos sobre empresas ou setores, sem uma referência aos dados macroeconômicos internacionais. Naturalmente, isso facilita a propagação de mitos e fantasias.
“Globalização” como falsa novidade
“Globalização” é a palavra da moda para um fenômeno muito antigo, que remonta à expansão da civilização européia, desde o final do século XV. Foram as grandes navegações, iniciadas por Portugal e Espanha, que deram partida à formação gradual de um mercado mundial. Portanto, o que está na origem do que hoje se conhece como “globalização” é a colonização, processo que, como se sabe, gerou uma ampliação das desigualdades entre os países colonizadores e os países colonizados. Cabe até perguntar se o fascínio pelo tema da “globalização” em países como o Brasil não seria um reflexo atávico da mentalidade colonial.
Diga-se de passagem que não são apenas economistas de direita ou “neoliberais” que vêm dando curso à ideologia da “globalização”. Muitos autores e economistas de esquerda também gostam de fazer uma certa onda em torno do assunto. Já se formou até uma pequena indústria acadêmica de esquerda, que se especializou em produzir textos, em geral de qualidade duvidosa, sobre a “globalização” como nova etapa de desenvolvimento do capitalismo “financeirizado”, como nova forma “dinâmico-estrutural” do capital, enfim, todo um linguajar pretensioso, que disfarça a falta de análise e pesquisa e a falta de atenção às realidades concretas.
Recorde-se, por exemplo, o período anterior à Primeira Guerra Mundial. Entre 1860 e 1914, existiu um sistema econômico internacional, com grau significativo de integração dos mercados nacionais. Em diversos aspectos, a integração internacional naquele período era comparável, e às vezes até maior, do que a que existe hoje.
Um fato pouco conhecido e surpreendente é que só por volta de 1970 a participação do comércio exterior na produção mundial recuperou o nível alcançado em 1913, logo antes da Primeira Guerra. Outro dado surpreendente: os Estados Unidos importavam em 1890 o equivalente a 8% da sua renda nacional. Em 1993, a relação importação/renda era de 11%, um aumento modesto, sobretudo quando se considera que a economia americana é hoje menos protecionista do que era no final do século XIX.
Ao contrário do que diz a propaganda neoliberal, na maioria dos países ricos os gastos públicos cresceram na última década
Outras economias eram ainda mais abertas ao comércio internacional no século passado. No final da Primeira Revolução Industrial, na década de 1850, a Inglaterra exportava mais de 40% do PIB, mais do que exporta hoje como proporção do PIB.
Por esses e muitos outros dados, verifica-se o quanto é falsa a idéia de que estaríamos vivendo, neste final do século XX, um fenômeno inteiramente sem precedentes de integração internacional das economias. Essa ilusão decorre, em parte, do fato de que o grau de integração observado nas décadas recentes é, de fato, bem maior do que o que existia nos anos 50 e 60. Entre 1914 e 1945, as guerras mundiais, o nacionalismo, a grande depressão e o protecionismo destruíram a economia aberta que existiu na “belle époque”, fato que merece alguma consideração da parte dos crentes na irreversibilidade dos processos históricos.
Os dados relativos a investimentos internacionais levam à mesma conclusão. Os fluxos de investimentos diretos no exterior eram muito expressivos nas décadas que antecederam a Primeira Guerra Mundial. O estoque de investimentos diretos dos Estados Unidos no exterior não chegava a 7% do PNB no início dos anos 90, um percentual inferior ao registrado em 1900. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha tinha investimentos no exterior em valor superior ao seu estoque de capital doméstico, recorde que nenhum dos principais países alcançou desde então.
Se o tempo permitisse, seria possível dar vários exemplos desse tipo. Gostaria, apenas, de referir-me a mais uma questão crucial: a da migração internacional. No final do século XIX e início do século XX, a economia internacional era mais integrada no que se refere às possibilidades de movimentação da mão-de-obra entre países. Recentemente, o governo dos Estados Unidos divulgou um censo da população nascida no exterior e residente naquele país. Em março de 1996, um pouco menos de 10% da população dos EUA era nascida no exterior, de pais não-americanos. Em 1910, a proporção era de 14,7% de moradores nascidos no exterior.
Os dados disponíveis mostram que os fluxos internacionais de mão-de-obra eram muito maiores naquela época do que atualmente. Desse ponto de vista, e apesar de toda conversa sobre “globalização”, o que houve foi introversão. Os países desenvolvidos não querem nem ouvir falar em abrir as suas fronteiras aos imigrantes de países da África, Ásia ou da América Latina. Nesse particular, é marcante o contraste com a “belle époque”, época em que se construiu inclusive uma Estátua da Liberdade, na entrada de Nova Iorque, para dar as boas-vindas aos imigrantes. Hoje, não. Hoje, os imigrantes são recebidos a tiros na fronteira dos EUA com o México. Recentemente, a polícia francesa invadiu uma igreja em Paris para enjaular imigrantes africanos ilegais, causando um escândalo de proporções internacionais.
Diante disso tudo, que sentido faz falar em “globalização” ou “unificação do mundo” como uma nova e inédita etapa da história da humanidade? Às vezes, fica a impressão de que estamos em face de uma gigantesca empulhação, de uma manipulação sistemática de informações. Afinal, os dados que utilizei até agora, e que ainda vou utilizar na sequência, estão publicados. E nem sempre são de acesso tão difícil. No entanto, raramente chegam ao conhecimento da opinião pública.
Limites da “Globalização”
O segundo ponto que gostaria de comentar é o alcance relativamente limitado do processo recente de internacionalização. Além de não ser um fenômeno inteiramente novo, a chamada globalização não tem a dimensão que se lhe quer atribuir. Não tem qualquer fundamento, em especial, a idéia de que a expansão das atividades internacionais, comandada por empresas ditas transnacionais ou multinacionais, estaria levando à destruição das fronteiras e tornando os Estados nacionais obsoletos ou impotentes.
Um fato pouco comentado é que, apesar da rápida expansão das transações econômico-financeiras internacionais, o peso dos mercados internos continua largamente preponderante, sobretudo nas economias de maior porte. Aproximadamente 80% do que se produz na economia mundial são destinados aos mercados internos dos países onde ocorre essa produção. No que diz respeito à geração de empregos, a participação dos mercados internos é ainda maior: a demanda interna é responsável por cerca de 90% dos empregos gerados na economia mundial. E a poupança interna financia mais que 95% do investimento realizado. Em outras palavras: menos de 5% dos investimentos que ocorrem na economia mundial são financiados com poupança externa. Parece evidente que esses dados não se coadunam com a idéia de que já existiria uma economia “global” fortemente integrada, na qual os mercados internos e os Estados nacionais estariam se tornando pouco relevantes.
Do ponto de vista da dinâmica econômica e do desenvolvimento de longo prazo, o componente da demanda agregada que mais interessa é o investimento. Como se sabe, disso depende a formação de capital, a ampliação da capacidade de produzir. Vale a pena, então, apresentar alguns dados sobre o peso que têm os famosos investimentos diretos estrangeiros na formação de capital. É difícil, hoje em dia, abrir um jornal brasileiro e não encontrar uma manchete sobre o fabuloso crescimento dos investimentos diretos estrangeiros. De fato, esses investimentos estão crescendo no Brasil e em muitos outros países. Nos anos 1990, os investimentos diretos estrangeiros, que são aqueles fluxos internacionais de capital que envolvem controle sobre a gestão das empresas nas quais se aplica o capital, aumentaram significativamente como proporção dos influxos totais de capital externo em países subdesenvolvidos.
Apesar disso, esses investimentos diretos estrangeiros representam apenas cerca de 4% da formação bruta de capital fixo na economia mundial, segundo dados da UNCTAD, órgão da ONU, sediado em Genebra, que produz estatísticas detalhadas sobre os investimentos internacionais. Os países desenvolvidos, que dominam por larga margem os fluxos internacionais de investimentos, receberam do exterior, em 1994, investimentos equivalentes a apenas 3,3% da sua formação de capital fixo, um percentual inferior ao observado na segunda metade da década de 80. O Japão, por exemplo, que é dos países desenvolvidos o mais fechado aos investimentos diretos do exterior, acolheu nos últimos 10 anos montantes irrisórios de investimentos estrangeiros. Nunca mais do que 0,3% da formação total de capital realizada na economia japonesa.
O tempo não permite mencionar os muitos outros dados, da UNCTAD e de outras fontes, que confirmam que os investimentos realizados com capital nacional, dentro das economias nacionais, dominam amplamente tanto os investimentos recebidos do exterior quanto os investimentos realizados pelos países desenvolvidos no exterior.
No caso dos países em desenvolvimento, como o Brasil, o peso do investimento estrangeiro é um pouco maior do que na maioria dos países desenvolvidos, mas não é de forma nenhuma dominante. Em 1994, para o conjunto das economias em desenvolvimento, a relação entre o investimento direto estrangeiro recebido do exterior e a formação bruta de capital fixo correspondeu a apenas 7,5%.
Em geral, só em alguns países menores, que têm mercados domésticos limitados, é que o investimento estrangeiro tem peso mais expressivo na formação de capital. Na grande maioria dos países, a criação de capacidade produtiva e, portanto, as perspectivas de desenvolvimento dependem preponderantemente do investimento nacional.
O Mito do Declínio do Estado Nacional
Outro mito associado à ideologia da globalização é o de que o Estado está encolhendo no mundo inteiro. Isso pode ser verdade para os países que estão em declínio, mas não é verdade para os países desenvolvidos. Ao contrário, na maioria dos países desenvolvidos a participação do Estado na economia aumentou, em plena época de suposto triunfo do “neoliberalismo”.
Observem os dados publicados pela OCDE (tabela 1), fonte insuspeita de viés estatizante. A tabela 1 inclui dados para os sete principais países desenvolvidos, o chamado Grupo dos 7, que responde por cerca de 80% do PIB do conjunto dos países membros da OCDE.
Vejam, por exemplo, o gasto público como proporção do PIB. A tabela 1 permite comparar os dados médios do período que marca o início da hegemonia “neoliberal”, 1978-82, com os dados mais recentes, do período 1991-95. Reparem que nos Estados Unidos e no Japão o gasto público como proporção do PIB aumentou como proporção do PIB. Na Alemanha, ficou mais ou menos estável, aumentando ligeiramente. Na França, na Itália e no Canadá, houve aumentos expressivos da relação entre o gasto governamental e o PIB. O Reino Unido é o único país do G-7 que registra um declínio da relação gasto público/PIB, mesmo assim pouco significativo, de 42,8% para 42,7%. Na média do G-7, a relação gasto público/PIB aumentou de 36,3% para 39,4%, a despeito do suposto triunfo do “neoliberalismo”, do Estado mínimo e de outras fantasias que somos obrigados a engolir.
Já cansei de ouvir bons economistas, até mesmo de esquerda, dizerem que nesse mundo “globalizado” não há mais como impor cargas tributárias elevadas. Alega-se que os Estados estão sendo obrigados, em toda parte, a recuar em matéria de tributação, a aceitar uma diminuição dos níveis de tributação. Fala-se muito também na rebelião dos contribuintes, no mundo desenvolvido, contra a tributação exagerada. E, de fato, há uma grande insatisfação com o nível da carga tributária em muitos países.
Mas é curioso notar que a despeito dessa resistência à tributação e da forte restrição que a chamada globalização estaria criando para a capacidade impositiva dos Estados, a carga tributária macroeconômica, definida como a relação entre as receitas correntes do setor público e o PIB, não diminuiu no período recente. Ao contrário, houve aumento na maioria dos países desenvolvidos, em plena época de suposta hegemonia do “neoliberalismo” e de avanço da “globalização”.
Vejam novamente a tabela 1. Os dados de receita incluem as receitas correntes de governos centrais, estaduais e locais. Nos Estados Unidos, a carga tributária ficou aproximadamente estável, aumentou apenas um pouco nesse período. No Japão, aumentou de forma significativa, de 27,4% em 1978-82 para 32,7% em 1991-95. Na Alemanha, aumentou um pouco, de 45% para 45,7%. Na França, na Itália e no Canadá, houve ampliação expressiva da carga tributária. O Reino Unido, de Margaret Thatcher, foi a exceção, registrando queda da carga de 39,6% para 36,9%. Na média do G-7, a carga tributária subiu de 33,5% para 35,9%. De acordo com os relatórios do FMI, esse crescimento da carga tributária se deve, essencialmente, ao aumento das contribuições sociais e dos impostos diretos.
Ressalte-se, mais uma vez, que tudo isso ocorreu em plena época de suposta vigência do chamado neoliberalismo e nas barbas da “globalização”. Os dados agregados referentes à tributação nos países desenvolvidos ainda não estão refletindo as restrições que a “globalização” da produção, do comércio e das finanças estaria pretensamente impondo à administração tributária. Em termos agregados, não há indícios de que os Estados nacionais desses países estejam sendo obrigados a reduzir a sua pressão tributária.
A mesma tabela também mostra que o déficit público aumentou em todos os países nesse período, com exceção do Japão e da Itália. Isso aconteceu apesar da prioridade que a ortodoxia econômica atribui à diminuição do déficit governamental. Observe-se de passagem que a tendência de aumento do déficit público, de 2,9% para 3,5% do PIB na média do G-7, não impediu que esses países tivessem grande sucesso no combate à inflação nesse período. A dívida pública também aumentou substancialmente. Na média do G-7, a dívida bruta subiu de 42,6% do PIB em 1978-82 para 66,2% em 1991-95. A dívida líquida quase dobrou, passando de 22% para 40,4% do PIB (tabela 1).
Outro fato impressionante e pouco conhecido é que o emprego público aumentou como proporção do emprego total nos países desenvolvidos nesse mesmo período. Segundo dados da OCDE, num grupo de 15 países desenvolvidos, que inclui os do G-7 mais sete outros países europeus e a Austrália, nada menos que 13 países registraram aumento de participação do emprego público no emprego total entre 1970 e 1994. Só nos Estados Unidos e no Reino Unido houve queda nessa participação, e só no segundo caso a queda foi significativa.
Quantos aqui presentes já tomaram conhecimento desses dados? Aposto que muito poucos. É impressionante como informações básicas sobre a economia internacional têm pouca circulação no Brasil. Criou-se uma imagem totalmente distorcida do que está acontecendo no mundo. Isso acaba tendo conseqüências práticas. Desde o governo Collor, a política econômica brasileira tem-se caracterizado como uma adaptação passiva não às tendências reais da economia mundial, mas a uma versão mitificada, que circula pelo mundo em busca de consumidores desavisados, uma versão construída para consumo na periferia subdesenvolvida e propagada sistematicamente pelos porta-vozes internacionais e locais das ideologias dominantes.
O Mito das Empresas “Transnacionais”
A outra face do mito do declínio do Estado é o mito de que a economia internacional vem sendo crescentemente dominada por corporações ditas transnacionais ou multinacionais. São palavras, repito, enganosas, porque sugerem a existência de empresas “neutras” do ponto de vista nacional, de empresas que transcendem as nações e operam desgarradas de suas bases ou origens nacionais. A literatura acadêmica sobre a atuação internacional das empresas dos países desenvolvidos não confirma essa imagem; indica, ao contrário, que a grande maioria das empresas continua a ter um centro de gravidade nacional.
São poucas as corporações verdadeiramente transnacionais, isto é, que apresentam um grau de internacionalização, do ponto de vista da geração de empregos, de valor adicionado, de vendas e da distribuição geográfica dos seus ativos, que poderia justificar o uso do termo “empresa transnacional” ou “multinacional”. Em geral, só encontramos empresas que se encaixam de alguma maneira nesse conceito em países desenvolvidos muito pequenos, como a Suíça, Holanda e Bélgica, que são tecnicamente adiantados, mas que contam com um mercado doméstico limitado. Nesses casos, é possível encontrar várias grandes corporações que, de fato, geram uma proporção elevada dos empregos e de suas vendas em filiais no exterior ou que mantêm um percentual elevado de seus ativos fora do seu país de origem. Mas mesmo nesses casos, a idéia pode ser enganosa. Por exemplo, a Nestlé, que é uma das empresas mais transnacionalizadas do mundo (só tem 5% dos seus ativos e empregados na Suíça), limita direitos de voto de estrangeiros a apenas 3% do total.
De uma forma geral, as corporações continuam sendo empresas nacionais. Em 1991, apenas 2% dos membros dos conselhos de administração de grandes empresas americanas eram estrangeiros. E como diz a revista inglesa The Economist, diretores estrangeiros nas companhias japonesas são tão raros quanto lutadores britânicos de sumô.
O comportamento das grandes empresas é caracterizado por uma certa ambivalência. Por um lado, querem propagandear o seu caráter supostamente “transnacional”, querem fazer crer que não têm identificação especial ou preferencial com o país onde se localiza a sua matriz. Por outro lado, nas horas decisivas, costumam pedir o apoio e a intervenção dos seus governos de origem na disputa por mercados e concorrências no mundo inteiro. Quem tiver alguma dúvida sobre esse ponto, que lembre, por exemplo, o empenho que teve o governo dos EUA, durante tanto tempo, para que a empresa americana, Raytheon, ganhasse o comando do Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM). Ou o empenho do governo francês, na mesma disputa, em favor da empresa francesa Thomson.
Portanto, enquanto nós aqui na periferia atrasada do mundo nos deixamos embalar pela retórica da “globalização” e das firmas “transnacionais”, os governos dos países desenvolvidos continuam fazendo o que está a seu alcance para ajudar as empresas de seus países. O grau de consciência sobre essas questões é muito baixo aqui no Brasil. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, poucos se preocuparam em indagar se o consórcio vencedor manteria o centro das decisões da empresa, de fato, no Brasil. A maioria das pessoas que comentaram o tema na imprensa comportou-se como se essa não fosse uma questão relevante. Ora, essa só não seria uma questão importante, se pudéssemos partir da premissa de que a nacionalidade do controle das empresas é um dado secundário, se as empresas fossem realmente neutras do ponto de vista nacional. Mas quando se analisa friamente o comportamento das grandes empresas de atuação internacional, aparece claramente, na maioria dos casos, um viés em favor da base nacional.
Um levantamento realizado por dois pesquisadores ingleses, Paul Hirst e Grahame Thompson, a respeito das corporações dos países desenvolvidos, sugere que algo como 70% a 75% do valor adicionado são produzidos nos países de origem dos grupos empresariais. As atividades de pesquisa e desenvolvimento também se concentram fortemente na base nacional das empresas. Uma pesquisa feita por dois economistas da Universidade de Sussex, Pari Patel e Keith Pavitt, mostrou que as companhias da Alemanha, do Japão e dos Estados Unidos realizam sempre menos que 15% da sua atividade tecnológica fora do país de origem. É na base nacional que a mão-de-obra é treinada para tarefas mais adiantadas, mais sofisticadas.
Dados da OCDE (tabela 2) confirmam o predomínio das atividades domésticas das empresas industriais dos países desenvolvidos. A tabela 2 mostra a participação da produção doméstica na soma da produção doméstica com as vendas das filiais no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, 83% da produção ocorreram dentro do país em 1986 e 80% em 1993. No Japão, 96% em 1986 e 90% em 1995. Na Alemanha, a participação doméstica alcançou 77%, em 1993; na Itália 76%, em 1992. Já no caso da Suécia, uma economia de porte menor, há um maior grau de abertura das indústrias, com cerca de metade da produção realizada no exterior. Mas o que a tabela 2 mostra fundamentalmente é que, nas principais economias do mundo, prevalece por larga margem a produção doméstica.
Outra área em que proliferam impressões muito exageradas quanto à influência das corporações “transnacionais” é o comércio exterior. Esses exageros afetam o debate sobre a questão tributária. É claro que as grandes corporações respondem por uma parte importante do comércio mundial. Quanto a isso não há dúvida. Não há dúvida, também, de que grande parte do comércio internacional se faz entre matrizes e filiais do mesmo grupo empresarial. Evidentemente, isso cria problemas para a administração tributária, em função da prática de preços de transferência, por exemplo, problema que só agora o Brasil está tentando enfrentar mais sistematicamente.
Cabe ressaltar, entretanto, que esse fenômeno da elevada participação de grandes empresas no comércio exterior não é novo. O peso do comércio intra-firma, entre matrizes e filiais, também não é um fenômeno novo. E também não é verdade que exista uma tendência geral de expansão do peso das grandes empresas nos fluxos totais de comércio exterior. Observem, por exemplo, que nos Estados Unidos a participação das “multinacionais” nas exportações totais do país era substancialmente maior em 1982 do que em 1992 (tabela 3). Do lado das importações, os percentuais são bem menores, e houve uma ligeira queda na participação dessas empresas. No Japão, as “multinacionais” têm peso muito grande do lado das exportações, mas o aumento foi pouco expressivo entre 1983 e 1992. Do lado das importações, a participação dessas empresas é muito menor: 19% em 1983 e 23% em 1992 (tabela 3).
O comércio intra-firma é apresentado, às vezes, como fenômeno avassalador, que estaria reduzindo drasticamente as possibilidades de tributar as empresas de atuação internacional. A tabela mostra que os percentuais são significativos, mas não predominantes. O comércio entre matrizes e filiais respondia por pouco mais de 20% das exportações dos EUA e por menos de 20% das importações em 1992. No caso do Japão, o percentual era um pouco maior do lado das exportações, mas muito menor do lado das importações. Na França, alcançava um pouco mais de 20% das exportações e apenas 7% das importações de manufaturados em 1993 (tabela 3).
Em suma, toda essa discussão está dominada por exageros e falsas novidades. De um modo geral, há uma tendência a subestimar o poder de intervenção e controle dos Estados nacionais e a superestimar a influência e o grau de manobra de empresas consideradas “transnacionais” ou “multinacionais”.
Administração Tributária no Brasil
Finalmente, gostaria de fazer algumas observações sobre o tema da administração tributária no Brasil. Trata-se, obviamente, de um aspecto fundamental da atuação do Estado. Qualquer programa sério de reforma e fortalecimento do Estado brasileiro deve dar destaque a essa questão. Como já foi mencionado, o aumento do grau de abertura comercial e financeira da economia, em particular, requer um esforço de adaptação e modernização da parte dos órgãos encarregados da administração dos tributos.
Infelizmente, no ambiente de “estadofobia” que prevaleceu no país nos anos recentes, todas as discussões relacionadas à área pública têm ficado em segundo plano ou têm sido tratadas com preconceito e grande superficialidade. A verdade é que enquanto não conseguirmos remover o entulho que colocaram em nossas cabeças durante anos de propaganda intensa, vai ser muito difícil retomar em bases adequadas o debate sobre a reforma do serviço público, inclusive no que diz respeito à administração tributária e ao fortalecimento dos órgãos responsáveis pela fiscalização e arrecadação de impostos e contribuições sociais, em nível federal, estadual e municipal.
Vejam, por exemplo, a forma como está sendo conduzida a questão da reforma administrativa. Criou-se a impressão de que o Estado brasileiro não consegue ajustar as suas contas porque há um excesso de funcionários públicos, protegidos indevidamente pela estabilidade no emprego. Essa é a mensagem que se passou para a opinião pública. O brasileiro médio acredita piamente que, enquanto o mundo inteiro se moderniza e reduz o peso do Estado, o Brasil tem um setor público inchado, com funcionários indemissíveis.
Como vimos, não é esse o quadro nos países desenvolvidos. Também não é verdade que exista um excesso generalizado de funcionários públicos no Brasil, ainda que possa haver excessos localizados, em determinados setores ou regiões.
No caso da administração tributária, o problema não é excesso de quadros, mas sim de insuficiência de quadros, especialmente de funcionários qualificados. Além disso, como se sabe, os órgãos da administração tributária vêm tendo a sua atuação prejudicada pela escassez de recursos materiais, particularmente na área da informática.
Esses e outros problemas da administração tributária no Brasil refletem, na verdade, um problema mais profundo. O grande economista Nicholas Kaldor, um dos principais discípulos de Keynes, escreveu certa vez que nos países subdesenvolvidos as pressões políticas conduziam a uma administração tributária inoperante. “Um sistema fiscal ineficiente”, dizia ele, “será sempre preferido por todos aqueles a quem um sistema adequado e eficiente possa afetar; e, como estes são justamente os que formam os grupos de maior influência na sociedade, surgem os mais formidáveis obstáculos políticos contra a criação de qualquer sistema eficaz de tributação”. No mesmo sentido, o ex-secretário da Receita Federal, Osiris Lopes Filho, observou que uma das características do subdesenvolvimento é que as classes dirigentes não permitem a montagem de um aparelho arrecadador eficiente e se colocam, assim, à margem da tributação.
Essas palavras descrevem com perfeição o que acontece no Brasil. É inacreditável que, embora estejamos discutindo, há anos, reformas administrativas e tributárias, o tema da administração tributária tenha ficado praticamente ausente do debate público. Tudo se passa como se a reforma tributária se resumisse à criação de um novo arcabouço legal, como se não fosse necessário um instrumental administrativo, na forma de funcionários qualificados, prestigiados, adequadamente remunerados, com equipamento tecnológico atualizado e acesso às informações relevantes. Na concepção dominante, tudo isso não passa de detalhe.
O debate público de questões fundamentais para o país se encontra num estado lamentável. E o governo se omite em aspectos fundamentais para o fortalecimento do sistema tributário e da administração pública. Evidentemente, são omissões politicamente motivadas. A fragilidade da administração tributária é altamente conveniente para segmentos poderosos da sociedade brasileira. É essa fragilidade que permite a existência de uma casta de privilegiados, que se comporta como se não tivesse, de fato, obrigações tributárias relevantes.
Durante a gestão de Osiris Lopes Filho, no governo Itamar Franco, a Secretaria da Receita Federal produziu e tornou públicas algumas avaliações sobre o grau de indisciplina tributária dos setores de alta renda no Brasil. Ficou demonstrado que, de maneira geral, os detentores de rendimentos e patrimônio elevados recorrem a uma série de expedientes – a inadimplência, o planejamento tributário, a contestação judicial e a sonegação pura e simples – para escapar de suas obrigações tributárias. Esses estudos da Receita tiveram grande destaque nos meios de comunicação no momento em que foram divulgados.
Mas o destaque foi momentâneo. Veio o governo Fernando Henrique Cardoso e mudou a orientação da Receita Federal, que passou a dar menos ênfase ao combate à evasão. O tema do fortalecimento da administração tributária praticamente sumiu da pauta de discussões. E a discussão da reforma tributária foi retomada sob o pressuposto tácito de que o problema se reduz, essencialmente, à reforma da legislação constitucional e infraconstitucional.
Tudo isso faz parte de um processo mais amplo, de desarticulação do Estado e de desarmamento intelectual a que temos sido submetidos nessa nossa parte da orla subdesenvolvida do mundo. Para reverter esse processo é preciso, entre outras coisas, que os brasileiros, intelectuais, economistas, jornalistas, políticos e funcionários públicos, tenham a disposição de pensar mais por conta própria, à luz do interesse nacional. Disso faz parte um esforço para perceber o que está realmente acontecendo no mundo e para superar as ilusões e os chavões propagados por essas ideologias da “globalização”, do “fim do Estado nacional”, do predomínio de corporações “transnacionais” desvinculadas das suas origens nacionais, etc. Enquanto não conseguirmos ir além dessas mitificações será muito difícil iniciar uma discussão séria e objetiva de temas prioritários do ponto de vista da reconstrução do Estado brasileiro e do desenvolvimento do país.
* Professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e pesquisador-visitante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo.
** Palestra realizada em 13 de maio de 1997 no Fórum Paralelo Nossa América, em evento patrocinado pelo Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. Transcrição da gravação revista pelo autor.
Bibliografia
BATISTA JR. Paulo Nogueira. “Economia e Ideologia: Aspectos da Questão Tributária”, Novos Estudos Cebrap, n. 41, mar. 1995.
___________. “Mitos da Globalização”, Instituto de Estudos Avançados, Universidade de São Paulo, versão preliminar, mai. 1997 [mimeo].
FERRER, Aldo. Los Ciclos Económicos en la Argentina: Del Modelo Primario Exportador al Sistema de Hegemonía Financiera. Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1995.
FERRO, Marc. História das Colonizações: Das Conquistas às Independências, Séculos XIII a XX. São Paulo, Schwarcz, 1996.
GORENDER, Jacob. Globalização, Revolução Tecnológica e Relações de Trabalho. Série Assuntos Internacionais – 47, Instituto de Estudos Avançados, Universidade de São Paulo, set. 1996 [mimeo]
HIRST, Paul & THOMPSON, Grahame. Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance. Cambridge, UK, Polity Press, 1996.
INTERNATIONAL Monetary Fund. World Economic Outlook. Washington, DC, May, 1996.
KALDOR, Nicholas. “Tributação e Desenvolvimento Econômico”, Revista Brasileira de Economia, ano 11, n. 1, março de 1957.
KRUGMAN, Paul. “The Localization of the World Economy”. In: Paul Krugman. Pop Internationalism. Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1996.
LOPES FILHO, Osiris. “Imposto Bom é Imposto Velho: Entrevista a Bernardo Gouthier de Macedo”, Novos Estudos Cebrap, n. 42, jul. 1995.
PATEL, Pari & PAVITT, Keith. “Large Firms in the Production of the World’s Technology: An Important Case of ‘Non-Globalisation’”, Journal of International Business Studies, Volume 22, Number 1, First Quarter 1991.
SECRETARIA da Receita Federal. “Evasão Fiscal dos Grandes Contribuintes”, Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação, nov. 1993 [mimeo].
____________________________. “Programa Grandes Fortunas”, Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação, 1994 [mimeo].
TANZI, Vito & SCHUKNECHT, Ludger. The Growth of Government and the Reform of the State in Industrial Countries. IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, December 1995 [mimeo].
UNITED Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report 1996: Investment, Trade and International Policy. Geneva, 1996.
EDIÇÃO 46, AGO/SET/OUT, 1997, PÁGINAS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15