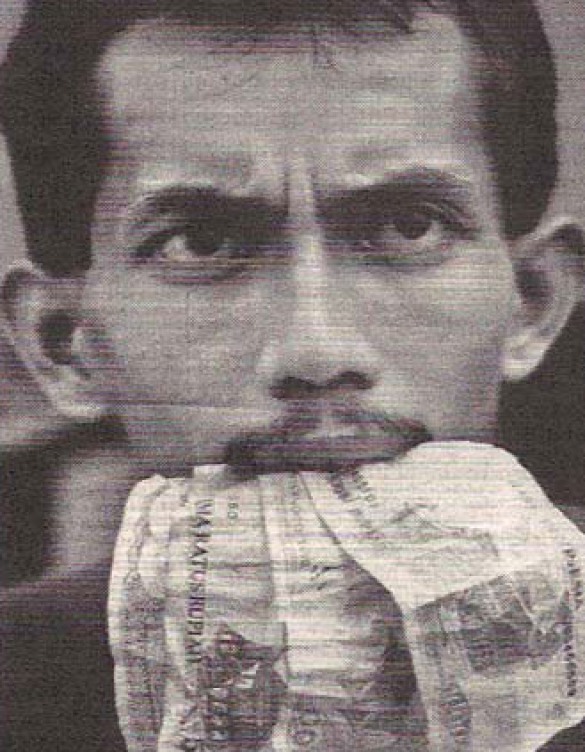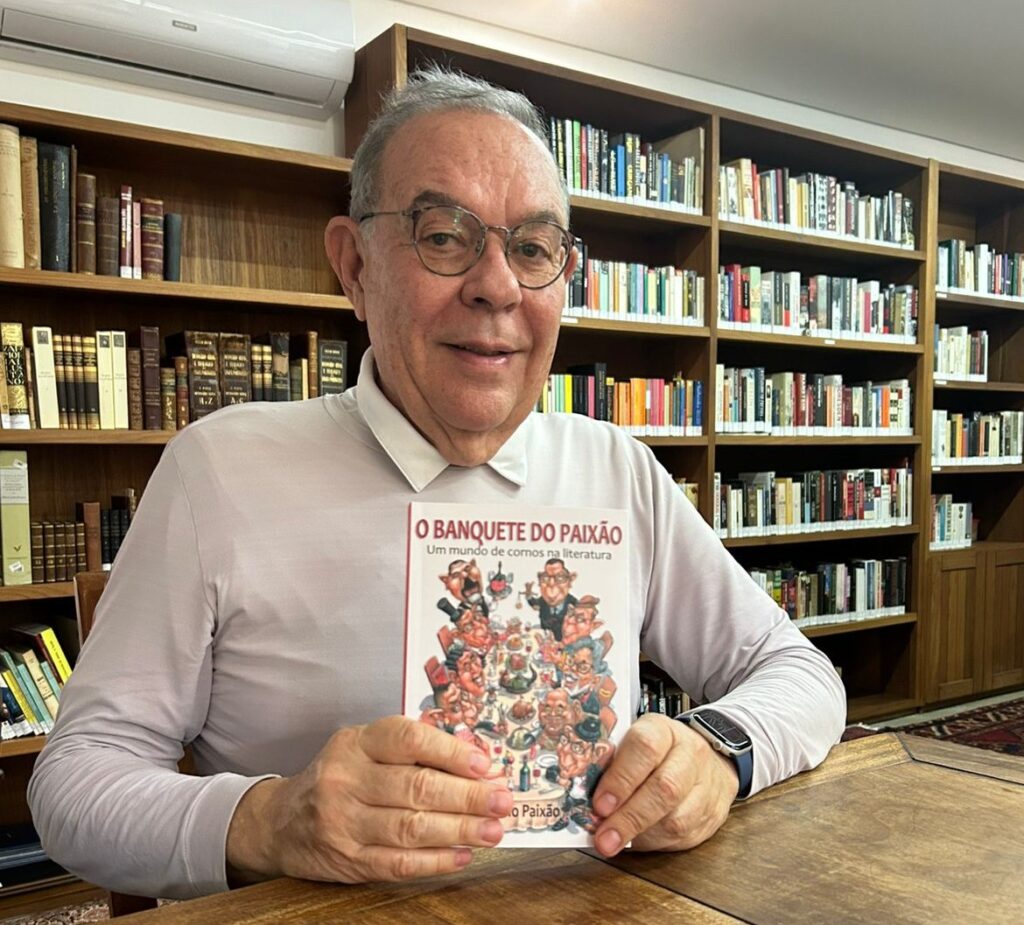Há mais de um semestre prossegue a crise na Ásia. Moedas, bolsas, bancos e conglomerados econômicos constituem, seqüencialmente ou paralelamente, os pontos do roteiro dessa queda espetacular. Propagam-se variadas abordagens sobre esses fatos. A crise seria imputada ao chamado modelo asiático, condenando certa intervenção e linha desenvolvimentista do Estado. Os Estados Unidos, exemplo de liberalismo econômico, exibem crescimento e seriam incólumes à atual turbulência.
Inicialmente, há que se observar que o abalo asiático sucede, em patamar elevado, à queda do México em fins de 1994 e em 1995. Antes da queda, esse país latino tinha feito o dever de casa, segundo o ponto-de-vista neoliberal: mais de mil empresas estatais privatizadas, abertura comercial e financeira, orçamento público equilibrado. O México tinha sido admitido na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o clube dos países desenvolvidos, e fazia parte da inauguração da vigência do NAFTA (Tratado de Livre Comércio da América do Norte).
Essas crises – mexicana e asiática – são manifestações concretas e formas de explicitação da crise do sistema capitalista, independentemente de peculiaridades de política econômica. A orientação neoliberal cumpre o papel de agravar os fatores das flutuações econômicas. Em conjunto, a economia mundial, apesar das diferenciações regionais, está hegemonizada pela estratégia deflacionista e privatista. Refluíram os embaraços para a atuação do imperialismo. Avança a financeirização da economia. O capitalismo está entregue às suas próprias leis de movimento, sem espaço para a tentativa de suposta regulação keynesiana.
A vez da Ásia
As precedentes três décadas assistiram ao avanço econômico, industrial e tecnológico dos tigres da Ásia. Multiplicaram-se os investimentos estrangeiros. Ampla industrialização, grande velocidade de crescimento, alta poupança doméstica, baixa inflação, capacidade exportadora, elevado nível da educação, melhoria (no Leste) na renda per capita são alguns componentes deste ascenso. Era assim o mapa da aparente marcha do desenvolvimento asiático: 1) Japão, o país hegemônico regional; 2) Leste, a região dos tigres; e 3) Sudeste, a área dos futuros novos tigres. Mas, desde o ano passado, a crise financeira, inclusive dívidas de curto prazo, cortou o caminho desse progresso econômico.
No decênio sessenta, o desenvolvimento era confinado no Japão. Nos oitenta confirmou-se a relativa ascensão da Coréia do Sul, Taiwan e das cidades-Estado Hong Kong e Cingapura. Expansão regional produtiva japonesa, toyotismo, política industrial, esforço exportador e os vínculos entre conglomerados produtivos, bancos e Estado compõem a trajetória econômica asiática.
Na década de 80, diferentemente da América Lati na, os países em desenvolvimento na Ásia, exceto Filipinas, foram importadores de capitais. O investimento estrangeiro direto (IED) é significativamente mais elevado nos fluxos de capitais para a Ásia do que no caso do subcontinente latino, onde a maioria dos recursos se destina a investimentos de carteira. Por exemplo, em 1993, o IED alcançou US$ 44 bilhões nos países em desenvolvimento na Ásia e registrou US$ 15 bilhões na América Latina. Ainda neste mesmo ano, 1993, o investimento de portfólio foi de US$ 22,9 bilhões nos referidos países asiáticos, enquanto este tipo de investimento registrava US$ 61,8 bilhões nas economias da América Latina.
As altas taxas de crescimento motivaram a atração de US$ 80 bilhões de investimentos diretos para os países em desenvolvimento na Ásia (excluindo, obviamente, o Japão), enquanto a América Latina era receptora de US$ 39 bilhões, em 1996.
No Japão, durante a segunda metade dos anos 80, cresceram enormemente os preços dos ativos financeiros, particularmente em relação ao setor imobiliário. A Bolsa de Tóquio alcançou elevada valorização. Os bancos japoneses tornaram-se os maiores do mundo. A fabulosa riqueza financeira japonesa entrou em crise, estourando a bolha especulativa, registrando, no período de janeiro de 1990 a agosto de 1992, uma queda de 2/3 do valor de face das ações na Bolsa de Tóquio, significando prejuízos financeiros de mais de US$ 3 trilhões.
Em seguida, a conseqüente trajetória recessiva do Japão nos anos 90, apesar de débeis recuperações, impactaria a evolução econômica regional, mais cedo ou mais tarde.
Em 1996, o mercado acionário de Hong Kong tinha um volume de negócios de US$ 1,5 bilhão por dia, enquanto, comparativamente, a bolsa no Brasil girava US$ 500 milhões de dólares diariamente. Não havia suficiente base real local para sustentar esse gigantesco movimento bursátil em Hong Kong, uma cidade, colônia na época, com 6 milhões de habitantes.
O acúmulo de fatores como sobrevalorização cambial, dívida externa, déficits nas transações correntes, bancos com elevados créditos de liquidação duvidosa criou as condições para a eclosão da crise no Sudeste asiático em julho de 1997. Ações são vendidas e saem os investimentos externos, fazendo declinar as bolsas. As taxas de juros foram drasticamente elevadas, mas disparou a demanda por dólares e desvalorizaram-se as moedas locais. Posteriormente, em outubro, a crise avança sobre Hong Kong e irrompe o crash nas bolsas no mundo. E em janeiro de 1998, consumou-se nova onda da crise asiática com desvalorizações das moedas locais e outra rodada de queda das bolsas de valores globalmente.
A indústria japonesa e asiática detém 48% das vendas de semicondutores no mundo. Localizam-se na Ásia (Japão e Coréia) 12 dentre os 20 maiores fabricantes de semicondutores. Assim, a retração desse mercado de tecnologia da informação no segundo semestre de 1996 haveria de, também, contribuir para as dificuldades seguintes em 1997 na economia regional asiática.
O cataclisma asiático foi surpreendente, inesperado, um raio num céu de verão para aqueles que não compreendem a contemporânea instabilidade financeira sistêmica e a flutuação cíclica da economia. É de perplexidade a reação dos adoradores das certezas, perfeição e racional idade dos mercados. Ignorando o dinamismo das contradições inerentes ao modo de produção capitalista, apologistas, diante dos efeitos de longo prazo da aceleração da expansão internacional do capital, das inovações tecnológicas, da reestruturação produtiva e da incorporação dos mercados do Leste europeu, enxergam, de forma unilateral e enviesada, a aparição de novas características de adaptação, consistência e reforço do capitalismo.
"Os tailandeses ajudam os tailandeses"
A crise da dívida externa gerou a década perdida dos anos oitenta na América Latina. Agora, volta a eclodir nova crise de endividamento, desta vez, começando por países asiáticos. Neste caso, além dos pesados passivos públicos, há expressiva participação de devedores privados. É acentuada a concentração de obrigações de curto prazo. As reservas internacionais sendo superadas pelo montante de obrigações vencíveis a curto prazo, então acelera-se a fuga de capitais. A desvalorização cambial contribuirá, nas atuais circunstâncias, para a inflação, recessão e insolvência de empresas endividadas. Surge o debate sobre a moratória na Tailândia, Indonésia e Coréia do Sul, entre outros.
A propagação internacional da crise não interessa à oligarquia financeira. A crise não pode atingir o ponto de questionamento do próprio sistema capitalista. O pagamento das dívidas deve ser honrado. O "efeito tequila" da crise mexicana foi relativamente limitado, atingindo alguns países latinos como o Brasil e causando maiores problemas na Argentina, mas a repercussão da crise asiática é muito maior. A crise começando no Sudeste Asiático, espraiou-se pelo Leste dessa região, ecoa no Japão e contribui para suscitar episódios de queda de bolsas de valores em todo o mundo. Os empréstimos coordenados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) não têm sido suficientes para aplacar o ímpeto da crise. Os volumes de recursos são elevados, esvaziando as reservas do FMI e criando relativas dificuldades à participação de outros países. A imposição de políticas monetária e fiscal contracionistas e draconianas têm resultado em maiores dificuldades, realimentando o pânico financeiro na Ásia.
A própria experiência passada da América Latina mostra que a intervenção do Fundo implicará em estagnação e retrocesso econômico e maiores desigualdades sociais. Isso tem motivado algumas resistências dos países asiáticos afetados pela crise e que vinham de trajetória de forte ritmo de crescimento econômico.
A Tailândia, agora em janeiro de 1998, decidiu renegociar o acordo que tinha sido assinado com o FMI em agosto do ano passado, envolvendo a "ajuda" de US$ 17,2 bilhões. O governo tailandês não considera possível satisfazer, por exemplo, a condição imposta pelo Fundo de obtenção de superávit de 1% (em relação ao PIB, Produto Interno Bruto) na execução do orçamento público deste ano, apesar dos aumentos de impostos e corte dos gastos. A própria recessão rebaixará a arrecadação tributária.
No acordo com o FMI, o baht foi previsto para uma cotação de 32 por dólar, mas já caiu a 50,9 por dólar em janeiro deste ano, apesar das atuais altas taxas de juros. Governantes desse país avaliam que "os efeitos das medidas do FMI foram piores do que os previstos, e a confiança não se restabeleceu"(1).
"Os tailandeses ajudam os tailandeses" é o lema da campanha organizada pelo governo da Tailândia para que o povo doe ouro, a ser arrecadado durante um mês pelas forças armadas, a fim de pagar a dívida externa. Esse endividamento alcança US$ 92,5 bilhões. As reservas internacionais desabaram. O povo trocaria ouro por bônus públicos, gerando-se nova dívida interna.
A Tailândia está pedindo ao Japão e aos credores de sua dívida externa a renovação dos prazos de vencimento, para que principalmente as obrigações do setor privado não produzam quebradeira de empresas e desemprego em massa.
Corno funciona o mecanismo de enquadramento dos países sob o FMI? Como reage o FMI diante de eventual espécie de indisciplina? O exemplo seguinte serve como resposta. Em outubro de 1997, a Indonésia e o FMI formalizaram um compromisso, onde o país receberia empréstimos de US$ 40 bilhões em troca da aplicação de um programa de austeridade fiscal, abertura econômica e estabilização. Entretanto, ao iniciar o novo ano, o governo indonésio, à revelia do FMI, divulgou seus planos referentes a obras de infra-estrutura e meta de crescimento econômico de 4% em 1998.
Cresceu o risco da moratória dos US$ 80 bilhões de dívidas de curto prazo em um endividamento global de US$ 133 bilhões. Isto foi o bastante para que fossem criadas condições de abrupta queda da rupia, moeda local, em 31,6% na primeira quinzena de janeiro deste ano, fuga de capitais e esvaziamento da Bolsa de Jacarta. O FMI ameaçou suspender parcelas do empréstimo. A reação da oligarquia financeira foi pronta, enérgica. A mídia internacional, em repentina grita pela democracia, passou a denunciar o tão conhecido e extremado caráter ditatorial e corrupto do governo indonésio (Suharto, como se sabe, comandou o assassinato em massa de comunistas no golpe de estado de 1966). Bill Clinton exigiu que o programa do FMI fosse acatado e enviou uma delegação oficial americana, inclusive o secretário de Defesa, para tratar do assunto in loco.
O FMI, em seguida, retornou a Jacarta, impondo um nova prescrição econômica mais draconiana: PIB de 1998 com crescimento zero ou negativo; novo orçamento público mais contracionista; aumento dos preços dos combustíveis; cancelamento das obras de infra-estrutura e dos planos de indústria nacional de aviação e de automóveis; abertura do setor financeiro e bancário para fusões e aquisições, especialmente admitindo a participação estrangeira; maior desvinculação do Banco Central perante o governo etc. A Indonésia tem um balanço de serviços fortemente deficitário, pois registrou um déficit em conta-corrente de 7,9% do PIB, apesar de ter obtido superávit comercial. Isto demonstra que o desequilíbrio em suas contas externas é sustentado pelas elevadas remessas de juros, além dos lucros e dividendos (balanço de serviços).
Esse tipo de comportamento do FMI perante a Indonésia não será modificado diante dos outros países em dificuldades. É vã a esperança da Tailândia de revisão do acordo com o FMI, flexibilizando a disciplina ortodoxa, amainando a receita recessiva, atenuando a política de juros e aceitando o déficit público. A Malásia, que não formalizou entendimento com o FMI, está sendo pressionada pelo Fundo para adotar uma política de contenção creditícia e elevação ainda maior das taxas de juros. Como se vê, a continuidade e o aprofundamento da crise não sensibiliza o FMI, guardião da oligarquia financeira internacional. Negócios e sentimentos não se misturam.
O premiê da Malásia, Mahathir Mohamad, tem insistido que o programa de "ajuda" do FMI agravaria os problemas, gerando recessão, falências e demissões em massa.
No início da crise, os países asiáticos, em dificuldades ou não, tentaram criar um fundo financeiro regional para socorrer as economias afetadas, independentemente do FMI. O governo americano e a oligarquia financeira internacional intervieram, abortando o surgimento do fundo regional e defendendo a autoridade do FMI. Essa autoridade é explicada pelo Financial Times ao afirmar que o principal papel do FMI não é conceder empréstimos e sim impor condições.
Entretanto, cresce o questionamento ao FMI. O Instituto Harvard para o Desenvolvimento Internacional calcula que existiriam no FMI cerca de sete economistas para o acompanhamento de cada um dos 75 países periféricos ou semi-periféricos, à exceção da China e Índia que não se submetem aos programas do Fundo. Como seria possível, que essas sete pessoas, instaladas em Washington, tivessem conhecimento, vivência, experiência e segurança em relação à realidade concreta de cada uma dessas nações? Com que autoridade política o FMI dita as condições econômicas para 1,4 bilhão de pessoas? Não há debate nem transparência sobre as decisões dessa instituição. A suposta capacidade técnica do FMI é flagrantemente desmoralizada ao se observar os recentes comentários em seu relatório de 1997, quando antes da eclosão da crise asiática, tecia elogios rasgados à condução econômica na Coréia e Tailândia. A Coréia apresentaria "impressionante performance macroeconômica", "louvável recorde fiscal". Autoridades tailandesas foram saudadas com louvor. A Tailândia tinha um "desempenho econômico extraordinário", "consistentes recordes eram conseqüência das políticas macroeconômicas vigentes". E depois? Veio a crise, e o FMI mudou totalmente o discurso. A louvação dos governantes asiáticos, há apenas poucos meses atrás, transformou-se em condenação. Michel Camdessus, diretor-gerente do FMI, exaltou a morte do chamado modelo asiático.
Na Indonésia, no agravamento da crise em janeiro deste ano, a população correu aos supermercados com receio de escassez dos alimentos e elevação dos preços. Começam a acontecer saques, enquanto a polícia indonésia joga a culpa nos comunistas e ameaça aos que armazenarem produtos básicos com processo baseado na lei contra a subversão. Alastra-se o desemprego. Cresce a inquietação social, apesar da furiosa repressão do governo indonésio. Em Jacarta, surgiram filas de pessoas nos bancos para compra de dólares. Em março deste ano, vencem dívidas indonésias de US$ 10 bilhões junto a credores estrangeiros e o FMI assegura uma parcela emprestada de US$ 3 bilhões para refinanciar a rol agem das obrigações. Nas atuais circunstâncias, apenas 22 empresas manteriam sua viabilidade financeira em um conjunto de 282 empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Jacarta.
A Coréia do Sul, 11 a economia do mundo, assinou acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que articulou um pacote de empréstimo de US$ 57 bilhões. O diretor-gerente do FMI, Michel Camdessus, afirmou que o novo presidente eleito da Coréia, Kim Dae Jung, terá que respeitar os termos do acordo, pela "simples razão de que dele depende a credibilidade do país frente aos mercados financeiros"(2). A Coréia foi obrigada a fechar empresas, bancos e outras instituições financeiras. Admitiu-se que o capital estrangeiro tenha participação majoritária e o controle de empresas.
Maior do que se divulgava, a dívida externa da Coréia é de US$ 150 bilhões. O governo coreano estuda a possibilidade de emissão de US$ 35 bilhões em bônus como uma das tentativas de evitar a moratória. É o caminho de novo endividamento, novos empréstimos. Há US$ 92 bilhões de dívidas de curto prazo, sendo US$ 22,6 bilhões vencíveis até 31 de março próximo. Os bancos credores estrangeiros pressionam para que o governo assuma as dívidas de US$ 25 bilhões de bancos comerciais privados coreanos. Mas o governo admite oferecer garantias para uma parte dessa obrigação, se globalmente essa dívida bancária for alongada. O pacote de US$ 57 bilhões articulado pelo FMI seria insuficiente para a liquidação de obrigações imediatas. Lawrence Summers , secretário-adjunto do Tesouro dos EUA, defendendo os bancos estrangeiros, insiste que a Coréia precisa urgentemente de um acordo com os credores para refinanciar a dívida externa.
A crise mobiliza todos os tipos de iniciativas e expedientes. À revelia do livre-cambismo pregado pelo FMI e Organização Mundial do Comércio (OMC), nas ruas das cidades coreanas foram instalados postos de coleta de assinatura dos cidadãos em listas de adesão, onde se assume o compromisso de não se adquirir produtos estrangeiros, a fim de ajudar a balança comercial do país. O governo coreano também lançou uma outra campanha nacional destinada a coletar ouro junto à população, a fim de recuperar suas reservas. No início da campanha, em uma semana, mais de 500 mil coreanos tinham contribuído com US$ 320 milhões em ouro em troca de certificados de depósitos dos bancos, em won, moeda local. O ouro vendido no exterior possibilita a obtenção de dólares para auxiliar no enfrentamento da dívida externa.
Em Cingapura, sob a influência do crash indonésio em janeiro, a Bolsa de Valores registrou a maior queda dos últimos cinco anos e meio. Nas Filipinas, essa nova onda de queda das bolsas, reduziu o índice das principais ações do mercado de Manila ao mais baixo nível desde 20 de julho de 1993.
Aumenta a concentração bancária. O governo da Malásia quer reestruturar o sistema financeiro, provocando fusões, transformando 39 bancos em cerca de seis. Na Indonésia, 16 bancos foram liquidados no ano passado. A previsão é que somente continue existindo metade dos atuais 200 bancos indonésios, após as falências e fusões. Seria necessário um aporte de US$ 15 bilhões para a recapitalização do sistema bancário indonésio. Cinco bancos, liderados pelo Bank International Indonésia, realizaram uma fusão, que resultou na maior instituição financeira do país, com ativos de US$ 6,25 bilhões. Já foram fechados quase 2/3 das instituições financeiras tailandesas, isto é, 56 bancos. Países asiáticos em crise, sem possibilidade prévia de reforçar seu sistema financeiro, são obrigados a admitir a entrada e competição de bancos estrangeiros. Em Hong Kong, quebrou o Peregrine Investments Holdings, uma das maiores instituições financeiras da região. A Yamaichi Securities, a quarta maior corretora japonesa, faliu, além da Sanyo Securities e do Hokaido, um dos 10 maiores bancos nipônicos. Na Coréia do Sul, vinte e seis bancos comerciais registraram prejuízo – cerca de US$ 2,3 bilhões no ano passado, fato nunca ocorrido anteriormente. O Bangkok Bank, maior banco da Tailândia, teve prejuízo de US$ 87 milhões no segundo semestre de 1997. Os quatro principais bancos tailandeses registraram perdas de US$ 243 milhões no semestre passado.
Os bancos asiáticos, sobretudo japoneses, têm créditos dificilmente resgatáveis que ultrapassam US$ 600 bilhões. Bancos coreanos têm créditos insolventes de US$ 50 bilhões. Bancos japoneses têm US$ 23 bilhões emprestados às empresas da Indonésia. Segundo o Ministério das Finanças do Japão, as instituições bancárias nipônicas têm créditos de difícil recuperação no montante de US$ 580 bilhões de dólares, sendo US$ 265 bilhões junto às empresas da região. O Congresso do Japão discute um projeto de ajuda ao sistema bancário, utilizando US$ 225 bilhões de dinheiro público, excluindo os bancos na iminência da falência e gerando participação acionária estatal com direito a lucros futuros nas instituições bancárias socorridas. Os bancos japoneses ainda detêm seis diferenciadas posições no conjunto das dez maiores instituições bancárias do mundo. Os bancos em Hong Kong têm a elevada concentração de 40% a 50% dos empréstimos no setor imobiliário e agora depreciam-se os preços dos imóveis.
De outro lado, os bancos americanos, ingleses, alemães e franceses apresentam excessiva exposição com empréstimos na Ásia. A agência norte-americana Moody's Investors Service qualificou em perigo um empréstimo de US$ 10 bilhões do Crédit Lyonnais, banco estatal da França. A falência de empresas consumaria prejuízos aos bancos estrangeiros mais expostos. Por causa dessa arriscada exposição, ações do bancos franceses caem na Bolsa de Paris. Em torno do final do primeiro semestre de 1998 vencem as dívidas de bancos e empresas sul-coreanas no montante de US$ 4 bilhões de dólares, junto aos bancos britânicos.
Nesse ambiente de debate sobre insolvência e moratória, as moedas continuam seu itinerário de forte e generalizada queda na região asiática afetada. Na Indonésia, atingiu-se o nível de 7.700 rupias por dólar, menor cotação desde 1971 quando a moeda começou a ser negociada. Na Malásia, a cotação já chegou a 4.356 ringgit por dólar, mais baixo nível desde a flutuação cambial iniciada em 1973. No Japão, o iene também chegou a ser vendido a 134,38 unidades por dólar, maior queda histórica desde abril de 1992.
A Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) – que congrega Brunei, Indonésia, Laos, Malásia, Myanma, Filipinas Cingapura, Tailândia e Vietnã – planeja neste primeiro semestre de 1998 instituir um novo sistema regional monetário, evitando a dolarização e resistindo à queda livre do valor das moedas daqueles países-membros afetados pela crise.
Medidas tópicas públicas são adotadas diante do pânico nas bolsas. Assim, o governo japonês proibiu as vendas de ações a descoberto, que são operações financeiras alavancadas dos principais investidores financeiros e são um dos fatores operacionais imediatos que colaboram na oscilação da Bolsa de Tóquio.
As relações entre bancos e empresas na economia asiática refletem-se nas participações cruzadas entre capital bancário e industrial, o que facilita a transmissão da crise, propagando-a para os diversos setores da economia. O desenvolvimento coreano desde os anos sessenta foi centrado nos chaebols, isto é, conglomerados. Sem o farto crédito dos bancos asiáticos, especialmente japoneses com baixas taxas de juros, os conglomerados, agora, são colocados à prova. Na Coréia, crescem as dificuldades dos chaebols, gerando desemprego e cortes salariais. As empresas perdem competitividade. Através da intervenção das autoridades do governo americano, do FMI e do Bird (Banco Mundial), a pressão dos competidores estrangeiros toma a forma de exigência de fragmentação dos conglomerados e sua especialização em áreas determinadas. Exige-se que mercado nacional seja aberto para as importações, como ocorre na disputa relativamente aos automóveis na Coréia. O governo coreano permitirá aumento de capital estrangeiro de 25% para 33% na participação acionária de estatais, a exemplo da Pohang, segunda maior siderúrgica, e da companhia de eletricidade Kepco.
Na Coréia, no decorrer do ano passado, cerca de 15 mil empresas faliram (3). Cinco chaebols encontram-se em condições de insolvência: Hanbo Iron & Steel (dívida de US$ 6 bilhões); Kia (dívida de US$ 12 bilhões); Sammi Steel; e limo; e Dainong. Os chaebols Hyundai, LG, Daewoo e SK devem apresentar seus planos de reforma ao governo. Com negócios em diversificados setores como indústria automobilística, produtos eletrônicos, construção imobiliária, estaleiros e serviços financeiros, o conglomerado Hyundai, maior chaebol do país, retrairá suas operações, retardando ou cancelando projetos de US$ 7 bilhões, inclusive uma siderúrgica na Coréia, uma montadora de veículos na Indonésia, uma indústria de produtos eletrônicos na Escócia. A Samsung reduzirá o porte de suas filiais no exterior. O chaebol LG decidiu fechar algumas de suas 53 subsidiárias nos setores de telecomunicações, semicondutores e produtos químicos. Entretanto, o governo considera insuficientes essas medidas anunciadas pela Hyundai e LG e exige ao conjunto de chaebols maior cancelamento de projetos e desmembramento dos conglomerados. A previsão é 1 milhão de demissões de trabalhadores coreanos em 1998. Reformas legislativas de "flexibilização" do mercado de trabalho são encaminhadas ao congresso coreano. Estima-se em 2% a queda do PIB na Coréia do Sul, neste ano.
Importantes bancos, corretoras e construtoras quebraram no Japão, no ano passado. Pela primeira vez, nos últimos 32 anos, registra-se a concordata de 10 empresas que são listadas na Bolsa de Tóquio.
Faliram 16.356 empresas nipônicas no ano precedente, fato inédito nos últimos 11 anos. As dívidas das empresas quebradas atingiram US$ 111 bilhões, marca nunca antes alcançada.
O caso chinês
Encontrando-se entranhada na área geográfica e econômica da crise, a China se esforça para resistir à influência e aos impactos desse evento do capitalismo contemporâneo.
Essa resistência é dificílima. É uma severa prova à política chinesa de integração soberana na economia mundial. A grande vitória política da reconquista nacional de Hong Kong coexiste com a presente turbulência nesta cidade, um importante centro financeiro regional. O setor B das bolsas de valores chinesas, onde são negociados investimentos estrangeiros, tem registrado quedas e oscilações importantes.
As desvalorizações das divisas dos países vizinhos afetam o dinâmico comércio externo da China, prejudicando suas exportações. Até o momento, mantém-se estável o valor do yuan, moeda local, em relação ao dólar. Há um receio de que se consuma uma deflação na economia chinesa, considerando a queda do nível geral de preços na China no decorrer do último trimestre de 1997. Essa deflação conduziria ao corte de investimentos, queda na produção e redução do crescimento, repercutindo nos bancos do país. O sistema bancário atingido poderia transmitir esse novo fator complicador às dificuldades financeiras regionais asiáticas. O governo chinês lançou um pacote de medidas para sanear e fortalecer o sistema financeiro, considerando que 20% dos empréstimos bancários são de difícil retorno e 6% seriam irrecuperáveis.
A China, de território continental e população de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, mantém seu acelerado ritmo de crescimento econômico. Apesar da turbulência financeira asiática, as autoridades chinesas planejam o elevado aumento de 8% no PIB em 1998. Esse país é o segundo maior receptor de recursos externos do mundo, depois dos Estados Unidos. A maior parcela, US$ 220 bilhões, refere-se a investimentos diretos, dentro do total de US$ 360 bilhões de recursos estrangeiros atraídos pela economia chinesa, de 1979 a 1997. Apesar dos riscos, a política de atração de recursos baseia-se na impetuosa onda de crescimento econômico do país e submete-se, em geral, aos critérios de elevação da capacidade produtiva, aperfeiçoamento tecnológico e compromissos com a ampliação das exportações chinesas.
Entretanto, o crescimento e as exportações não são comandadas pelos investimentos estrangeiros. Um fato essencial é que dos US$ 118 bilhões de dívida externa, apenas 15% teriam vencimento a curto prazo. Enquanto diversos países encontram-se a braços com desequilíbrios nas contas externas, a China anuncia que suas reservas cambiais atingiram US$139,9 bilhões, em dezembro do ano passado, registrando um crescimento de US$ 34,9 bilhões, ou 33,2%, em relação a 1996.
Vulnerabilidade latino-americana
A centelha da crise financeira asiática encontra abundante material combustível na política econômica prevalecente na América Latina.
A recessão de 1990-91 nos países desenvolvidos, com a conseqüente baixa das taxas de juros, levou os analistas de investimentos financeiros, a partir de Wall Street, a orientar as correntes de recursos no sentido da aplicação nos chamados mercados emergentes. Nesses países chamados de mercados emergentes havia condições bastantes atrativas. O rendimento era muito elevado, prevalecia a liberalização financeira, os recursos poderiam ser repatriados sem embaraços. No caso da América Latina, chamava a atenção desses analistas financeiros o gigantesco programa de privatização de empresas estatais.
A retomada da afluência de recursos externos para a América Latina, a partir de 1991, promoveu apreciação cambial que em combinação com a abertura comercial, gerou déficits comerciais crescentes. O elevado montante desses recursos, a sua composição de investimentos de curto prazo e o seu uso como lastro do consumo encontram respaldo na política pública permissiva e passiva dos governos dessa região. Haverá diversos desdobramentos dessa situação financeira. As conseqüências do endividamento e vulnerabilidade externa da América Latina podem, por exemplo, favorecer as posições de negociação dos Estados Unidos, que desejam implantar a Área de Livre Comércio das Américas – Alca, até o ano 2005, impondo seus interesses imperialistas relativamente ao comércio e às finanças.
Está em curso um novo ciclo de endividamento. Massivos investimentos de portfólio, empréstimos, financiamentos e investimentos diretos compõem o passivo externo. Os déficits em conta-corrente são financiados sobretudo por capitais voláteis e de curto prazo. Essa vulnerabilidade externa transforma-se em crise cambial, quando os recursos voltam para as principais praças financeiras, a partir da alteração das taxas internacionais de juros. A decisão do Federal Reserve (banco central norte-americano) de elevar as taxas de juros na economia dos EUA em 1994 detonou a fuga de capitais do México, cujo balanço de pagamentos apresentou um déficit em conta-corrente equivalente a 8% do PIB, em dezembro daquele ano.
É extremamente elevado o grau de determinação exercida pela oscilação dos mercados financeiros americanos sobre o Brasil. As bolsas brasileiras funcionam quase como apêndice da Bolsa de Nova Iorque. Quando o pregão nova-iorquino fecha em baixa, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registra, em nível muito mais acentuado, um desempenho negativo, demonstrando a relação de profunda dependência.
No Brasil, o déficit em conta corrente foi de US$ 33,842 bilhões, isto é, 4,2% do PIB, no ano passado. É o pior desempenho das contas externas desde 1982, quando eclodiu a crise da dívida externa. O governo FHC sempre se aplicou muito em elevar e preservar as reservas internacionais com o propósito de tranqüilizar os investidores financeiros. Mas, no ataque especulativo ao real, em outubro de 1997, as reservas mostraram-se frágeis diante da gravidade do desequilíbrio externo e retrocederam velozmente em US$ 10 bilhões.
O governo, inconseqüente e insensato, comemora a atração de US$ 5,249 bilhões de capitais externos para as privatizações de estatais brasileiras, em 1997, enquanto neste mesmo exercício deixaram o país US$ 5,597 bilhões em lucros e dividendos, atingindo a elevação de 135,8% em relação às remessas de 1996. A atual onda de aquisição de empresas brasileiras pelo capital estrangeiro resultará em crescentes volumes futuros de recursos na forma de lucros e dividendos enviados ao exterior, preservando a natureza permanentemente deficitária do balanço de serviços, agravando a crise nas contas externas. Os capitais investidos nas bolsas de valores e as captações externas de bancos e empresas multiplicam o passivo. O endividamento externo cobrou US$ 10,635 bilhões líquidos de juros em 1997.
A Argentina destina 30% de suas exportações para o mercado brasileiro. A retração econômica no Brasil, agravada pelo impacto da crise asiática, provocará a redução de US$ 1,712 bilhão nas vendas argentinas para o Brasil, em 1998. Além do chamado fenômeno Brasil-dependência, há que se considerar que o afundamento do país vizinho repercute diretamente sobre a conjuntura econômica brasileira. Por exemplo, grande expectativa cerca o regime de câmbio fixo de Hong Kong, similar ao sistema cambial da Argentina. O aumento estratosférico das taxas de juros não está sendo suficiente para manter a valorização do dólar de Hong Kong, criando o exemplo de uma possibilidade semelhante de desvalorização do peso argentino, turbulência cambial e colapso da relação comercial entre dois grandes países latinos – Argentina e Brasil. O que houve de aumento das exportações brasileiras teve como destino o Mercado Comum do Cone Sul (Mercosul), vale lembrar. A Argentina já assinou um acordo com o FMI, no final do ano passado, recebendo empréstimos de US$ 2,8 bilhões até o ano 2000, sob o compromisso de obediência às diretrizes contracionistas do Fundo.
As desvalorizações cambiais melhoram as condições de exportação dos países asiáticos em crise e agravam as dificuldades do comércio internacional para países como Brasil e Argentina, que acumulam atraso cambial.
O Chile, traumatizado pela lembrança da vulnerabilidade externa e crise da dívida no início da década de 80, tem tentado adotar uma política diferenciada, impondo sobre as entradas de capitais de curto prazo tanto a tributação, como a quarentena, com depósitos compulsórios sem remuneração. Entretanto, o Chile também foi afetado pelo efeito-Ásia. A pequena economia chilena, muito dependente das exportações, sobretudo de produtos básicos, acusa a retração de suas vendas, que na sua maior parte, destinam-se para o mercado asiático. O Chile passa por dificuldades, as taxas de juros são aumentadas, as reservas cambiais evaporam-se e o peso é desvalorizado. A previsão do governo chileno é de que o déficit em conta-corrente atinja 5% do PIB em 1998.
Desde o surgimento dos eurodólares, em meados dos anos 60, os mercados financeiros, com o passar do tempo, atingiram proporções gigantescas. Adotaram mecanismos e instrumentos sofisticados e conectaram-se mundialmente pelas avançadas telecomunicações, em um contexto de crescente liberalização e desregulação. Alguns instrumentos da financeirização: ações, dívida externa, endividamento público e derivativos. Alguns investidores institucionais: os fundos de pensão e os fundos mútuos de investimento, a gerência financeira das mega-empresas e os bancos. Algumas condições financeiras: a volatilidade instantânea das taxas de câmbio e de juros e a livre mobilidade de capitais.
O Acordo Global de Liberalização Financeira, negociado na Organização Mundial do Comércio (OMC), liberaliza o movimento de capitais e permite que bancos, seguradoras e outras instituições financeiras abram filiais em outros países, com direito às mesmas condições que as instituições nacionais.
Bancos e empresas dos chamados países emergentes elevaram sua participação na emissão de American Depositary Receipt (ADR). Os ADRs são certificados de depósitos em bancos americanos e funcionam como meio de acesso prático às bolsas dos EUA, contornando as restrições legais norte-americanas para a negociação de ações. A participação das empresas dos países emergentes nos lançamentos de ADRs passou de 46%, em 1996, para 65%, no ano passado, do total de ADRs emitidos. Os segundos ADRs mais negociados nas bolsas americanas, no ano passado, foram de uma empresa brasileira, a Telebrás, que captou capitais em razão da sua futura privatização em 1998.
François Chesnais fala que a riqueza é gerada na produção, mas o comando é da esfera financeira. Lênin já falava que: "O 'soberano' atual é já o capital financeiro, particularmente móvel e flexível, cujos fios se entrelaçam no plano nacional e internacional e que é anônimo e sem relação direta com a produção, que se concentra com extraordinária facilidade e que já é extremamente concentrado, uma vez que alguma centenas de milionários detêm em suas mãos a sorte de todo o mundo"(4).
No momento recessivo há, por exemplo, um tipo de financeirização parasitando sobretudo as dívidas públicas, enquanto no momento de crescimento a especulação recai diretamente no mercado acionário. A financeirização agrava a instabilidade estrutural e risco sistêmico, potencializando a força destrutiva e contagiosa das crises econômicas. Contudo, a financeirização, contraditoriamente, tem sido uma certa válvula de escape para a atual marcha lenta da economia, gerando imensa riqueza em capital fictício. A economia mundial toma a feição de um grande cassino.
Os financistas acompanham com nervosismo os relatórios periódicos com o anúncio das taxas de desemprego pesquisadas na economia americana. Se o desemprego recua, soa o alarme e o Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) deve elevar as taxas de juros. Julga-se que a atividade econômica estaria empregando força de trabalho além de um suposto e fantasioso limite natural da taxa de desemprego, resultando em salários em elevação, aumentando os custos. Os salários comprimiriam os lucros e a alta generalizada dos preços desorganizaria os negócios. Esse ambiente de pessimismo e refluxo no ciclo de negócios afugentaria os investidores no mercado acionário. A inflação corroeria os rendimentos dos investimentos financeiros. Daí, a entronização da política de obsessão anti-inflacionária. Nessa economia desconexa, Wall Street reanima-se e comemora quando há demissões.
A moeda americana é usada em 70% das operações financeiras e em 50% das transações comerciais, embora o comércio norte-americano constitua 18% do comércio mundial.
O volume das transações financeiras é maior do que o PIB dos países da OCDE, nos últimos 20 anos. A riqueza financeira cresceu mais velozmente do que a produção de bens e serviços. O volume bruto das transações transfronteiras com bônus e ações nos Estados Unidos representava 9% , em 1980, e atingiu 164%, em 1996, em relação ao PIB americano. Os swaps (derivativos de câmbio e juros) nos mercados globais registravam um montante de US$ 4,5 trilhões, em 1991, enquanto, em 1996, passou a US$ 24,3 trilhões, nos mercados globais. Nos mercados cambiais giram US$ 1,5 trilhão por dia.
A magnitude dos mercados financeiros e a volatilidade dos fluxos de capitais criariam dificuldades para o exercício de uma gestão monetária e uma política econômica, em termos autônomos, por um país isoladamente, exceto os Estados Unidos, principal centro econômico, beneficiário direto da financeirização e do papel dominante do dólar. Haveria um grau tão elevado de globalização que não sobraria espaço para um país sozinho praticar políticas diferenciadas dos outros países. Existiria uma agenda única, homogênea, e a função do governo seria sanear e estabilizar, abrir e desregular a economia para atrair os capitais externos. Os mercados financeiros sentenciam o veredicto sobre as políticas públicas.
Mas, essa é uma visão passiva e submissa, condenando principalmente os países periféricos à situação de reféns inermes da oligarquia financeira.
O premiê da Malásia, Mahathir Mohamad, denunciou o caráter meramente especulativo dos grandes fluxos financeiros (só seriam legítimos e necessários os recursos exigidos pelo comércio internacional) e acusou o mega-investidor americano George Soros de participação na deflagração da crise asiática. Soros teria apostado na desvalorização das moedas dos países do Sudeste da Ásia, provocando a fuga de capitais. Cumpre notar a enérgica e pronta reação de Washington, com a presença da titular do Departamento de Estado, Madeleine Albright, defendendo Soros. É sintomático que agora George Soros sai de vilão a herói, posando como conselheiro informal do novo presidente eleito da Coréia do Sul, pontificando que "a Coréia não pode sair de suas atuais dificuldades endividando-se. A solução deve ser obter fundos próprios"(5).
As agências de qualificação de risco de crédito classificam países, empresas e instituições financeiras. Essas agências estão sediadas nos centros financeiros, sobretudo em Nova Iorque. À revelia dos países, notas são atribuídas, atestando o risco de cada economia. É um procedimento unilateral dessas agências. O critério principal é o nível de confiança que mereceria cada país, no sentido de salvaguardar os investimentos financeiros e pagar suas dívidas. A avaliação de crédito é uma espécie de guia para as operações dos financistas. Rendimento, liquidez e risco são três importantes aspectos para a definição dos investimentos financeiros.
A turbulência financeira, nos chamados mercados emergentes, beneficia enormemente os Estados Unidos que atraem capitais externos, em razão do critério de segurança, valorizando os títulos públicos norte-americanos, sob juros baixos, enquanto, inversamente, são depreciados os ativos dos países periféricos.
A Coréia do Sul recorreu ao FMI em dezembro passado, então a Moody's Investors Service e a
Standard & Poor's rebaixaram as notas desse país, piorando a crise de confiança por parte dos investidores. Autoridades americanas declararam-se otimistas com o encaminhamento das chamadas reformas econômicas, segundo compromisso assumido pelo novo presidente da Coréia, então as agências de avaliação de risco anunciam a disposição de aumentar a qualificação coreana, caso as reformas sejam efetivadas. Essa classificação de risco coreana funciona como uma forma de pressão adicional para o país se submeter às reformas desnacionalizantes e recessivas.
Confiança e credibilidade, aos olhos de Wall Street, passou a ser uma meta a ser atingida, missão fundamental de presidentes de países periféricos como é o caso do presidente do Brasil, o subserviente Fernando Henrique Cardoso. Assim, o certo seria aproveitar a suposta abundância permanente de capitais externos, sem se preocupar com endividamento.
Há ilusões de que todos os países desenvolvidos poderiam evoluir para uma coordenação macroeconômica geral, sobretudo dos bancos centrais, formulando e implementando uma estratégia de monitoramento e supervisão dos mercados financeiros e de retomada do crescimento econômico e do nível de emprego. Porém, a ortodoxia liberal, a diferenciação temporal dos ciclos econômicos entre esses países, as disputas comerciais e os interesses da oligarquia financeira são alguns muros de pedra diante dessa ilusória cooperação e solidariedade econômica internacional. Há uma descoordenação efetiva entre as três regiões geomonetárias (EUA, União Européia e Japão) sob as condições de variação das taxas de câmbio e de juros, alimentando a especulação financeira global.
A estabilidade, crescimento e certa cooperação internacional do pós-guerra até 1970, no âmbito capitalista, foram substituídos, a partir da derrocada do sistema de Bretton Woods e do declínio relativo dos Estados Unidos, por instabilidade, medíocre ritmo produtivo e crescente disputa interimperialista. O Japão, beneficiado por forte ajuda econômica norte-americana, realizou sua recuperação nos anos 50. A economia nipônica experimentou excepcional decolagem nos sessenta. Sobretudo agora, nos anos noventa, após o fim da bi-polarização mundial.
Os EUA, apoiando-se na oligarquia financeira, tratam de disputar espaços no enfrentamento econômico direto com países como o Japão, segunda economia do planeta.
As economias da Ásia eram responsáveis por metade do aumento do produto internacional. A própria região asiática é o escoadouro de 40% das exportações nipônicas. Mas o quadro mudou. Soma-se a perspectiva recessiva mundial. Cresce o temor da possibilidade da deflação, a partir da Ásia. Além das tendências estagnacionistas no Japão, a Europa continua submetida a índices superiores a 10% de desemprego. Este é o último ano que antecede a entrada em vigor da
moeda única na União Européia. Estima-se em US$ 100 bilhões o déficit orçamentário alemão. Os critérios de convergência do Tratado de Maastricht traduzem-se em derradeiro aperto monetário e fiscal, sacrificando o nível da atividade econômica. A atual capacidade produtiva redundante mundial, ao lado de uma demanda efetiva contida, defronta-se no momento com a aplicação de políticas contracionistas, como as prescrições do FMI na Ásia.
A economia americana, desde os anos 70, já não tem o dinamismo e o tamanho que seriam requeridos para cumprir o papel de locomotiva do crescimento internacional. A financeirização, a absorção de grandes fluxos de recursos externos, a conversão dos monopólios em mega-corporações, a redução dos impostos para as grandes empresas e os ataques aos salários e direitos dos trabalhadores contribuíram para a atual fase cíclica de crescimento dos Estados Unidos. Essa taxa de 2 a 3% de crescimento do PIB não é algo espetacular, como pretende a propaganda americana. O presente desemprego nos EUA com taxas de 5 a 6% é alto, comparativamente ao pleno emprego europeu dos anos 50 e 60.
Neste momentâneo do quadro americano, surgem os gritos de entusiasmo, proclamando o fim dos ciclos econômicos, a "nova economia". Daqui do Brasil, o deputado Roberto Campos, exultante, referindo-se aos Estados Unidos, festejou: "Hip, hip, hurra!… para o capitalismo liberal". Também, recentemente, os EUA tiveram um momento de crescimento, a partir de 1983, mas em 1987 houve o crash da Bolsa de Valores de Nova Iorque e a produção entrou em recessão em 1990-91. A queda da Bolsa de Nova Iorque em 1987 foi duas vezes pior do que o crash de 1929, com as ações perdendo 22,6% do seu valor, mas houve uma reação flexível de política monetária, baixas taxas de juros, condições creditícias favoráveis e garantia da liquidez, resultando numa situação que evitou o colapso da produção imediatamente em 1987 e 1988. O fato é que no capitalismo não há crescimento intemporal, em equilíbrio, auto-sustentado, prevalecendo as sucessivas e inerentes fases de ascenso e recessão, onde as recuperações são cada vez mais precárias.
A economia norte-americana do passado período de centralização comercial e taxa de câmbio estável, o motor econômico internacional, não voltará. Entretanto, as atuais recuperações financeira, tecnológica e produtiva dos EUA e sua continuada predominância diplomática e militar colocam os americanos em posição favorável para, por exemplo, submeter importante parcela da economia regional asiática aos interesses estadunidenses. Neste momento, na crise da Ásia, os EUA buscam resgatar seus investimentos financeiros, salvaguardar o pagamento das dívidas para com os bancos ianques, conter as exportações asiáticas, assegurar liberdade para a presença direta de bancos e empresas americanos e, sobretudo, abrir as contas de comércio e de capital desses países.
A crise financeira e, em seguida, a adoção do programa recessivo do FMI são instrumentos aproveitados pelos EUA para conseguirem seus intentos. O FMI funciona como uma agência a serviço dos Estados Unidos, que, além disso, ainda exercem intervenção direta na crise asiática com a reiterada presença de altas autoridades econômicas do governo americano em negociações com Malásia, Indonésia, Cingapura, Hong Kong e Coréia do Sul.
Porém, os EUA, maior devedor do mundo, não saem ilesos da crise asiática. Esta turbulência financeira repercute inevitavelmente sobre o próprio centro da financeirização global, Wall Street. A própria Bolsa de Nova Iorque também está submetida a uma bolha especulativa, oferecendo, assim, condições propícias para choques financeiros, como ocorreu nos seus crashs de outubro do ano passado e agora em janeiro de 1998. Nesse sentido, vale lembrar que, desde 1996, Alan Greenspan, presidente do Fed critica a "exuberância irracional" do mercado acionário norte-americano, cuja supervalorização não reflete o desempenho das empresas com ações em Bolsa. Expedientes como aqueles empregados pela Microsoft e GE que, em momentos de baixa, têm comprado suas próprias ações, não têm fôlego para bloquear a queda do mercado bursátil americano. Essa queda é certa, mais cedo ou mais tarde.
Há uma grande participação dos investidores asiáticos nos mercados financeiros, inclusive de títulos públicos, nos Estados Unidos. O atual abalo financeiro nipônico pode criar sérias restrições à permanência dos US$ 1,3 trilhão de investidores japoneses no exterior em títulos públicos e ações, principalmente nos EUA.
A perspectiva é de redução das exportações americanas para a Ásia e dos lucros das empresas ianques localizadas naquela região, gerando repercussões declinantes na Bolsa de Nova Iorque. Os países do Pacífico recebem cerca de 30% do total de vendas externas dos EUA. A alta do dólar representa maior poder de compra e torna mais baixos os preços dos bens importados asiáticos, mas o efeito geral será o agravamento do importante déficit comercial americano.
Autoridades norte-americanas apontam a responsabilidade do Japão, acusando a queda do iene como uma das principais causas da crise asiática. Mas, na verdade, não é o superávit comercial japonês em relação aos países do sudeste asiático que motiva esse protesto do governo americano, e sim o volumoso déficit comercial dos EUA na relação com o Japão. Daí a insistência renovada de pressões para abertura do mercado nipônico.
A Ásia tem grande participação comercial, contando com 26% das exportações mundiais. Essa forte característica exportadora será favorecida pelas desvalorizações das moedas locais. Em tom alarmista, dirigentes da indústria automobilística Ford declaram que o reforço das exportações asiáticas seria uma ameaça à indústria ocidental. As economias asiáticas pressionarão para baixo os preços internacionais dos automóveis, componentes eletrônicos, aço, petroquímicos etc.
George Soros avalia que os eventos asiáticos têm potencial para destruir o sistema comercial mundial. A desregulação, a abertura comercial, a liberalização da conta de capital e o processo de financeirização, em escala internacional cada vez mais ampla, reforçam a anarquia do sistema. As crises financeiras tornam-se mais frequentes: Bolsa de Nova Iorque em 1987, Bolsa de Tóquio em 1990, sistema cambial europeu em 1992 e 1993, México em 1994 e 1995 e, agora, Sudeste e Leste da Ásia, em 1997 e neste ano.
A recomposição do capitalismo objetiva a elevação da taxa média de lucro. Essa elevação do lucro depende cada vez mais decisivamente da expansão do capital no mercado internacional. Um arranjo multipolar, baseado na tríade EUA, Japão e Alemanha (União Européia), renova as contradições interimperialistas, fomenta as tensões e instabilidade do sistema capitalista. Apesar de suas disputas internas, o bloco imperialista, representado pelo G-7, reunindo EUA, Japão, Alemanha, França, Itália, Inglaterra e Canadá, tenta articular-se em torno de interesses comuns, como no caso da reunião de 21 de fevereiro para discutir as conseqüências da crise asiática.
Nova dependência
A crise e seus efeitos serão prolongados. Problemas estruturais e o processo de financeirização refletem-se nessa crise. A calamidade coreana é profunda. As autoridades tailandesas já estimam o recrudescimento das dificuldades na Tailândia em meados do ano em curso. Alguns países asiáticos podem ser tragados por um demorado processo regressivo. Concretizam-se as repercussões na vulnerável América Latina, afetando seu sistema de crédito e sua economia. Paira a ameaça de uma nova seca financeira internacional para algumas economias periféricas. A perspectiva de piora econômica, continua sustentando a fuga de capitais dos países asiáticos. As conseqüências sociais dos pro gramas recessivos serão traduzidas em mais desemprego e agravamento da pobreza.
Aumentará, ainda mais, a polarização entre países ricos e pobres. As gigantescas e recorrentes desvalorizações das moedas locais reduzem riqueza. Os ativos da Ásia ficam mais baratos e provocam insuportável elevação da dívida externa, tomada em moeda estrangeira, prorrogando o processo de quebradeira das empresas e bancos locais devedores. Por exemplo, mais de 1.500 empresas (principalmente 50 grandes empresas e bancos) indonésias, em dezembro do ano passado, acumulavam uma dívida externa de US$ 80 bilhões, mas com a maior queda da história da rupia, em janeiro de 1998, essa dívida elevou-se explosivamente. Algumas empresas indonésias já estariam tecnicamente quebradas. O governo da Indonésia anunciou a moratória dos débitos das empresas e ofereceu garantias aos depósitos e dívidas dos bancos. A continuidade da queda nas bolsas mostra que não há lugar para prognósticos otimistas sobre o desenlace imediato da presente crise financeira.
Do final de junho de 1997 até 9 de janeiro deste ano, a queda acumulada nas bolsas apresenta os seguintes índices: Hong-Kong, 41,47%; São Paulo, 27,44%; Tóquio, 27,23%; Buenos Aires, 27,18% ; e Nova Iorque, 1,20%. Albert Fishlow, economista norte-americano, alerta sobre novo ataque à moeda brasileira em curtíssimo prazo.
A nova dívida externa e os persistentes desequilíbrios do balanço de pagamentos realimentam a espiral de necessidade de capitais externos. Os países periféricos ficam a mercê de ataques especulativos e interrupção dos fluxos de capitais e tornam-se ainda mais dependentes estruturalmente. Frações importantes do aparato industrial dos países semi-periféricos são inviabilizadas e perdem competitividade. O endividamento externo, a política de altas taxas de juros internas, as restrições creditícias e a recessão conduzem à quebradeira de empresas e ao desemprego. A crise financeira bloqueia o crescimento econômico. Bancos e empresas estrangeiras ocupam e dominam parcelas fundamentais dos mercados nacionais. A periferia capitalista não participaria do controle da fundamental corrente formada pelas novas tecnologias, telecomunicações e serviços financeiros no âmbito do comércio do século XXI. Constitui-se uma transferência de riqueza para os países imperialistas, sobretudo para os Estados Unidos. FMI, Banco Mundial e OMC são instrumentos do novo colonialismo.
Em suma, esse atual processo financeiro renova, em geral, a dependência externa dos países do Terceiro Mundo. Aquelas nações que ficaram conhecidas como tigres de desenvolvimento econômico são convocadas a retroceder da semi-periferia para a extensa periferia do capitalismo contemporâneo.
Um outro lado pode ser observado nessa crise. O abalo financeiro asiático também tem começado a suscitar manifestações políticas e sociais relativamente ao desemprego, à recessão e à desnacionalização, em países como Coréia, Tailândia, Filipinas e Indonésia. Surge a possibilidade de desdobramento político como a crescente contestação ao governo Suharto. É preciso rejeitar a postura de adaptação aos ditames imperialistas e assumir uma posição de resistência. Taticamente, há que se reanimar as articulações internacionais como o movimento dos não-alinhados, que em outubro de 1996, repudiou a imposição do pagamento da dívida externa. Ou como a ASEAN, que mantém o debate sobre o problema do desenvolvimento econômico, ou outras organizações que possam surgir, unindo países do Terceiro Mundo, para fazer face à ofensiva e dominação da oligarquia financeira. No plano político mais imediato, para o enfrentamento do neoliberalismo, há temas que precisam voltar à agenda dos países periféricos, a saber: projeto nacional, poupança doméstica, distribuição de renda, participação estatal em setores econômicos fundamentais, estratégia de desenvolvimento e inserção soberana na economia internacional.
RENILDO DE SOUZA é economista e presidente do diretório estadual do PCdoB da Bahia.
Notas
(1) Tailândia pede para renegociar dívida. Folha de S. Paulo, 07/01/1998, c. 2, p.10.
(2) Crise coreana preocupa Rubin. Folha de S. Paulo, 06/01198, c. 2, p.10.
(3) O pesadelo que nunca acaba. Isto É Dinheiro, nº 16,17/12/97, p.75.
(4) LÊNIN, Vladimir I. Prefácio. In: Bukharin, N. O Imperialismo e a Economia Mundial. Rio de Janeiro: Melso. p.15.
(5) Coréia quer lançar bônus de US$ 35 bi. Folha de S. Paulo. 06/01/98, c. 2, p.10.
Bibliografia
ARRIGHI, Giovanni. A ilusão do desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1997.
CHESNAIS, François. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã. 1996.
DAVIS-FFRENCH, Ricardo e GRIFFITH-JONES, Stephany. Os fluxos financeiros na América Latina: um desafio ao progresso. São Paulo: Paz e Terra, 1997.
FlORI, José Luís. Os moedeiros falsos. Petrópolis: Vozes, 1997.
EDIÇÃO 48, FEV/MAR/ABR, 1998, PÁGINAS 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54