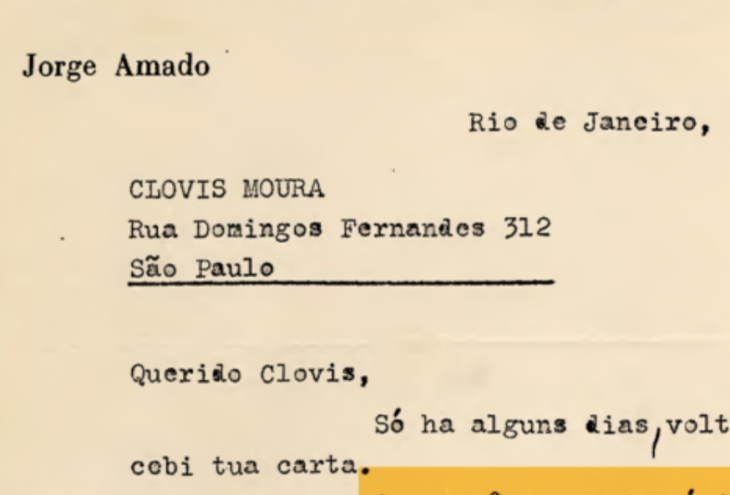Passada a primeira turbulência da queda do Real e do seu regime cambial ancorado em uma taxa de dólar administrada e garantida pelo Banco Central, o governo e os interesses financistas tentam passar uma nova onda de otimismo em relação ao futuro de curto prazo da economia brasileira. Essas boas notícias têm como fatos a revalorização do real frente ao dólar em março/abril, a queda da inflação, a alta das Bolsas de Valores e a volta dos capitais de curto prazo. A idéia de que o pior da crise já passou – tema recorrente das declarações de FHC em seu último périplo europeu e norte-americano, tem por objetivo político imediato buscar a sanção da sociedade brasileira para a continuidade da política econômica adotada para enfrentar a crise cambial.
Pretendo neste texto conjuntural abordar de forma resumida as bases de tal otimismo oficial, os mecanismos que estão por trás das “boas notícias”; o real caráter da crise, que determina sua duração por um longo prazo; bem como as implicações políticas advindas da nova situação cambial e o novo arranjo político pós-desvalorização.
A desvalorização cambial e a proteção do capital: a volta do Estado previdenciário
Uma característica distingue a desvalorização do real das desvalorizações de moedas de outros países ocorridas recentemente. Aqui ela foi preanunciada e os grandes capitais, ao contrário dos outros países, nada perderam, alguns até ganharam e muito.
A política do Plano Real de pretender financiar o crescimento brasileiro com base principal no capital externo meteu o país, a partir da mudança da conjuntura internacional de 1994, em uma terrível armadilha. A continuação dessa estratégia, com juros caros e capitais ariscos, terminou por nos condenar à estagnação, a um brutal endividamento público interno e uma violenta desnacionalização de nossa economia. A sobrevalorização de nossa moeda era um dos componentes dessa armadilha montada pelos monetaristas do Banco Central. Abandonar o regime da âncora cambial do dólar era necessário, mas as condições peculiares articuladas pelo Estado brasileiro no mercado de câmbio, de proteção ao capital dos grandes credores e investidores, já causavam preocupação quanto aos custos a serem arcados pelo setor público por ocasião de uma desvalorização (1).
Com vistas a postergar a queda do real durante o período eleitoral e a criar um seguro contra a desvalorização, o governo passou a pôr em prática duas operações de hedge (proteção) para os capitais financeiros. A partir de maio de 1998, o Tesouro e o Banco Central, à medida em que subiam as taxas de juros, passaram a acelerar a substituição de seus títulos pré-fixados (com juros fixos) por títulos com juros diários ou com correção cambial. Esses títulos, que representavam R$ 39 bilhões (16% da dívida mobiliária federal) em dezembro de 1997, já eram mais de R$ 67 bilhões (21% da dívida) em dezembro de 1998, véspera da desvalorização. A segunda operação consistia em vender dólares em data futura com valores pré-fixados na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Estima-se que essas operações no “futuro” representavam algo em torno de 15 a 20 bilhões de dólares. Os grandes capitais, que tiveram acesso a esses títulos ou estavam “comprados” no “mercado futuro”, ficaram protegidos da brutal desvalorização do real durante os dois primeiros meses de 1999. Muitos deles – em especial as instituições financeiras, grandes intermediárias – tiveram fabulosos ganhos: lucraram, apenas em janeiro, quase o dobro do que auferiram em todo ano de 1998.
Por isso, perguntado porque, diferentemente das crises em outros países, a queda da moeda brasileira tinha afetado tão pouco o mercado financeiro internacional, o mega-especulador George Soros afirmou que no Brasil, a desvalorização era anunciada e sabida e que, aqui, se contara com mecanismos de proteção, inexistentes em outras crises. Ou seja, mesmo quem não ganhou também não perdeu. É a volta do Estado previdenciário… mas do capital!
A contrapartida desses ganhos foi o prejuízo para o Estado brasileiro. Segundo os números oficiais, a desvalorização custou ao governo federal, apenas em janeiro, um aumento de 62,5 bilhões de reais na dívida pública (2), e mais de 7 bilhões em perdas para o Banco Central no mercado futuro do dólar (estes já desembolsados). A volta do capital de curto prazo: a especulação “a favor”
Os ganhos proporcionados por essa “proteção” levaram rapidamente os investidores (externos e internos) a montarem junto com o Banco Central, agora sob o comando de Armínio Fraga, um financista com experiência internacional, e a partir da mega-desvalorização do mês de fevereiro, uma nova manobra especulativa, desta vez “contra” o dólar. Na virada para o mês de março, com o dólar a dois reais e uma taxa de juros de 45% ao ano, os investidores e bancos, que tinham alguns bilhões de dólares estocados, começaram a voltar para o real, aplicando-o imediatamente em títulos públicos e na Bolsa. Com o próprio movimento de conversão em reais garantindo a desvalorização da moeda e com a garantia da entrada da segunda parcela do Acordo com o FMI (o novo acordo foi assinado dia 3 de março, mas já se o sabia assegurado dez dias antes) na primeira semana de abril, assegurando uma disponibilidade de mais 4 bilhões de dólares na reserva, o ganho na moeda americana era alto e seguro. Com efeito, quem trocou um dólar por dois reais na primeira semana de março, aplicando-o a juros, terá ganho na primeira semana de abril (com o câmbio a 1,71), em dólar e líquido (o chamado “cupom cambial”), não menos do que 20% em apenas trinta dias. Independente de ter havido qualquer vazamento de informação antecipada para beneficiar uma ou outra instituição, a própria política adotada garantiu ganhos extraordinários para todo o sistema financeiro e seus grandes clientes.
Mas além de criar tão excelente oportunidade de ganhos, o governo ainda diminuiu prazos internos de aplicação do capital estrangeiro, voltando a isentar seus ganhos de qualquer tributo. Assim, não é de estranhar que durante o mês de março tenham entrado (na verdade voltado) liquidamente ao Brasil US$ 750 milhões para as bolsas e mais US$ 1,9 bilhão em aplicações em títulos de renda fixa (3).
O governo de FHC garante ganhos extraordinários ao capital ao adotar juros diários, correção cambial e dólares pré-fixados
Enquanto os investidores ganhavam muito, o governo de FHC pôde celebrar a volta da “confiança no Brasil”, com o registro de nova entrada líquida de divisas na conta de Capital. Esse trunfo foi usado politicamente como prova da seriedade e da justeza de sua política no enfrentamento da crise; empurrou-se assim o colapso cambial para a frente, ganhando tempo até o segundo semestre, quando se espera que o pior da recessão tenha passado. É a especulação “a favor”! Em uma manobra como essa, feita em conluio com nossa própria autoridade monetária, é que se pode avaliar mais corretamente o significado da nomeação de Armínio Fraga para o Banco Central. Não se trata de fornecer informações privilegiadas a um ou a outro “investidor”, mas de operar em conformidade com o “mercado”, subordinando o interesse soberano às suas regras, numa “parceria de iguais”, onde o interesse público e o privado tendem a ficar indistintos.
Além disso, com o ganho da desvalorização do dólar, o Banco Central pôde – no decorrer de abril (4) – baixar a taxa de juros básica, já que o ganho em dólar (o cupom) estará garantido. Embora essa diminuição na taxa de juros básica tenha efeito pouco significativo para a economia produtiva (uma taxa de 30% é tão nociva à produção quanto uma taxa de 45%, e o crédito privado continua fechado), ela pode ser exibida como mais uma conquista do governo.
Essa manobra especulativa tem dois resultados financeiros: de imediato, aumenta em mais alguns bilhões de reais a dívida pública federal e, em futuro próximo, como cada dólar que entrou pode querer sair acrescido pelos ganhos em real, haverá mais pressão sobre nossas combalidas reservas.
Inflação versus recessão: o povo entre a cruz e a caldeirinha
A expectativa da volta da inflação após a desvalorização do real era um pesadelo para o Governo, para os capitais monetários e também – por motivo diverso – para os trabalhadores. Em especial para o governo, a volta da inflação significava uma perda política apreciável, já que grande parte de seu capital político advém da estabilidade da moeda e do poder de compra das rendas fixas, como o salário. A oposição tentava disso tirar proveito, caracterizando o reforço inflacionário como “estelionato eleitoral” e mobilizando-se em torno da bandeira da reposição salarial.
Muitos faziam cálculos de que o repasse do aumento dos preços em reais dos bens importados, especialmente dos intermediários, e também dos exportados consumidos internamente, fazia com que se estimasse a inflação para 1999 entre os 16,9%, previstos na revisão do acordo com o FMI, até 24% ou mesmo 70% dos analistas do Deutsche Bank. Mas um processo inflacionário, no fundamental, é um problema político de correlação de forças entre o capital e o trabalho, principalmente, e entre as diversas espécies e grupos de capitalistas, secundariamente, em torno de uma redefinição quanto à apropriação das rendas sob a forma de moeda.
Na crise de 1982, a desvalorização da moeda e a recessão encontraram o movimento popular, e em especial o sindical, em ascensão, as classes dominantes crescentemente divididas em torno da resolução para a crise, e o regime militar em declínio. Esse cenário fez com que os trabalhadores defendessem ativamente seu poder de compra ante o repasse dos custos da dívida externa para os salários. A reação do capital a essa defesa foi um dos componentes básicos para a formação da espiral inflacionária que dominou toda aquela década.
Vivemos hoje um momento diferente. A forte recessão, pedra basilar do programa do FMI para enfrentar a crise, a debilidade política e organizativa do movimento popular e a relativa (ainda) coesão das classes dominantes em torno dessa política, são componentes determinantes de que não haverá (pelo menos em curto prazo) uma significativa escalada competitiva de preços entre o capital e os salários.
Mas a inesperada queda dos índices em março último surpreendeu até o governo. Essa queda brusca deve-se a uma também acentuada retração na produção interna, determinada, entre outras coisas, pelo pífio desempenho das exportações que, no primeiro trimestre, foram inferiores às do igual período no ano passado, como também a uma política monetária e creditícia draconiana. A exportação sofreu no trimestre três fatores adversos: o câmbio instável provocou algum adiamento de embarques, a queda desde o ano passado dos preços dos produtos primários (commodities) no mercado internacional e a barganha de nossos importadores que estão ganhando descontos sobre nossas mercadorias, pagando menos dólares, por conta da maior renda interna em reais dos exportadores (5).
Sem esse aumento das exportações para contrabalançar a queda na produção para consumo interno, a recessão, nesse trimestre, mostrou-se mais violenta do que se planejava. Vai se confirmando a tendência de que todo superávit comercial advirá da recessão e da queda das importações.
Ao nomear Armínio Fraga para o Banco Central, FHC optou por operar em “parceria” com o mercado, subordinando o interesse soberano do país às suas regras
Essa é a receita básica do governo para deter a inflação, antepondo a ela uma transferência imediata relativamente pequena das rendas dos salários e provocando uma forte recessão com grande quebradeira das empresas mais fracas e um maior desemprego. Desprovido de poder de barganha pelo desemprego e precarização crescente do trabalho e com um sindicalismo desarmado ideologicamente, restará aos trabalhadores trocar uma baixa inflação por menos emprego: a cruz ou a caldeirinha.
A crise de financiamento externo e o rearranjo político pós-desvalorização
O programa do FMI, impondo a primazia do pagamento dos compromissos externos e a manutenção do valor dos capitais financeiros através da dívida pública, lança um forte ônus sobre o Estado e as parcelas consideráveis do capital produtivo, especialmente do médio e pequeno. A forma de conduzir a política cambial e fiscal mostra que longe de qualquer estabilização o país ainda terá um longo período de instabilidade pela frente.
Embora o governo tenha afastado a ameaça de um colapso cambial (entendido aqui como a falta absoluta de divisas para honrar compromissos financeiros imediatos bem como a importação de bens essenciais), a crise cambial de financiamento externo à economia permanece e tudo leva a crer que perdurará por um grande período, talvez dois anos ou mais.
Não podendo mais sustentar, no momento, o crescimento com base no financiamento externo, e tendo provocado um forte endividamento e desnacionalização da economia, o Governo, executando o Programa do FMI, tenta agora manter o financiamento externo para continuar honrando os compromissos externos com o serviço da dívida e com o pagamento das chamadas rendas do capital, remessas de lucros, de dividendos e de royalties. Nossas elites, histórica e psicologicamente dependentes, parecem não conceber uma existência própria sem que os mecanismos de sujeição que ligam o capital brasileiro ao circuito mundial do capitalismo estejam funcionando em plenitude. É o que Conceição Tavares denomina de “caráter heteronômico” de nossas elites (6).
A necessidade de financiar esses compromissos financeiros, que no ano de 1999 deve atingir cerca de 60 bilhões de dólares (7) (não se inclui aqui a importação de quaisquer bens e serviços), impedirá a manutenção do volume de importação necessário para realizar, nos próximos anos, qualquer crescimento sobre a base de produção alcançada até 1998 (8). Para financiar tal quantia, além de um superávit na balança comercial e dos recursos do FMI, ainda dependeremos de investimento direto e de empréstimos voluntários da banca privada da ordem de US$ 31 bilhões (9).
Com o mercado financeiro internacional contraído em relação aos emergentes, não tenho dúvida de que não haverá financiamento para o crescimento. Todo o esforço de conseguir “dinheiro novo” da banca privada (esforço que resultará provavelmente no aumento do endividamento estatal em substituição ao privado), estará virtualmente circunscrito à viabilização dos pagamentos dos rendimentos do capital. Por isso é tão importante no Programa do FMI a realização da privatização do sistema Eletro ( o último setor estatal relevante no Programa Nacional de Desestatização) o mais rápido possível e a reserva para a venda, caso o financiamento externo não seja suficiente, da Petrobras e dos bancos estatais ainda no próximo biênio. A privatização é uma forma de assegurar a entrada de recursos significativos de investimento externo direto, diminuindo a necessidade de endividamento, o que, nesse momento de insegurança, interessa aos bancos estrangeiros (e aos donos de bônus brasileiros no exterior), que terão assegurados a liquidez em dólar de seus empréstimos e encargos, sem ter de renovar seus créditos, mantendo ou aumentando sua exposição de risco no país.
Um processo inflacionário é, no fundamental, um problema político de correlação de forças entre o capital e o trabalho
Mesmo que, em uma hipótese otimista, entre divisas suficientes para financiar um aumento de importações, a prioridade do Programa do FMI de garantir os compromissos externos e a sua liquidez, endereçará esse excesso para o aumento das reservas e não para expandir nossas importações de bens e serviços (como já acontecia, de forma menos dramática, desde a crise do México). Esta é a característica fundamental da crise que vivemos, juntamente com os demais países da periferia do sistema capitalista: a imposição exógena de uma prioridade financeira que resulta em uma “restrição externa”, de longo prazo, sobre o nosso crescimento.
Não é possível afirmar, do ponto de vista econômico, que essa estratégia adotada pelo Governo para ultrapassar a crise, não dará certo. Os limites e a viabilidade desse programa dependem mais da política e menos da economia.
Os custos internos para garantir o Programa do FMI – taxas de juros elevadas, aumento da tributação e queda na demanda – combinados com a sobrevalorização da moeda, estavam gerando uma grave ameaça tanto à indústria quanto à agricultura. Isso vinha provocando uma oposição cada vez maior de diversos setores econômicos ao Programa, destacando-se nisso, a grande burguesia industrial paulista, representada pela nova diretoria da FIESP. A desvalorização da moeda, abrindo oportunidades imediatas de exportação e de substituição de importações, aliada à proteção concebida pelo Estado aos grandes devedores, provocou um novo arranjo nas forças políticas. Especialmente beneficiada, a indústria paulista passou rapidamente da crítica ao apoio quase explícito. A agricultura de exportação comemorou junto com todo o complexo industrial a ela ligada (máquinas e implementos agrícolas, adubos e defensivos).
Alguns setores industriais – químicos, têxteis, calçados, minerais metálicos e não-metálicos, celulose – juntamente com a cultura de trigo e algodão poderão crescer pela substituição de importações. Entretanto, esses setores estarão limitados na sua expansão pela diminuição da demanda e pela falta de crédito internos. Nos demais setores para a maioria das empresas – sem hedge para seus eventuais débitos em dólar e com a demanda em queda – a situação piorou bastante. Mas, sem o poder de fogo e de mídia da Avenida Paulista, a presença dos empresários em oposição ao governo foi reduzida significativamente.
Porém, caso continue a haver uma frustração no crescimento das exportações, a posição dos setores agora beneficiados poderá se inverter novamente, diminuindo de forma significativa a base social de sustentação do governo. Essa frustração é possível pela tendência baixista nas commodities e pelas condições adversas do mercado mundial: baixo crescimento do Primeiro Mundo e o forte esforço exportador asiático.
A desestabilização do Mercosul significou um considerável custo externo da mudança do regime cambial. A desvalorização do real retirou dos demais membros do mercado comum, em especial da Argentina, a vantagem de exportadora de bens primários e agroindustriais, desequilibrando, quiçá de forma fatal, os termos de troca. A aliança básica que orientou a criação e a consolidação do Mercosul, a indústria paulista e o setor agroexportador argentino, foi rompido. As consequências desse rompimento são particularmente graves a longo prazo: abrem a possibilidade de dissolução do Mercosul e viabilizam a Área de Livre Comércio das Américas (Alca), defendida pelos EUA. O Brasil tem usado o seu mercado importador para manter unido o Mercosul, obstruindo, com manobras protelatórias, a negociação da Alca, agora não disporá mais desse trunfo. A ameaça de criação da Alca, já fortalecida implicitamente nos Acordos com o FMI, se agrava mais com a debilitação da nossa capacidade de barganha.
Essa desestabilização do Mercosul foi, na verdade, mais conseqüência do regime de flutuação do câmbio do que da desvalorização. Tivesse-se adotado um regime de centralização do câmbio, seria possível realizar uma desvalorização menor e, o mais importante, administrar o câmbio comercial mantendo a área do Mercosul e outros parceiros prioritários com um câmbio privilegiado. Isso demostra como a adoção do câmbio flutuante não era a opção mais adequada para os interesses estratégicos do Brasil.
Os limites e a viabilidade do programa neoliberal de FHC dependem mais da política e menos da economia
Como todo sistema complexo, o desenvolvimento de uma situação econômico-social, especialmente no curto prazo, é extremamente sensível a pequenas alterações, cujos efeitos costumam se propagar de forma desproporcional, algumas vezes em direções inesperadas. Embora seja possível montar os cenários mais prováveis, a imprevisibilidade será ainda relevante. Mas a médio e longo prazo pode-se prever, com pouca margem de erro, que, assim como aconteceu com a crise de 1982, abre-se agora uma fase de estagnação e de grande instabilidade tanto econômica quanto política. O que acontecerá no futuro próximo ainda não tem vencedores; as possibilidades do jogo político ainda estão em aberto.
* Economista, assessor técnico da Liderança do PCdoB na Câmara dos Deputados. O texto foi concluído em 18 de abril de 1999 e o autor agradece as oportunas observações feitas por Duarte Pacheco Pereira, dispensando-o de qualquer responsabilidade quanto às opiniões aqui defendidas.
Notas
(1) Ver, por exemplo, artigo de minha autoria “A crise brasileira, a dívida e o déficit públicos: para que superávit fiscal?”, Princípios, n. 51, novembro de 1998.
(2) Banco Central do Brasil, nota à imprensa, Quadro IV, 13-04-1999 ( Internet).
(3) Segundo TAVARES, M. C. “O nosso dinheiro e o dinheiro deles”. Folha de S. Paulo, 11-04-1999.
(4) Este texto foi escrito levando em consideração os fatos ocorridos até 20 de abril de 1999.
(5) Dados do Ministério da Indústria e Comércio relativos ao primeiro bimestre – quando comparados com o mesmo período de 1998 – mostram que as exportações de primários e semimanufaturados foram especialmente atingidas pela queda nos preços internacionais das commodities e pela concessão de descontos extras decorrentes da desvalorização do real. Enquanto nas exportações totais a quantidade das mercadorias ( o quantum) diminuiu 7,7%, o valor decresceu 11,5%; nos produtos primários e semimanufaturados o quantum subiu, respectivamente, 12% e 3,4%, enquanto seus valores diminuíram 20% e 19,4% em cada caso. Secretaria de Comércio Exterior, MICT, Gazeta Mercantil, 17 e 18 de abril de 1999.
(6) Ver TAVARES, M. C. “Visões da crise”. Folha de S. Paulo, 03-01-1999.
(7) O cálculo baseia-se na estimativa de US$ 37 bilhões de amortização (do Banco Central) e US$ 14 bilhões de encargos da dívida (com um aumento de 20% sobre 1998, decorrente do aumento da taxa de risco do Brasil), mais US$ 9 bilhões de remessas de lucros, dividendos, royalties e de outras rendas do capital (serviços de fatores), mantendo valor semelhante ao de 1998.
(8) Isso significa que, embora possa haver crescimento do PIB nos dois próximos anos, com a queda prevista para o PIB em 1999 (4%), esse crescimento não será suficiente para ultrapassar o patamar de riqueza produzida em 1998, ano anterior a crise cambial.
(9) Essa é uma hipótese otimista: estimando um superávit comercial conforme prevê o Acordo com o FMI de US$ 11 bilhões, mais US$ 17,7 bilhões de desembolso previsto, para 1999, dos empréstimos totais pelo Programa do FMI (FMI, acordos bilaterais do BIS e Banco do Japão, BIRD e BID).
EDIÇÃO 53, MAI/JUN/JUL, 1999, PÁGINAS 10, 11, 12, 13, 14, 15