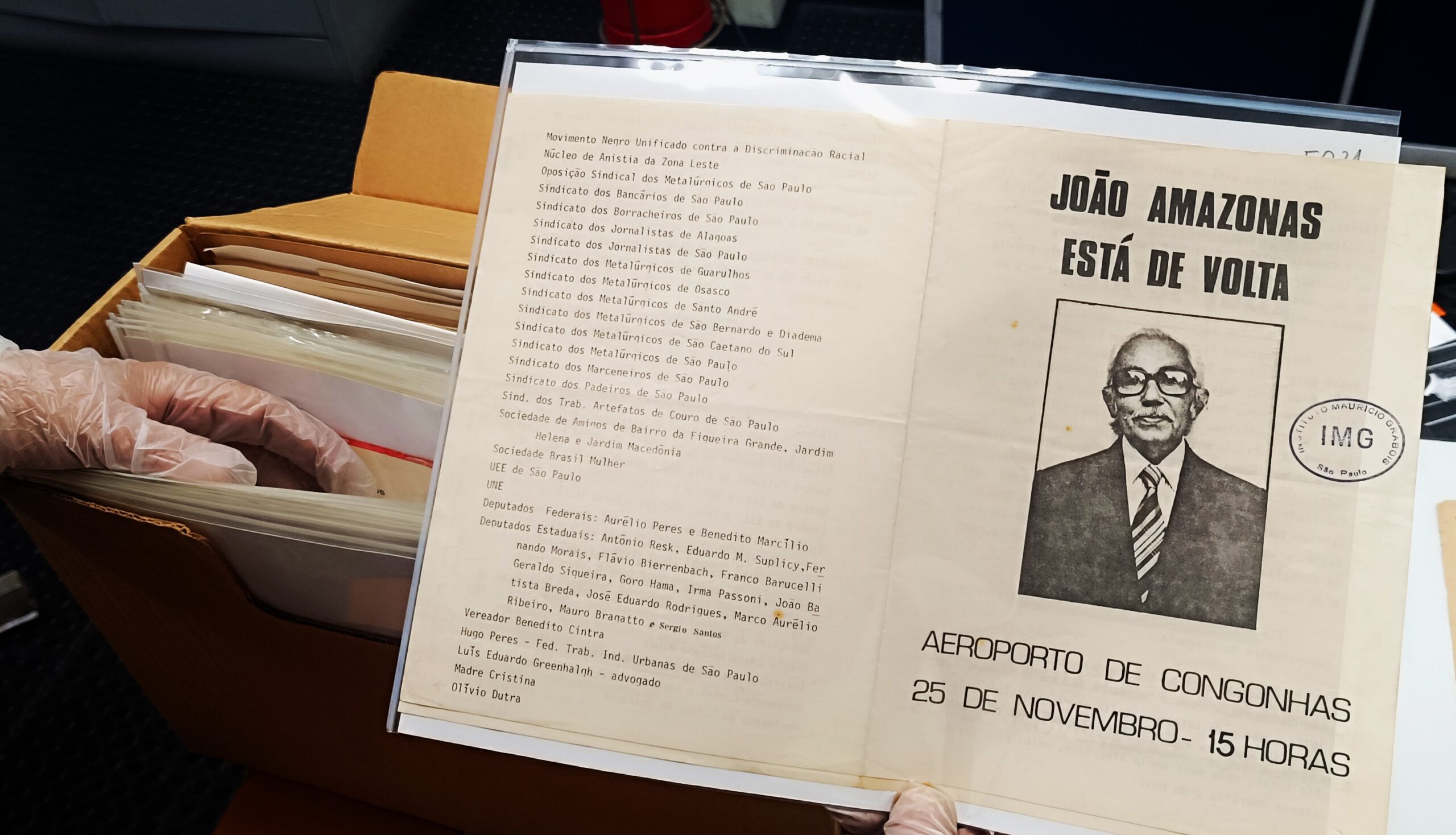Na década de 1990, o desemprego atinge patamares inéditos no Brasil. Pela metodologia empregada pelo Dieese e a Fundação Seade, nas Regiões Metropolitanas pesquisadas (São Paulo, Distrito Federal, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife), ele passa de cerca de 8% em 1989 para 20% em meados de 1999, estacionando desde então em valores próximos a este (com um mínimo de 16% em Porto Alegre e um máximo de 25% em Salvador). Junto com esse impressionante salto do desemprego aberto, outra tendência se afirma: a informalização das relações de trabalho.
As conseqüências desses processos são evidentes. Em todo o mundo, a taxa de desemprego aberto é acompanhada com atenção por governos e sociedades, especialmente quando atinge chefes de família, homens ou mulheres, dado o seu potencial desestruturante sobre o tecido social. Com efeito, níveis crescentes de desemprego e de subemprego, principalmente quando associados a situações de pobreza, significam a multiplicação do número de pessoas que deixam de manter qualquer "contrato" de direitos e deveres para com a sociedade. Ambos os fenômenos se associam à queda da auto-estima, a desagregações familiares, à menor renda disponível, à busca precoce de trabalho por parte de jovens (quase sempre no mercado informal) em prejuízo de sua formação escolar, etc. Por isso, alterações nas políticas macroeconômicas e adoção de medidas específicas por parte dos governos são ações esperadas, quando as sociedades se confrontam com essas tendências.
No Brasil, no entanto, não se tem verificado uma reação à altura. Ora o problema é minimizado, alegando-se que a taxa de desemprego aberto, tal como medida pelo IBGE, permanece relativamente baixa (em tomo de 7%), indicando a ausência de desemprego estrutural; ora buscam-se enfoques que enfatizam questões correlatas, como a qualidade supostamente baixa e o custo supostamente alto da mão-de-obra, por causa do também suposto excesso de encargos sociais; ora esvazia-se o conteúdo social do problema (a oferta de emprego) para remetê-Io ao universo individual das pessoas afetadas (sua condição de "empregabilidade"). Além disso, freqüentemente o desemprego é apresentado como um subproduto do aumento de produtividade da economia brasileira, o que permite considerá-Io, implícita ou explicitamente, como sendo um aspecto problemático de um processo essencialmente desejável e virtuoso. Daí a idéia de sua inevitabilidade.
Essas interpretações ajudam a perpetuar o descompasso entre a gravidade do drama social em curso e o relativo conformismo, diante dele, por parte de muitos economistas. Não pretendemos debatê-Ias aqui em detalhes. Tampouco pretendemos recusá-Ias liminarmente. Embora sejam insuficientes, várias delas contêm elementos verdadeiros, como sempre ocorre com qualquer construção ideológica minimamente viável. Por exemplo, sem dúvida há relação entre abertura comercial, acirramento da concorrência externa e reestruturação tecnológica. Em certos contextos, este último processo produz aumentos simultâneos da produtividade e do desemprego, aliás percebidos há muito. Em 1820, David Ricardo já se referia a isso: "Se é verdade que a inovação tecnológica é a forma mais eficaz de enfrentar a concorrência externa, o aumento de produtividade resultará em prejuízo para os trabalhadores, cuja participação no produto tende a cair em favor dos ganhos de capital. Para que isso não aconteça, é preciso que a produção cresça mais do que a produtividade", o que, para Ricardo, parecia ser "algo bastante difícil de ocorrer de forma sustentada."
Temos aí uma primeira pista importante: no Brasil contemporâneo, a produtividade tem crescido, mas o PIB per capita está a caminho de completar vinte anos de estagnação. Isso contrasta, por exemplo, com o que ocorreu no Japão no segundo após-guerra, onde as elevadas taxas de crescimento do PIB permitiram compatibilizar, por décadas, significativos ganhos de produtividade e baixos níveis de desemprego. Modernização técnica e emprego não são necessariamente antagônicos.
As interpretações referidas acima deveriam, pois, ser melhor ponderadas. A metodologia usada pelo IBGE para estimar o desemprego aberto é extremamente restritiva; os aumentos de produtividade nem sempre são corretamente estimados (a produção se mantém ou aumenta, com menos trabalhadores, mas freqüentemente o valor agregado decresce ou se deixam de levar em contra as terceirizações); os encargos sociais são muito menores do que os divulgados pelas associações empresariais; a legislação trabalhista nunca impediu que nosso mercado de trabalho fosse flexível (o que pode ser visto pelas elevadas taxas de rotatividade); não é claro que a mão-de-obra brasileira seja de pior qualidade do que os postos de trabalho que vêm sendo abertos, concentrados no setor de serviços – e assim por diante. Outros fatores precisariam ser levados em conta, como os processos de privatização e de enxugamento da máquina do Estado (que, até os anos 80, desempenhava tradicionalmente um papel anticíclico), crises setoriais importantes na agricultura e na indústria e a própria ausência de programas específicos, suficientemente ousados, para combater o problema.
Trata-se, como se vê, de um tema complexo. Não o desenvolveremos aqui. Nossa questão será outra: se é tão difícil obter algum grau de consenso sobre o que provoca o desemprego, que debate teórico está por trás das diversas abordagens possíveis?
Se formos buscar inspiração muito atrás, em obra hoje quase esquecida, encontraremos nos Grundrisse, de Marx, uma formulação genérica do problema, relacionada com sua reinterpretação da lei de população no modo de produção capitalista, no contexto da crítica a Malthus:
"Em diferentes modos de produção sociais, diferentes leis regem o aumento da população e a existência de uma superpopulação relativa ( … ). Essas leis estão ligadas às diferentes maneiras pelas quais o indivíduo se relaciona com as condições de produção ou de reprodução de si mesmo como membro da sociedade, já que só em sociedade o homem trabalha e se apropria do meio."
Depois de descrever outros modos de produção, Marx trata do capitalismo, apontando a existência, nesse sistema, de duas tendências contraditórias entre si. A primeira resulta da luta do capital para controlar a maior quantidade possível de trabalho vivo, de modo a aumentar a massa de mais valia potencialmente disponível. Ou seja, o capital tende a subordinar a si a maior parte do trabalho social, o que exige a expropriação das condições independentes de vida de parcelas crescentes da população, que passam a se apresentar no mercado como vendedores de força de trabalho. "Por outro lado", diz Marx referindo-se à outra tendência, "o impulso em direção à mais valia relativa [que se expressa no aumento do capital constante em detrimento do capital variável] induz o capital a colocar como não necessários muitos desses trabalhadores."
A busca da mais valia absoluta faz o capital desejar a "máxima extensão da jornada de trabalho, com a máxima quantidade de jornadas simultâneas"; ao mesmo tempo, a busca da mais valia relativa "reduz ao mínimo o tempo de trabalho e o número de trabalhadores necessários". A primeira tendência incorpora trabalhadores à esfera especificamente capitalista da sociedade; a segunda, lança trabalhadores na rua.
Atraindo e repelindo trabalhadores, o capitalismo, segundo Marx, desenvolve uma lei de população igualmente ambígua: a maior parte da população se transforma em assalariada e é, em seguida, parcialmente transformada em superpopulação relativa, momentaneamente inútil, excedente, à espera de ser utilizada pelo capital em algum ciclo expansivo futuro. Dentro da melhor tradição da economia política clássica, Marx chega, assim, ao conceito de exército industrial de reserva – mais geral que o de desemprego -, que seria um fenômeno estrutural, decorrente das leis de tendência inerentes ao desenvolvimento do capital.
As abordagens predominantes no século XX, nesta e nas outras questões, se afastaram porém dessa tradição. Desde, pelo menos, os trabalhos de Keynes e do surgimento da macroeconomia contemporânea, os economistas se dividiram, grosso modo, em dois grupos. Para os neoclássicos, a plena utilização dos fatores de produção disponíveis – entre eles, o trabalho – ocorre quando sua remuneração corresponde à sua produtividade marginal. Assim, há desemprego quando os trabalhadores insistem em exigir salários superiores à produtividade marginal do trabalho. Em primeira aproximação, trata-se de um fenômeno basicamente "voluntário", que se corrige pela redução dos salários. Em um mercado de trabalho competitivo no ponto de equilíbrio, todos os que aceitam a taxa de salário real vigente encontram emprego.
Só no curto prazo ou em mercados regulamentados a taxa de salário real pode sustentar-se em níveis elevados demais. A principal conseqüência política dessa visão é a adoção de medidas que visam a desregulamentar o mercado de trabalho, com enfraquecimento do poder dos sindicatos, considerados os principais responsáveis pela manutenção de altas taxas de salário real em períodos em que as taxas de desemprego também tendem a aumentar.
Embora Keynes aceite a associação entre salário e produtividade marginal do trabalho, ele considera que o desemprego decorre de uma demanda insuficiente para absorver todos os produtos que seriam produzidos em uma situação de pleno emprego das forças produtivas. Logo, não pode ser reduzido através da redução de salários. Ao contrário dos neoclássicos, que enxergam urna sucessão de pontos de equilíbrio em que oferta e demanda agregada coincidem, tendendo ao pleno emprego (a menos que haja a citada resistência ao trabalho), Keynes sustenta que só há um nível de emprego que corresponde ao equilíbrio. E afirma que esse nível, em geral, é inferior ao do pleno emprego. Para além dele, a demanda se torna menor que a oferta e, por conseguinte, o emprego não pode aumentar. O volume de emprego é determinado pelo ponto de intersecção da curva de demanda agregada com a curva de oferta agregada, pois nesse ponto se maximizam as expectativas de lucros dos empresários.
Em Keynes, portanto, o pleno emprego – que, na teoria marginalista, é uma tendência geral, se os mercados funcionarem – se transforma em um caso particular, ao qual raramente se chega, a menos que se adotem políticas específicas para incrementar a demanda.
O debate entre essas visões tomou-se agudo em dois momentos, com resultados diferentes. Na crise de 1930, o modelo neoclássico pareceu esgotar-se, e a visão keynesiana, que enfatiza a tendência a uma demanda agregada insuficiente, conferiu uma base teórica aos governos intervencionistas amplamente predominantes no segundo após-guerra.
A "estagnação" das décadas de 1970 e 1980, porém, reabriu a questão, colocando na berlinda as idéias de Keynes e suas políticas associadas. Os economistas neoclássicos retomaram então a ofensiva, primeiro com Friedman, com sua crítica à curva de Phillips, que introduziu a visão neoclássica do mercado de trabalho na discussão do trade-off e incluiu no debate a questão da formação de expectativas; depois, principalmente, com Lucas e Sargent, com a teoria das expectativas racionais. No nível acadêmico, esse debate permaneceu muito centrado nas interpretações da curva de Phillips, que, nas suas versões originais, supõe um trade-off entre inflação e desemprego, muito contestado a partir da década de 1970.
Como não se pode observar empiricamente a taxa de desemprego que seria obtida em uma situação de livre funcionamento do mercado de trabalho, a teoria neoclássica teve de admitir mais um tipo de desemprego, além do voluntário, a que já nos referimos. Nessa abordagem teórica, pode ocorrer desemprego involuntário por diversos motivos, como a introdução do seguro-desemprego ou a fixação da taxa de salário acima da "taxa natural", seja pelo poder dos sindicatos, seja pela definição de um salário mínimo superior a essa "taxa natural". O salário pode estabelecer-se acima da taxa natural também por força de decisões tomadas pelos próprios empresários, desejosos, por exemplo, de evitar a rotatividade dos trabalhadores, atrair trabalhadores mais qualificados ou estimular aumentos de produtividade. Daí a idéia do "salário-eficiência".
Outra explicação neoclássica para o desemprego involuntário está ligada à informação imperfeita no mercado de trabalho. A disponibilidade de empregos é bastante heterogênea, exigindo, por parte do trabalhador, um custoso processo de busca e seleção. As informações sobre cada posto de trabalho não estão disponíveis para todos, de forma igual e de graça, de modo que o desemprego pode decorrer do processo de compilar informações. Mesmo em um modelo simples, no qual a distinção esteja apenas no salário oferecido, é possível analisar os efeitos desse fator sobre o mercado de trabalho. Uma das conclusões do modelo, não totalmente aceita, é de que, quanto maiores os custos para o trabalhador obter informações, menor a expectativa de salário e, portanto, o tempo de desemprego.
O elemento comum à abordagem neoclássica do emprego e do desemprego é que ela centraliza o debate no mercado de trabalho, o qual, se não apresentar imperfeições, funciona como um mercado de bens. Além disso, implícita ou explicitamente, os modelos neoclássicos sempre admitem a validade da Lei de Say, de que a oferta cria a sua própria demanda. Nesse caso, evidentemente, inexiste o problema da insuficiência de demanda agregada. Nos modelos, a Lei aparece simplificada, na forma de uma plena flexibilidade de preços e salários, cujo ajuste evita a insuficiência de demanda. Em contraposição, surgiram modelos de fix-price que, apesar da simplificação, ficaram conhecidos como modelos keynesianos. Deixando de lado a diferença entre fix e flex-price, o importante é que, se os preços não se ajustam, a demanda passa a determinar a oferta, conferindo consistência ao princípio da demanda efetiva (esse princípio, apresentado por Keynes no terceiro capítulo da Teoria Geral, foi definido por alguns autores como estando em oposição direta à Lei de Say: se a demanda determina a oferta, a decisão autônoma é a compra, não a venda). O ponto-chave da teoria keynesiana é que o nível de emprego deixa de ser fixado no cruzamento de oferta e demanda de trabalho, passando a depender do que ocorre no mercado de produtos.
Nesse novo corpus teórico, os determinantes da demanda efetiva, a eficiência marginal do capital, a preferência pela liquidez e a propensão a consumir (que define o multiplicador), determinam também o nível de emprego. Ora, se o nível de emprego/desemprego na economia é dado pela demanda agregada, independentemente da existência ou não de equilíbrio no mercado de trabalho, toma-se possível haver desemprego involuntário em uma situação de equilíbrio entre oferta e demanda. Assim, deixa de fazer sentido a idéia, implícita na teoria neoclássica, de que o desemprego (voluntário) é alto porque os trabalhadores não aceitam trabalhar por uma remuneração inferior à sua desutilidade marginal.
Carlos I. S. Leal e Sérgio Werlang defendem uma versão extremada – poder-se-ia dizer, caricata – da proposta neoclássica, enfatizando dentro dela a questão da educação. Parece válido analisá-Ia porque, ao fim e ao cabo, ela acaba por desnudar certos fundamentos ideológicos dessa visão mais geral. Vejamos o que dizem: "É a escolha do indivíduo que determina seu grau de instrução. E o grau de instrução é um dos principais fatores determinantes de sua renda." A primeira conclusão desse raciocínio salta à vista: a renda de cada indivíduo é determinada, em larga medida, por suas próprias escolhas.
Em seguida, os autores explicam como esse processo funciona:
"A decisão que um indivíduo faz de estudar um ano a mais, ou de começar a trabalhar imediatamente, tem muita relação com a decisão que um empresário toma ao investir em um projeto. Quando um empresário investe em algum projeto, geralmente leva em consideração três aspectos fundamentais: fluxo esperado de seus desembolsos, fluxo esperado de suas receitas e o risco associado à execução do projeto. (…) A decisão do indivíduo, de estudar um ano a mais ou não, é feita nos mesmos moldes.
O indivíduo leva em consideração a taxa de retomo pessoal da decisão de estudar um ano a mais. Do lado dos custos, o componente mais importante é o salário que seria ganho caso entrasse imediatamente no mercado de trabalho. (…) Do lado dos benefícios, está a renda que o indivíduo aufere após um ano adicional de estudo. Ele decide então parar de estudar, ou continuar, dependendo da taxa de retomo do fluxo de pagamentos e recebimentos acima descrito. É fácil calcular a taxa de retomo. Basta que se olhe para o acréscimo percentual de renda que um ano a mais de estudo propicia. O indivíduo compara essa taxa com sua taxa alternativa e toma a decisão: pára de estudar se a taxa de retomo pessoal for inferior à taxa alternativa."
Chegamos assim a uma construção, no mínimo, inusitada: a renda de cada um é determinada, em larga medida, pela educação, que pode ser maior ou menor, dependendo do cálculo de desembolsos e receitas futuras feito por cada indivíduo. Todos somos empresários, imersos numa espécie de "microeconomia pessoal". Os mais competentes, ou mais prudentes, prosperam. Os demais, nem tanto. No fundo, é uma questão de opção. Estamos no reino da liberdade abstrata; não há relações sociais "coaguladas", a sociedade não tem estruturas de poder e dominação. Nada resta da visão de conjunto tão cara à economia política clássica. A ênfase no indivíduo conduz à ênfase na educação, tratada como elemento formador das subjetividades individuais. Estas, por sua vez, vão determinar as diferenças sociais observáveis. Metaforicamente, o nível de educação funciona como um "capital subjetivo" ao qual, em princípio, todos podem ter acesso – o que, evidentemente, não ocorre com o estoque de riqueza real -, confirmando o caráter democrático da sociedade, velha aspiração ideológica do modelo neoclássico.
Nesse contexto, toma-se lícito supor, como fazem os autores em outras passagens de seu texto, que a melhor educação é a oferecida pelo setor privado, mais apto a criar pessoas empregáveis. Valoriza-se cada vez menos o próprio conceito de emprego, que remete ao universo social, e cada vez mais o de empregabilidade, que remete ao indivíduo. E o próprio indivíduo aparece alienado e mutilado, já que sua educação não corresponde mais a um direito subjetivo, ligado às suas potencialidades humanas, mas à adequação a um determinado ambiente econômico.
É verdade que, em nossa sociedade, empresários e demais pessoas perseguem interesses individuais, de forma competitiva, mas sua atividade se dá nos marcos de possibilidades socialmente determinadas. Voltemos a Marx: "O próprio interesse privado já é um interesse socialmente determinado, que só pode ser alcançado no interior de condições fixadas pela sociedade e com os meios que ela oferece. Está ligado, portanto, à reprodução dessas condições e desses meios." (Mesmo levando em conta apenas a ação dos empresários capitalistas, stricto sensu, é fácil ver que o êxito é apenas parcialmente determinado pelos esforços individuais de cada um em tocar seu negócio com eficiência acima da média; sucesso e fracasso estão sempre co-determinados pelos esforços correlatos de todos os demais capitalistas, e a rentabilidade de cada capital está subordinada à rentabilidade do capital como um todo, numa certa configuração do conjunto do sistema).
O raciocínio de Leal e Werlang, incrivelmente reducionista, não faz jus sequer à melhor tradição neoclássica. Marshall também defendia o papel econômico da educação, debatendo de outra forma, no entanto, o tipo de educação necessária:
"O progresso econômico acarreta, de um lado, uma constante e crescente mutabilidade nos métodos da indústria, e portanto uma dificuldade cada vez maior em prever a procura de trabalho de qualquer espécie uma geração adiante. ( … ) Uma boa educação proporciona grandes benefícios indiretos, inclusive ao trabalhador comum, estimulando sua atividade mental e sua curiosidade científica, tornando-o mais inteligente e mais capaz, aumentando o teor da vida em horas de trabalho e de lazer, sendo assim um meio importante de produzir riqueza material."
O ponto de vista de Marx também permite uma crítica a Keynes. A insuficiência de demanda efetiva indica que o mercado não é capaz de absorver os produtos ofertados. Do ponto de vista do empresário individual, essa constatação está correta: suas mercadorias não se vendem, e por isso ele decide diminuir ou interromper a produção, dispensando mão-de-obra ou cessando sua contratação. Daí a impressão, tão clara. de que a demanda comanda a dinâmica do sistema.
Marx, porém, vê o problema de outro ângulo: para ele, tudo o que se passa na esfera do mercado está submetido a limites definidos pelos acontecimentos que ocorrem na esfera da produção e da distribuição do produto social, que são dominadas pela problemática da acumulação, ou reprodução ampliada, de capital. O controle que o mercado exerce sobre os produtores individuais se inscreve em um espaço de análise mais abrangente, em que predomina o controle do processo de acumulação sobre os produtores e o mercado. Pois, sem acumulação, pode haver produção, mas não produção capitalista. Assim, para Marx, a taxa de acumulação é o elemento ordenador das funções reguladoras do mercado. O equilíbrio ou desequilíbrio entre oferta e demanda só se formam em contextos dominados pelo processo de acumulação, e a tendência à superprodução – que em Keynes aparece como tendência à insuficiência de demanda – só é superada de forma consistente (embora provisória) quando o capital consegue um aumento, relativo ou absoluto, no grau de exploração da força de trabalho. A crise aparece quando o capital acumulado mostra-se grande demais em relação à taxa de lucro que ele é capaz de obter; e o que o sistema precisa restaurar não é, essencialmente, um equilíbrio entre demanda e oferta, mas um equilíbrio entre o processo de produção material e o processo de expansão do valor.
Estamos diante de três teorias fundamentais – Marx, Keynes e os neoclássicos -, cujo grau de abordagem sistêmica é decrescente. A primeira conduz à idéia de que o sistema tende a recriar dinamicamente um exército industrial de reserva, pela atração e repulsão simultânea de massas humanas, cuja vida passa a gravitar em torno do capital, que não as pode absorver de forma estável e crescente. A segunda aponta imperfeições no ajuste entre oferta e demanda agregadas, o que exige uma intervenção consciente no sentido de sustentar esta última, se quisermos atingir e manter algo próximo ao pleno emprego. A terceira pretende que os mercados se auto-regulam e, deixados em liberdade, tendem a um ponto de equilíbrio em que a alocação dos recursos, inclusive do trabalho, se toma ótima.
Nas reviravoltas da história, a verossimilhança de cada teoria se toma ora maior ora menor, como se viu nas últimas décadas, com o ressurgimento dos neoclássicos, por muito tempo marginalizados. No longo prazo, apesar de tudo, creio que Marx ainda nos oferece a teoria que captou com maior fidelidade os fundamentos do capitalismo, inclusive no que diz respeito à dinâmica do mercado de trabalho.
Cesar Benjamin é editor e escritor.
EDIÇÃO 60, FEV/MAR/ABR, 2001, PÁGINAS 28, 29, 30, 31, 32, 33