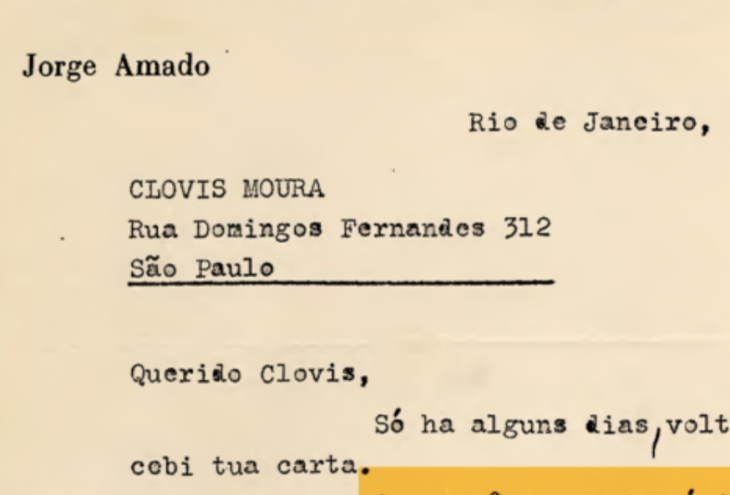Fragmento de algo que talvez seja um livro – parte 1
Olhava o campo de arroz da minha infância, sentado na varanda em companhia do meu avô. Tomávamos uma xícara de café, a minha, tinha um pouco de anis. O céu estava alaranjado e o colchão verde perdia-se no horizonte, meu avô, que gostava de contar causos, estava na história da lontra que foi cercada na beira do rio e desapareceu num barranco sob a água. Falava de uma passagem pra um outro mundo.
“ Acidente grave… foi o desabamento do muro.”
Embarcado num ônibus de destino desconhecido, certa vez me vi frente a um enorme jacaré empalhado e amarrado com arame na parede. Duas bolinhas de gude substituíam os olhos do animal.
“Não feche os olhos!”
Um preto velho de olhos fechados girava feito um bailarino expressionista, o sorriso patológico desafiava os transeuntes em passos cotidianos. Eu tomava um café perto do cine paulistano e li num pedaço de cartaz: fuga impossível. Neste dia, conheci uma atriz.
¾ Repete a fala da sua personagem.
“Nem todos os homens vivem ainda…”
A vida tinha uma cadência segura quando meu avô fechou os olhos. No criado-mudo, próximo à cabeceira, estava o seu relógio, e por curiosidade observei que estava adiantado. No enterro, uma senhora de olhos de porcelana aproximava-se lentamente, anjinhos barrocos ornavam com túmulos de rebocos desiguais e uma multidão prostrava-se perto da capela onde acontecia um gládio de velas. Brados despedaçados e súplicas vãs acompanharam lírios e cedro descendo sob cordas.
“Entra rapaz, e pare de me olhar feito estátua porque daqui a pouco você vai estar todo cagado de pomba.”
Em São Paulo, na entrada do quintal, havia um São Jorge cravado na parede. Meu quarto era minúsculo, sem janelas. Meu vizinho era um marinheiro, moço de máquinas, como ele dizia. Por vezes falava sozinho, e contava histórias em que o real e o romantizado se misturavam. Foi contando histórias até o dia em que morreu, bem no dia de natal.
“ ¾ Não vai morrer no meu braço! “
Solta! ele tá morto.
Não era ninguém. Foi enterrado pela prefeitura. Tornou-se uma cruz. A cruz na estrada é o sinal de que ali morreu alguém. No caminho havia muitas cruzes. O medo de me perder, de não conseguir voltar pra casa, fez com que me orientasse por elas.
No dia da morte do velho, saí caminhando sem destino sob uma chuva fina. “O homem é da mesma natureza do Condor”. Alguém deve ter dito isso mais tarde. Também chovia na morte do marinheiro. A chuva caía lenta. Os olhos perfilados sob os toldos do comércio esperavam que a chuva passasse – não passava. Caminhei como estivesse atrasado.
Ninguém mais me contava histórias. Então, iniciei algumas narrativas pra mim mesmo, construídas de pedaços que nunca chegaram ao fim.
Arrumei um trabalho. Passava dez horas abastecendo máquinas com pedaços de alumínio e titânio. Diziam que aquelas peças seriam montadas em aviões e eu andava olhando pro céu, imaginando se algum daqueles carregava alguma peça produzida na fábrica, mas parecia improvável. Aquelas não deviam ser destinadas a um avião, não desses que voam.
Perto do fim do século, ouvi as histórias do fim do mundo, uma história do fim ou fim da história, coisas assim. Acho que o mundo é uma história sem fim, no fim das contas.
“Centro Cirúrgico em cinco minutos!”