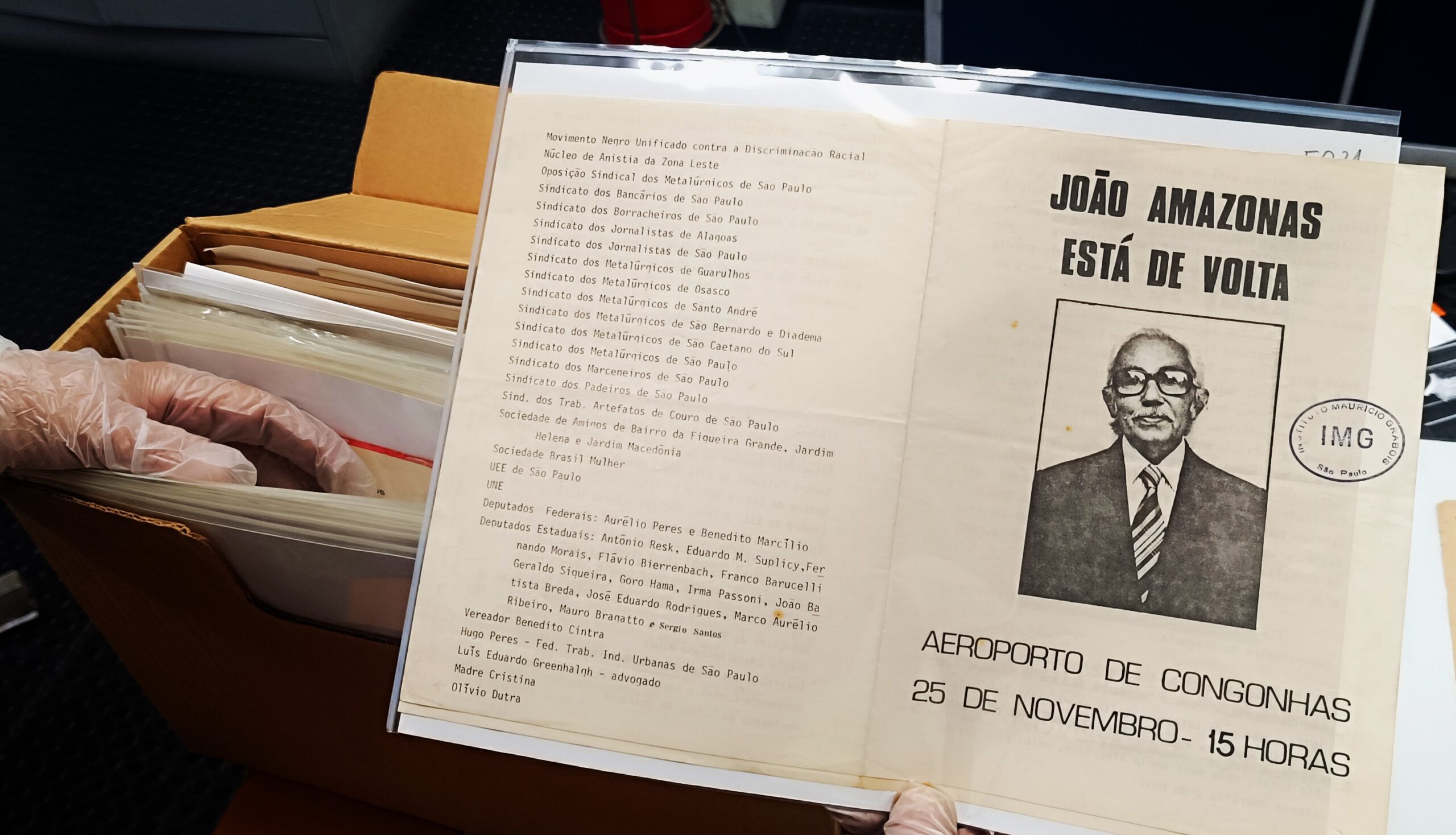A partir de março deste ano iniciou-se, entre os credores da dívida pública federal um movimento de resistência ao seu refinanciamento (a “rolagem”). Esse processo começou a ficar público na segunda metade de maio, sob a forma de elevação da taxa de câmbio do Real frente ao dólar e acabou por desencadear uma crise financeira no refinanciamento da dívida, logo transformada também em uma crise cambial.
Ocorrendo no início da campanha eleitoral, essa crise vem tendo graves repercussões políticas e econômicas. Em certa medida, ela é para os brasileiros uma crise inédita, pois mostra pela primeira vez uma das conseqüências que tiveram para a economia e a política nacional as reformas neoliberais implementadas na década de 90, que resultaram na liberalização do câmbio e na livre movimentação de capitais pelas nossas fronteiras. A revelação da nossa vulnerabilidade a movimentos de capitais financeiros e os limites e restrições externos, que hoje parecem condicionar o processo político brasileiro, demonstram o grande alcance das transformações econômicas e políticas que as reformas neoliberais trouxeram ao país.
Meu objetivo neste artigo é discutir as razões dessa crise financeira, o mecanismo de como ela se transformou em uma crise cambial e as diversas soluções que são defendidas.
A crise: uma herança das políticas neoliberais
A crise financeira iniciada no segundo trimestre tem duas fontes: a situação periclitante da dívida pública interna e das contas externas brasileiras e a incerteza proveniente das eleições de outubro. Essas duas causas da crise terminam atuando uma sobre a outra, em um mecanismo cumulativo. O que pode confundir o observador é que hoje é difícil distinguir se se trata de um problema econômico, decorrente da política do governo FHC, agravado por erros de condução do Banco Central, ou se é uma ação política deliberada com o objetivo de impedir uma vitória de Lula para a Presidência da República.
No meu entender, a crise se iniciou pela recusa dos grandes credores (especialmente os grandes bancos que concentram mais de dois terços dos papéis) da dívida federal em continuar rolando os títulos nas condições anteriores, premidos por duas motivações: a percepção do agravamento da situação da dívida interna e externa, considerando também a conjuntura internacional e a tentativa de se livrarem dos títulos públicos a vencer no próximo governo. Essa última motivação teria por origem a evidente insatisfação dos financistas com a candidatura oposicionista de Lula, bem como a postura, um tanto enigmática, que o próprio candidato oficial, José Serra, mantinha até então sobre que mudanças ele pretendia introduzir na política econômica de um seu eventual governo.
Desde março os grandes bancos começaram então a vender parte dos títulos federais de seus estoques, criando uma pressão desvalorizadora sobre a dívida pública. Em resposta, o Banco Central e o Tesouro Nacional trataram de diminuir o volume dos leilões de rolagem. O resultado foi os bancos terminarem por acumular muito dinheiro em caixa, até atingir cerca de 8 bilhões de reais por dia no final de maio. Parte desse dinheiro começou a ser utilizada, então, para compra de dólares, desvalorizando nossa moeda.
Esse movimento não é apenas econômico, mas também político. Pois, mesmo que não seja deliberado, o que pretendem esses grandes credores é reivindicar, principalmente dos candidatos, a garantia de continuidade de uma determinada política econômica, que beneficia esse grupo. Não se trata propriamente de uma conspiração, mas de uma confluência de comportamentos individuais que, na prática, funciona como um movimento coletivo de pressão, buscando defender interesses bem definidos.
As reivindicações dos bancos, apoiadas por amplo setor do grande capital nacional e internacional e pela grande mídia, podem ser resumidas em: manutenção do regime de câmbio flutuante; uma política fiscal voltada para conseguir superávits primários necessários ao pagamento da dívida pública; garantia de que honrarão todos os contratos (ou seja, continuar pagando os títulos) e os acordos internacionais. Em junho, com a fuga de dólares e a diminuição do fluxo de entrada de divisas, inclusive pelo quadro de recessão nos EUA, logo se aditou àquela lista a “necessidade” de se prorrogar o atual acordo com o FMI, que vence em dezembro deste ano, para que vigore no período do próximo governo.
Acrescenta-se também, como um arranjo institucional importante para manter as promessas dos candidatos, que se ultimem no Congresso Nacional as deliberações necessárias para criar um Banco Central “independente”, cuja diretoria seria nomeada já nesse governo.
Os meses de junho e julho viram os principais candidatos à época, Lula e Serra, sob intensa pressão, se pronunciarem sobre a “pauta de reivindicação”, concordando com ela. No entanto, apenas Serra já se comprometeu com o pretendido novo acordo com o FMI.
A situação da dívida pública: seu comportamento e o fracasso da estratégia de estabilização por meio de superávits primários (1)
O Plano Real, desde o início, sempre teve como um de seus fundamentos uma política fiscal que eliminasse qualquer déficit público. O governo FHC sempre defendeu a necessidade do equilíbrio fiscal como condição fundamental para o país voltar a crescer de maneira estável e consistente. Fazer “equilíbrio fiscal” era entendido como restringir despesas com investimentos e serviços públicos, especialmente benefícios previdenciários e a folha de pagamento dos servidores. Significou também uma forte expansão da arrecadação, especialmente através de contribuições sociais (criadas como a Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira – CPMF ou majoradas como a Contribuição para Financiamento da Seguridade – Cofins, a Contribuição sobre o Lucro Líquido – CSLL etc) e das privatizações.
Mas até 1998, apesar de todo esse esforço, o objetivo do “equilíbrio fiscal” fracassou. A arrecadação avançou, a despesa federal foi detida, mas a dívida pública subiu espetacularmente. O país não conseguiu mais equacionar sozinho a sua dívida pública e a dívida externa (pública e privada), tendo de buscar a assistência do FMI.
A partir de 1998, então, alcançar superávits primários passou a ser o principal objetivo da política fiscal e de toda a política econômica do governo FHC. E os estados e municípios, agora manietados pela renegociação de suas dívidas com a União, foram também obrigados a fazê-lo.
O Acordo com o FMI, em dezembro de 1998, estabelecia a necessidade de um forte ajuste fiscal, traduzido na obtenção de elevados e persistentes superávits primários em todas as esferas do setor público – federal, estadual e municipal – cujo objetivo era, outra vez, deter o crescimento da dívida líquida do setor público, expresso em percentagem do PIB (relação dívida/PIB).
Mas apesar de nos últimos três anos terem sido superadas as metas de superávits primários estabelecidas pelo FMI, mesmo à custa de impedir o crescimento do país, a dívida líquida continua subindo em relação ao PIB. Nunca um governo provocou um rombo tão grande nas contas públicas e em tão pouco tempo.
Se observarmos na tabela as metas iniciais do acordo com o FMI para a dívida do Setor Público (46,5% do PIB em 2000 e 44,5% em 2001), vemos que a realidade ficou distante. Os superávits primários sempre superaram a meta estabelecida, não atingiram seu objetivo principal de manter estável a relação dívida/PIB. O malogro do governo em impedir o crescimento galopante da dívida, significa o fracasso da política fiscal e de toda a política econômica do Plano Real. Mais ainda: significa o fracasso de sua solução para o equilíbrio fiscal e para o desenvolvimento do Brasil.
A solução não está em considerar os superávits insuficientes para o ajuste fiscal. O problema está na política econômica adotada até agora. A verdade é que nenhum ajuste fiscal conseguirá, por si só, ser suficiente para pagar a conta de uma política econômica equivocada e de alto custo fiscal.
A política econômica: a causa verdadeira do rombo fiscal
Desde 1994 a política econômica teve por objetivo a atração de capitais estrangeiros com base na liberação comercial e financeira do país, na estabilidade da moeda frente ao dólar e na manutenção de uma taxa de juros atraente. Em meio a dificuldades internacionais crescentes, de instabilidade e encarecimento do crédito, essa política manteve taxas de juros insensatas que, se até 1998 pôde manter a ilusão de entrada de capitais externos, multiplicou a dívida pública. A isso se acrescentaram os compromissos com o Proer e o reconhecimento dos chamados “esqueletos”, dívida de origem obscura que nenhuma lei mandava pagar.
Desde 1994 que a dívida federal líquida (Tesouro e Banco Central) cresce muito acima do crescimento do PIB, como se vê no gráfico abaixo.
Apesar de todo esse custo, representado por um crescimento da dívida líquida federal de 26,3% do PIB entre 1993 e 1998, a política cambial da paridade do real com o dólar só foi abandonada quando o país quebrou, no segundo semestre de 1998. Sem o aval do FMI – no acordo celebrado em dezembro daquele ano – o Brasil não teria condição de ter refinanciado parte de seu passivo externo nem os títulos da dívida pública interna.
Mas o abandono da política cambial do câmbio fixo – o “populismo cambial” – também saiu muito caro. Ele só foi possível porque o Tesouro e o Banco Central arcaram com todo o prejuízo da desvalorização do Real de janeiro de 1999 em diante. Desde meados de 1998, o governo emitiu dezenas de bilhões de títulos vinculados à variação do dólar, substituindo parte da dívida existente e lançando novos. Os investidores estrangeiros que tinham seus capitais no Brasil ou que, juntos com as empresas nacionais, tinham dívida em dólares, puderam adquirir esses títulos e se protegeram da desvalorização de janeiro de 1999 e das flutuações seguintes. Como o prejuízo foi transferido para o governo, a dívida deu um pulo significativo. Por isso o FMI e a equipe econômica tiveram de fazer dos superávits fiscais o objetivo central do governo.
Por essa razão, como mostra o Gráfico 1, a dívida federal líquida continuou subindo, quase no igual ritmo de antes. Embora não tivéssemos de sustentar mais uma taxa fixa de câmbio em relação ao dólar, a nova política da flutuação cambial tornou essa taxa tão instável, que manter empréstimos externos ficou muito caro e o setor privado desinteressou-se de tomá-los.
Por outro lado, o Tesouro e o Banco Central têm de continuar a oferecer para os investidores e devedores mais e mais títulos dolarizados para eles se defenderem da instabilidade do real. Os juros, se não se mantiveram tão altos como antes, são suficientemente elevados para que, a cada ano, a capacidade do governo de gerar superávits não seja suficiente para pagá-los. Por isso a dívida continua a crescer. Em maio a dívida federal líquida (inclusive BC e estatais), de 34,7% do PIB, ultrapassou mais uma vez a meta definida para dezembro de 2002 (33,75% do PIB).
Agora a dívida atingiu um ponto tal que o seu tamanho faz os investidores desconfiarem de que o país não poderá pagá-la, nem seus encargos. E pior, o governo terminou por perder os dois instrumentos internos de manejar a taxa de câmbio, garantir o refinanciamento da dívida pública e defender as reservas: a elevação da dívida e a taxa de juros. Os credores não estão mais interessados em conseguir juros mais altos, pois sua elevação apenas aumenta o perigo deles não receberem nada!
As dificuldades das contas externas
Desde a quebra do México em dezembro de 1994, a situação de captação de financiamento e disponibilidade de investimentos diretos foi de crescente dificuldade: oferta menor e custos maiores. Mas a partir do final de 1997 essa situação foi se deteriorando visivelmente. Mas do lado da demanda por financiamento também houve contração. A constante elevação das taxas de juros e, depois de janeiro de 1999, a adoção do câmbio flutuante, como vimos, fizeram com que o setor privado se desinteressasse de se endividar em dólar. Muitos trataram de liquidar seus passivos externos e aqueles que não podiam fazê-lo, trataram apenas de refinanciá-los, “rolando-os” para frente.
Por isso, desde 1999, há uma estabilidade no estoque (em dólares) da dívida externa total e uma diminuição no estoque da dívida privada. Por isso a demanda interna por hedge, mesmo na atual crise, está baixa. Como nosso PIB em dólares encolheu depois de 1998, houve um aumento significativo do tamanho proporcional da dívida após esse ano.
Mas os fluxos de serviços e de rendas do capital continuam altos, exigindo financiamento. O gráfico 3 mostra a evolução desses valores. Notem que o valor total dessas remessas em 2001 duplicou em relação a 1994, ano inicial do Plano Real.
Por muitos anos o governo FHC e sua equipe desprezaram a necessidade de fazer superávits comerciais para financiar o déficit externo causado pelas remessas de rendas de capital (lucros, juros, etc) e para pagar os compromissos com a amortização das dívidas contraídas. Pois haveria sempre oferta de empréstimos e de investimento externo para cobrir esse déficit. Depois que os empréstimos secaram, ainda se enganaram com o volume de investimentos diretos. Porém, por fim, tiveram que assumir que sem um esforço exportador não há como pagar tal déficit. (2)
O problema é que para conseguir de novo os altos superávits comerciais, seria preciso abrir-mão de políticas antes abandonadas como “nacional-desenvolvimentistas” e de “dirigismo estatal” e, pior, de obstruir o “livre comércio”: políticas industriais de substituição de importações, forte subsídio à atividade exportadora, proteção tarifária contra importações e planejamento e participação do Estado na economia.
Além do mais, depois da mudança estrutural que impuseram à economia nacional na década passada, uma alteração estratégica como essa demanda tempo, muito tempo, para dar resultados expressivos. Depois da crise de 1979, em uma situação bem mais confortável, o Brasil levou cinco anos para conseguir – com um esforço exportador colossal – atingir um certo equilíbrio no saldo das transações correntes.
Naquela época, com base em um desenvolvimento acelerado, que permitiu ao Brasil completar o ciclo da 2ª Revolução Industrial, pode-se mudar a pauta de exportação, fazendo do país principalmente um exportador industrial e não mais de produtos primários. Agora é diferente, a estagnação dos anos 90, não nos preparou para nenhum salto.
Por isso, sem financiamento externo e sem saldo apreciáveis de balança comercial, e tendo que captar, em média, um bilhão de dólares por semana para cobrir o déficit corrente e o pagamento das dívidas, torna a sustentação de nossas contas externas a curto e médio prazo inviável.
A gravidade da situação de curto prazo
A gravidade da situação de curto prazo, ou seja, os próximos 12 meses, é que, como já dissemos, o Governo terminou por perder os dois instrumentos internos de manejar a taxa de câmbio, garantir o refinanciamento da dívida pública e defender as reservas: a elevação da dívida e a taxa de juros. A margem de manobra das autoridades econômicas foi restringida praticamente a nada.
Nas contas externas, no curto prazo, também se enfrenta uma situação grave. A própria desvalorização da moeda, que é um instrumento de equilibrar a balança comercial a curto e médio prazos (à custa de transferir renda para o exterior), passou a ter, com a flutuação e a crise, um comportamento errático, com a perspectiva de ficar fora de controle. Essa desvalorização descontrolada, selvagem, se achata fortemente as importações, termina também por paralisar as exportações, porque não é possível aos exportadores planejar preços para operações que, normalmente, se dão com antecipação de três a seis meses. Por isso os superávits comerciais que vêm se tendo desde 2001 são o pior tipo de superávit, quando caem tanto as importações como as exportações, representando uma crescente tendência de paralisação da economia.
A própria situação do mercado de capitais norte-americano, vem estrangulando ainda mais a oferta cada vez menor de divisas para o Terceiro Mundo.
Mas o problema maior nesta situação de curto prazo é a própria reação dos investidores estrangeiros e do grande capital nacional frente a ela. A disponibilidade de relativa liquidez de parte dos capitais disponíveis e a liberdade de movimento agora existente vêm incentivando um comportamento predatório por parte das grandes empresas. Cada uma busca se safar de prejuízos maiores no futuro próximo, dificultando a rolagem da dívida pública e remetendo dólares para o exterior crescentemente. Isso terminará, provavelmente, não só por confirmar as piores previsões de quebra da economia, como até antecipando-a.
Esta é a verdadeira situação, e os nossos famosos “fundamentos” agora não valem mais nada. É pura ficção.
Estamos sendo levados para uma perigosa situação de quebra por obra da pesada herança das políticas neoliberais implementadas nos últimos dez anos e por uma situação política de grande incerteza.
As propostas do mercado
Diante dessa situação, o que o “mercado” propõe é simplesmente manter as atuais políticas – câmbio flutuante e superávits fiscais e esforço exportador –, prorrogar imediatamente o Acordo com o FMI que vence em dezembro e a “independência” do Banco Central. Enquanto a reivindicação da manutenção das políticas atende aos preceitos “internacionais” de “políticas econômicas saudáveis” e tende a garantir os interesses do grande capital, o Acordo com o FMI e a “independência” do BC são arranjos institucionais que permitem a manutenção das políticas prometidas ou, no limite, garantem ao “mercado” uma boa situação de barganha em futuras negociações após uma quebra generalizada de moratória da dívida pública e suspensão dos pagamentos externos.
Isso pode interessar a eles, mas dificilmente servirá para o Brasil. Como já vimos, a manutenção do ajuste fiscal, sem mudanças na política econômica, servirá apenas para manter a economia em recessão e a prejudicar ainda mais a infra-estrutura e os serviços públicos. A manutenção do regime de flutuação cambial, com a liberdade existente de remessas de divisas, apenas manterá uma correlação de forças desfavorável a maioria, onde uma quantidade muito pequena de grandes operadores detém um poder desproporcional, permitindo a eles manter a nação em cheque com a ameaça iminente de um colapso cambial.
O Acordo com o FMI, mesmo para o grande capital, tem mais conseqüências políticas do que financeiras. Isso porque as linhas de financiamento dessa instituição, desde 1997, vêm tendo cada vez maiores restrições à sua utilização. Até a crise asiática de 1997 e a quebra da Rússia em 1998, o dinheiro do FMI serviu principalmente para financiar a saída de dólares de investidores, deixando aos países devedores uma dívida impagável, que posteriormente teve de ser renegociada com o FMI. O novo arranjo de assistência financeira, imposto a partir de 1997, mudou o condicionamento dos financiamentos, não permitindo mais que o país contratante use o recurso para financiar a fuga de divisas. Desde dezembro de 1998, o acordo com o Brasil, já não permite que o grosso do dinheiro emprestado possa ser gasto pelo país, todo o recurso advindo permaneceu “bloqueado” nas reservas até ser reembolsado. Os US$ 10 bilhões que entraram em junho último, por exemplo, continuam “bloqueados” nas nossas reservas. Esses aportes servem apenas como penhor da confiança que o FMI tem sobre as políticas executadas pelo Brasil, confiança que é suficiente para que a instituição nos entregue tal valor.
Assim, um novo acordo com o FMI, se os recursos envolvidos advierem de SRF também não servirá para financiar a fuga dos investidores, mas servirá para que eles contem com o Fundo para pressionar a manutenção das atuais políticas ou, em caso de quebra, “ajude-os” a negociarem novas políticas que minimizem suas perdas, como acontece agora na vizinha e indigitada Argentina.
Para o novo governo a prorrogação do Acordo com o FMI significa uma camisa-de-força política. Não cumprir as promessas de manter políticas terá como conseqüência não as habituais reclamações de quem sai perdendo, mas a abertura de um contencioso internacional com o Fundo e os seus principais acionistas, podendo redundar em retaliações externas graves. A Argentina é outra vez o nosso espelho.
Já as conseqüências da adoção de um Banco Central “independente” (ou “operacionalmente autônomo”, como falam eufemisticamente seus defensores), são também graves para a autonomia política do Estado brasileiro, sendo do ponto de vista estratégico, por ser mais duradouro, uma concessão de poder ao grande capital financeiro ainda maior. Com um mandato que depende, para sua derrogação, de uma maioria do Senado Federal, a mais conservadora das Casas do Congresso Nacional, a diretoria do Banco Central passa a ser virtualmente imune ao controle político do povo.
O poder do Banco Central em determinar o rumo da economia e a restringir políticas econômicas do Poder Executivo é muito maior do que os cidadãos comuns percebem. Determinando a taxa de juros e o volume de crédito dos bancos, o Banco Central influencia decisivamente o quanto cresce a economia, mas também pode inviabilizar uma política industrial do governo, com base por exemplo, em linhas de crédito do BNDES, porque simplesmente pode não haver crédito bancário para financiar os fornecedores ou compradores das empresas beneficiárias dos empréstimos do BNDES.
É verdade que um regime de “independência” pode ser revertido, posteriormente, no Poder Legislativo. Mas sua derrogação, se concedida em lei complementar (como será o caso), não poderá ser feita por Medida Provisória, necessitando de um prolongado processo legislativo, com conseqüências funestas em curto prazo. E tal regulamentação do BC “independente” está por um fio no Congresso Nacional.
Depende de uma Proposta de Emenda Constitucional que já foi aprovada pelo Senado e está pronta para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. Votada em duas vezes no plenário, em duas semanas diferentes, já poderá, de imediato, ser aprovada uma lei complementar, de teor relativamente simples. Mas para que isso seja possível, terá de haver acordo com os principais candidatos à Presidência da República, para que suas respectivas bancadas façam um acordo de votação sumária.
Felizmente, essa dificuldade não é pequena, até o candidato oficial deve vacilar em abrir-mão de tal poder. Mas tudo dependerá da capacidade de pressão e de chantagem que tiver o grande capital, ao criar, por causa da crise, uma situação de asfixia cambial e de garroteamento no financiamento externo do país. Será uma dura prova.
As propostas dos candidatos e os desafios da crise
Serra afirma a administrabilidade da dívida. Garotinho diz que vai baixar a taxa de juros de saída. Ciro propunha a renegociação voluntária da dívida pública, concedendo taxas de juros maiores para os credores que aceitassem alongar seus títulos; agora, que tem perspectiva de disputar o segundo turno, diz que não é bem assim. Lula se pronunciou duas vezes de forma oficial sobre a questão. Na Carta aos Brasileiros deu ênfase e ressaltou o respeito aos contratos. Já no lançamento do programa da Frente divulgou o documento “Compromisso com a soberania…” e afirmou que “o povo brasileiro não aceita a dependência atual e a atitude subalterna do governo (…) A população exige que recuperemos a soberania para decidir de modo autônomo a política econômica e os destinos do país”.
Sobre o déficit externo, há uma grande convergência de propostas: incentivos à exportação e à substituição de importação. Há apenas diferenças de ênfase entre esses dois componentes.
O PCdoB sugeriu, dentro da Frente Lula Presidente que, para enfrentar a dependência econômica é necessário “um novo relacionamento, soberano e autônomo, com o capital financeiro internacional e seus sócios internos. São necessárias a diminuição do serviço da dívida e das remessas das demais rendas de capital e a utilização das formas de controle do fluxo de capitais, visando adequar os compromissos externos à capacidade da economia nacional. As condições políticas e a correlação de forças determinarão se essa redução e controle serão negociados ou unilaterais.”
Penso que essa proposta é a que mais se aproxima da realidade que o Brasil terá de enfrentar no início do próximo governo, ou até mesmo antes de sua posse. Se o refinanciamento da dívida pública e das contas externas for inviabilizado por pressão política ou intransigência dos credores, não haverá saída para o futuro governo a não ser quebrar as atuais regras do jogo. Pois os exemplos históricos mostram que, em momento de viragem histórica, as regras sempre foram quebradas, não só pelos mais fracos (Brasil em 1930 e em 1937; Brasil em 1987; Rússia em 1998), mas pelos mais fortes também (Inglaterra em 1916 e 1931; EUA em 1971 e 1979). O problema real para um devedor soberano, diante de um grave risco para a sobrevivência de sua economia e de seu povo, não é se se deve repudiar seus compromissos financeiros, mas se a correlação de forças o permite.
A Argentina é um exemplo: o seu governo se obstinou em manter-se nas regras do jogo (ou não conseguiu concentrar forças para repudiá-las) e o resultado foi sua falência absoluta, o que determinou sua expulsão do jogo. Como as regras não foram quebradas no momento certo, eles simplesmente deixaram de existir, e seu povo e seu governo têm, agora, de começar tudo quase do zero, com um prejuízo social e econômico que nenhuma nação jamais sofreu, exceto por guerra.
Diante da situação que vivem hoje os EUA, com uma grave crise no seu mercado de capitais, o coração do sistema capitalista, talvez seja preciso que os partidos, em especial os da Frente Lula Presidente, levem em consideração que um dos possíveis desdobramentos da crise norte-americana, possa ser uma depressão mundial que tenha por conseqüência, como aconteceu na década de 30, que os países da periferia sejam deixados à sua própria sorte. Se for esse o caso, talvez até nossas elites tenham de admitir a discussão de um novo projeto próprio e autônomo de desenvolvimento. Mas essa já seria uma outra história.
Lecio Morais é economista, especialista em Planejamento e Orçamento Público pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e assessor da Bancada do PCdoB na Câmara dos Deputados. Este texto foi escrito com informações disponíveis até o final
de julho de 2002.
Notas
(1) As partes 2 e 3 deste artigo estão largamente baseadas no documento “A Herança Maldita de FHC”, de autoria coletiva de Sérgio Miranda, Flávio Tonelli e Lecio Morais, a ser publicado.
(2) Para uma discussão da estratégia recorrente do esforço exportador e de sua relação com a dependência econômica ver meu artigo “Proposta Bresser-Nakano propõe volta do esforço exportador”, Princípios nº 65, maio-julho de 2002.
EDIÇÃO 66, AGO/SET/OUT, 2002, PÁGINAS 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26