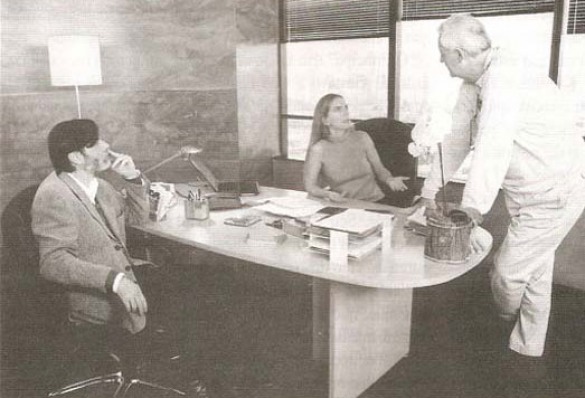A ausência do pensar o país pelo fazer cinematográfico de certo modo foi a contrapartida artística de uma pressão violenta sobre o pensamento político e econômico brasileiro, que fez com que parte da intelectualidade, inclusive a progressista, pusesse de lado a categoria nação e passasse a trabalhar a vontade de projeto nacional como nacionalismo vulgar, resquícios da estratégia da revolução por etapas e sintoma da incapacidade da esquerda de travar o combate político nos termos em que ele se coloca hoje no mundo.
Correspondeu a um período de atordoamento do pensamento político e cultural diante do desmoronamento das experiências socialistas, e tentativa de repor as idéias diante da onda neoliberal do pensamento único que, no Brasil, se lançou com a vitória de Collor e se instalou com Fernando Henrique Cardoso. O assunto nação perdeu o interesse e o cineasta o perdeu de vista, por falta de referências de como abordá-lo ou simplesmente por retirar do seu horizonte qualquer compromisso com outra coisa que não seja a oportunidade desse ou daquele projeto de filme. Essa tendência, predominante ao longo da década de 90, começou a ceder quando, no pensamento político e econômico, se recupera com força a categoria nação como chave do entendimento dos conflitos internacionais, e em especial quando intelectuais e setores da esquerda que sempre a desprezaram em sua estratégia de pensamento e ação política, a recuperam e a colocam como questão-chave do enfrentamento ao pensamento neoliberal e de resposta aos destinos do Brasil.
Não que isso represente um retorno aos momentos áureos do cinema político brasileiro, quando subjacente ao esforço de totalização da vida nacional, havia sempre um projeto de nação evidente. Os cineastas que se lançam ao esforço do diagnóstico geral do país hoje, fazem-no em um ambiente de duro confronto político, em que não há um pensamento majoritário nem um projeto nacional claramente delineado a contrapor-se ao reinado neoliberal. Seus filmes se lançam à empreitada, carregados apenas do desconforto e da repulsa ao atual estado de coisas, determinantes para a crítica e para a vontade de totalização, mas insuficientes para o diagnóstico e, portanto mais um elemento na confusão política e ideológica reinante em um tempo que se evidencia como de crise no seu sentido primeiro, o de entrelugar entre duas ou mais possibilidades do destino nacional.
“Cronicamente Inviável” (Sergio Bianchi, 2000) o fez com furor, “O Príncipe” (Ugo Giorgetti, 2002) o faz com melancolia, ambos usando e abusando da ironia para apontar que o mal está presente, apesar das diferentes estratégias narrativas, pontos de partida e resultados atingidos. Constituem, ao lado de “O Invasor” (Beto Brant, 2001), filme sem a pretensão do diagnóstico geral – mas que acaba por desenhar e atualizar o confronto social da metrópole brasileira, um sopro de inquietação no panorama cinematográfico brasileiro, ao apontar a necessidade e a possibilidade de um cinema que represente o Brasil de hoje e, sobretudo a encruzilhada em que se encontra.
“O Príncipe” tem início com a chegada de Gustavo a São Paulo, após duas décadas vivendo em Paris. Sua chegada é emblemática, ele não reconhece o local em que morou, uma agitada rua da noite paulistana em um bairro outrora conhecido pela sua tranqüilidade. Seu estranhamento, longe de ser apenas o do tempo ausente, é o estranhamento do caos instalado e em particular da violência que emana daí. Sua mãe, que não esperava por ele, reage diante das suas batidas no portão como faz todas as noites contra a “fauna” que invadiu o lugar e seu sossego. Já no dia seguinte, Gustavo é rapidamente apresentado à esposa do sobrinho, fotógrafa de um jornal sensacionalista da cidade à caça de acontecimentos funestos. Frente à casa, um morador de rua tira a roupa e é agredido por pessoas que trabalham por ali. Gustavo vai ao colégio onde Mário, seu sobrinho, dava aulas e ficamos sabendo que este foi internado em uma clínica psiquiátrica, motivo da volta repentina de Gustavo ao Brasil. A cidade vai se desenhando como uma grande boca a devorar as pessoas.
Mário é um brilhante professor de história que dava aulas em um colégio liberal de São Paulo. Em suas aulas, o prof. Mário passa a inventar uma história para o país, radicalmente distinta da história do Brasil. Sua tese é de o que o Brasil não viveu os grandes acontecimentos mundiais, não viveu as grandes guerras, não teve como temperar o caráter. Diante do diagnóstico passa, com a ajuda de um estudante – seu discípulo e filho de Marino Esteves (amigo de Gustavo), a criar fatos e gravar vídeos com versões heróicas de acontecimentos da vida nacional. O discurso de Mário é ambíguo. Ao mesmo tempo em que sua crítica ao país tem uma forte nostalgia de modelos estrangeiros (marcadamente europeu) e, portanto é cega às virtudes da trajetória nacional, faz um elogio irônico ao país e ao povo brasileiro em sua “incrível capacidade de mentir e de ousar”, ressaltando o povo como possuidor da criatividade e do gênio necessários para reinventar sua história.
Há ainda uma outra dominante na fala de Mário. Sua crítica de São Paulo. Ele se refere à violência da cidade, mas vai além ao dizer “que maior que a violência é a vulgaridade e a cafajestice das pessoas”, e conclui afirmando que “as luzes desta cidade estão se apagando”. Estamos diante de uma crítica da trajetória nacional, mas de uma crítica situada geograficamente, emanada de São Paulo e, portanto possível de ser pensada através das particularidades da cidade.
Os dois discursos entrelaçados do prof. Mário, um sobre São Paulo e outro sobre o Brasil, tecem a teia através da qual conheceremos os amigos de Gustavo e o próprio Gustavo, de quem se sabe pouco, mas a quem se supõe preservado, pela ausência, de todas as vicissitudes que acometeram a sua geração. É Gustavo quem conduz o filme e quem nos dá a conhecer os discursos de Mário, de Ilda, de Ramón, e também os de seus amigos Marino Esteves, Renato, Aron, e Maria Cristina, polifonia através da qual ele e nós deveremos saber o que resultou de aproximadamente trinta anos de história do país e dos sonhos de sua geração.
Marino Esteves situará Gustavo no ambiente de vale tudo que dominou a intelectualidade e a comunidade artística brasileiras. Integrado, sua fala em tom de blague, contextualiza e positiviza a cultura brasileira na era dos incentivos fiscais e do neoliberalismo, apontando a oportunidade única para transformar cultura e erudição em dinheiro. Renato, jornalista e alcoólatra, paraplégico após um acidente de carro, destilará amarguras e críticas ao sistema, mas adaptado ajuda a revelar a lógica da engrenagem que alimenta a mídia e justifica sua presença nela pela necessidade de ter aí diversidade etária, étnica e de opinião. Através do voyerismo sexual insinua-se o diletantismo da atitude de Renato. Maria Cristina se tornou consultora de projetos especiais de uma grande empresa e passa seus dias a organizar e patrocinar eventos destinados a promover a empresa que representa.
Aron é o único a continuar de algum modo o que foram os ideais da geração de Gustavo. Sem perspectiva, sem forças para continuar o embate em maior escala, ele passou a desenvolver atividades assistenciais, que é o modo pelo qual pratica a resistência ao ambiente e pensamento dominantes. Único a preservar a integridade, seu discurso dialoga com o do prof. Mário ao apontar para Gustavo que “existe um Brasil secreto, subterrâneo, difícil de chegar perto, mas que ao mesmo tempo está em toda parte”. E indigna-se quando Gustavo ignora o significado da sua atitude e da sua condição, dizendo-lhe “tudo o que estou fazendo é o contrário de escrever”.
O panorama que emerge dos depoimentos dos amigos de Gustavo é de desolação, tal e qual a da cena em que Gustavo e Renato transitam em meio a moradores de rua em uma praça do centro da cidade. Uma geração que teve os seus sonhos mais caros frustrados, um país que atolou na indiferença e no arrivismo, uma cidade desfigurada pela miséria e pela violência. O projeto civilizatório de São Paulo, europeizante, descarrilou, e com ele as gerações que aqui se formaram e a possibilidade de um novo país. Não é pelo prazer da piada que Gustavo, ao fim do filme, quando perguntado por uma “socialite paulistana” se esteve no Brasil a negócios ou a prazer, responde sarcástico: “como a senhora classificaria um funeral?”
Cidade, país e geração constituem um amálgama difícil de separar, e sugerem além da crise das duas primeiras, já exposta, uma crise geracional. O foco de “O Príncipe” sobre os amigos de Gustavo privilegia seus impasses e suas visões da cidade e do país, com a realidade circundante oferecendo apenas um pano de fundo comprobatório de seus pontos de vista. Gustavo, preservado do ambiente corrosivo do país, também não deu certo. Não sabemos o que fez nos longos anos passados na Europa, mas ele próprio se define, não sem alguma ironia, como alguém que usufrui a boa rede de seguridade européia (mais uma vez a Europa), e questionado por Maria Cristina sobre o que tinha feito, apenas diz ter feito tudo errado. Uma geração que se perdeu, como constata Renato, mas por quê?
A resposta precisaria ser procurada nos longos anos da ditadura e nos projetos que ela interrompeu. Precisaria dialogar com as sucessivas ondas que alteraram a cena internacional, tornando-a árida para os projetos de maior solidariedade e igualdade, e que deram lugar a um retorno virulento do darwinismo social. Entretanto o ambiente do combate, ainda em curso, não propicia um diagnóstico tão claro. E um certo traço do pensamento que se formou em São Paulo tende a buscá-lo em uma revisão histórica, que lima da história nacional todo teor contraditório para, numa teleologia às inversas, ler o passado do país pelo seu presente.
“O Príncipe” traz em sua polifonia uma contundente crítica ao arrivismo e à inação. Quanto à desistência e ao abandono do projeto nacional, é ambíguo. O prof. Mário suicida-se, mas forjou Ramón, seu jovem discípulo. Ilda, na morte do prof. Mário, recupera a sensibilidade perdida nas noites em que retratou a brutalidade de São Paulo. Gustavo retorna a Paris, mas Aron prossegue sua ação militante. Sintomas do tempo em que vivemos, de confusão sobre os destinos nacionais e sobre valores, de dificuldades de apontar os caminhos. Esse ambiente convida a uma releitura histórica. Nela, o primeiro impulso é ser categórico e repelir toda a experiência histórica como uma unidade que não deu certo. Mas aqui, onde poderia haver uma condenação por igual da elite e do povo brasileiros – uma pela ação, e outro pela inoperância – emerge melancólica a esperança numa criatividade difusa, num país que se desconhece, em um povo ainda não desperto. Seu tiro mais certeiro é disparado contra uma classe média que se entrega e se enreda no ambiente de dissolução.
Por tudo, “O Príncipe” é revelador do estado de consciência de uma parcela importante da inteligência brasileira que, nauseada, tem a sensação de viver a morte do Brasil. O que está em disputa nesses tempos de duro confronto político, incertezas e retomada do pensamento rebelde, é como ganhar corações e mentes desta inteligência, a fim de que ela não tome o mesmo destino de Gustavo: diante da morte iminente, virar as costas ao país e voltar ao seu não lugar, em alguma parte do mundo. Trata-se de entender que diante do colapso ou “do desabamento central da alma”, o aeroporto não constituirá solução.
Manoel Rangel é cineasta, editor da Revista de Cinema SINOPSE, conselheiro nacional da Associação Brasileira dos Documentaristas e dirigiu os filmes “Vontade” e “Retratos”. Foi presidente da Ubes (1988-1990), coordenador geral da UJS (1992-1993) e é membro do Comitê Estadual do PCdoB/SP
EDIÇÃO 66, AGO/SET/OUT, 2002, PÁGINAS 77, 78, 79