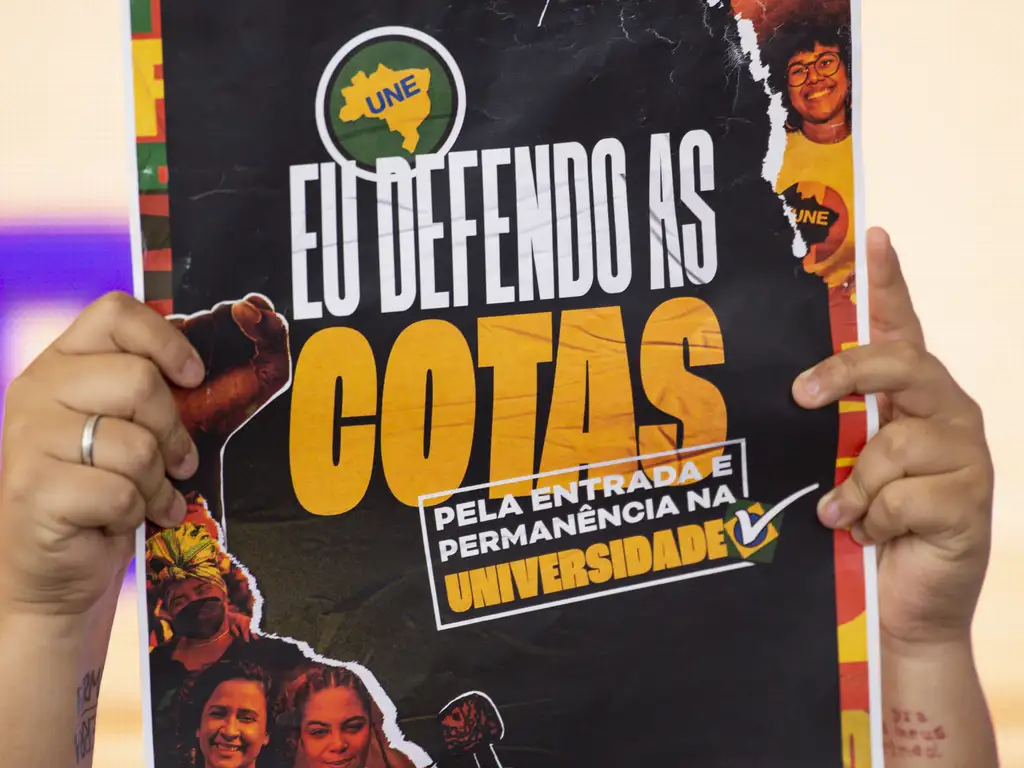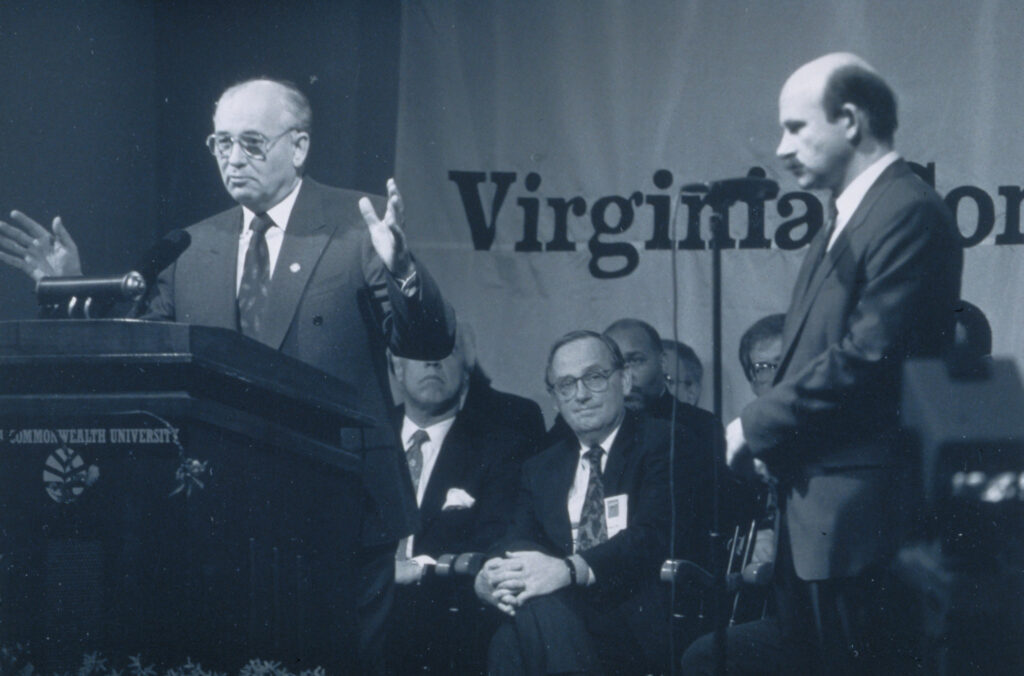Hoje, tomo a liberdade de, neste meu espaço, apresentar aos leitores um comentário no lugar de uma ficção. Não, não. Fiquem tranqüilos: não será sobre o quadro eleitoral, nem sobre a nova guerra contra o Iraque. Venho falar de literatura. De literatura publicada neste portal.
Tenho um panteão de prosadores na minha cabeça. Pela ordem de aparecimento em minha vida, são eles Machado de Assis, Graciliano Ramos, Mário de Andrade, Guimarães Rosa, Clarice Lispector e José Saramago.
Refletindo sobre como pode assim um templo conter uma só deusa entre tantos homens, conclui que a opressão de gênero também não foi nada justa com as escritoras. Contudo, refletindo mais, conclui que essa explicação não bastava e, tampouco, me redimia. Afinal, não são poucas as mulheres escritoras neste mundo.
Um dia, desisti de me explicar. Despi-me de veleidades acadêmicas e assumi, como todo leitor honesto, que prediletos são aqueles escritores que marcam nossa vida; aqueles que nos comovem e nos transformam – e comover aqui nada tem a ver com pieguice de lágrimas e devaneios tolos: relaciona-se com nos mover, tirar da inércia em que os hábitos automatizados nos mergulham.
Isso, obviamente, não quer dizer que não povoem minha cabeça nomes como Rubem Braga, J.J. Veiga, Mia Couto, Dostoiévsky, Kafka, Cervantes, Pagu e uma cacetada de autores? Evidente que não. Mas, meu panteão são para os que saboreio, invejo, cultuo.
Pois bem. Descobri há anos uma autora. Curiosamente, uma autora que não escrevia a não ser cartas – poucas – que me encantavam. Não, ainda não eram literatura. Mas já mostravam, nas frinchas, a luz verde aprisionada. Seu nome já era naqueles anos, e continua a sê-lo, Renata Bruno, colaboradora do Tecendo a Manhã, que escreve neste Vermelho todas as terças (antes era às sextas, depois passou para segunda e, agora, esperamos permaneça às terças).
Muito que bem. Renata ressurge da ausência, atravessa o oceano, escreve para o mundo sobre uma pedra mágica e estarrece a audiência. Faz um recreio com um brazuca, e volta a estarrecer com um cão amarelo. A partir daí, engata uma série de textos estarrecedoramente bem construídos, de alta carga reflexiva, que nos estarrecem a cada leitura.
E por que ela nos surpreende? Por que nos estarrece?
Estarrece, porque domina todos os ritos do sacerdócio. Faz conter o espaço no tempo narrativo e, assim, nos puxa pra dentro do que enuncia. Mantém-nos colados, cativos da efabulação e, ao fim, nos surpreende: a narrativa encerra e ficamos a espera. Não de um fim, mas de nós, lançados lá; espantados com a flor ou com o cão que não era cão. Nossa alma, subtraída de si, aos poucos retorna à consciência – mas não por si simplesmente, mas pela mão da autora: ela nos devolve a alma já outra, embora a mesma. A pobre se dá conta, afinal, do caminho e regressa ruminando, de cenho franzido, de vez em quando olhando para trás. Na seqüência, abre a porta, entra e se reconhece na sala, diante da família e dos amigos. E, ainda de cenho franzido, começa por falar "sabe o que me aconteceu?".
A tal da escritora parece ignorar o poder que tem sua literatura. Pois eu digo que tem muito. O leitor, tragado para o nível do enunciado, sai dele refletindo. A escritora, com uma economia espantosa de recursos, faz, portanto, com que a arte cumpra seu papel: divertir e transformar homens. E o faz através de uma dialética curiosa: prazer e incômodo associados.
O prazer está na leitura: é como se um adolescente, a cada página da revista, visse uma pose mais ousada, uma cara, um mamilo. O incômodo está no que vai depositado no fundo e emerge ao fim: acabada a revista, fica o desejo – a carne não foi saciada. Faltou apalpar. Mas o quê, meu Deus! Eu sei, mas não sei explicar. Explico, mas não há discurso suficiente; não há palavra que baste; não encontro sintaxe que dê conta. Uma verdade foi dita, e ela me incomoda. E dá prazer que me incomode. É um prazer que me incomoda, mas que eu quero sentir. Quase um vício; uma perversão.
Poderia falar de mais uma ruma de coisas. De como, por exemplo, a autora conta suas histórias assim, como quem fala da varanda para sala e conta um caso, enquanto cerze meias ou tece um manto, parando, vez ou outra, em abandono narrativo. Poderia falar das aberturas fascinantes, em que enleia o desavisado leitor que passa distraído os olhos pela primeira linha.
Poderia falar muito, enfim. Mas falarei apenas de seu nome – o da escritora que descobri há anos -: Renata Bruno. Se ele não diz tudo, parece predestinado: Renata Bruno significa "renascida da bruma". É assim que acontece conosco seus leitores: renascemos das brumas quando lemos Renata Bruno.
Por tudo isso, tenho uma nova prosadora em meu panteão. E assim encontro-me, ao menos em maior parte agora, redimido.