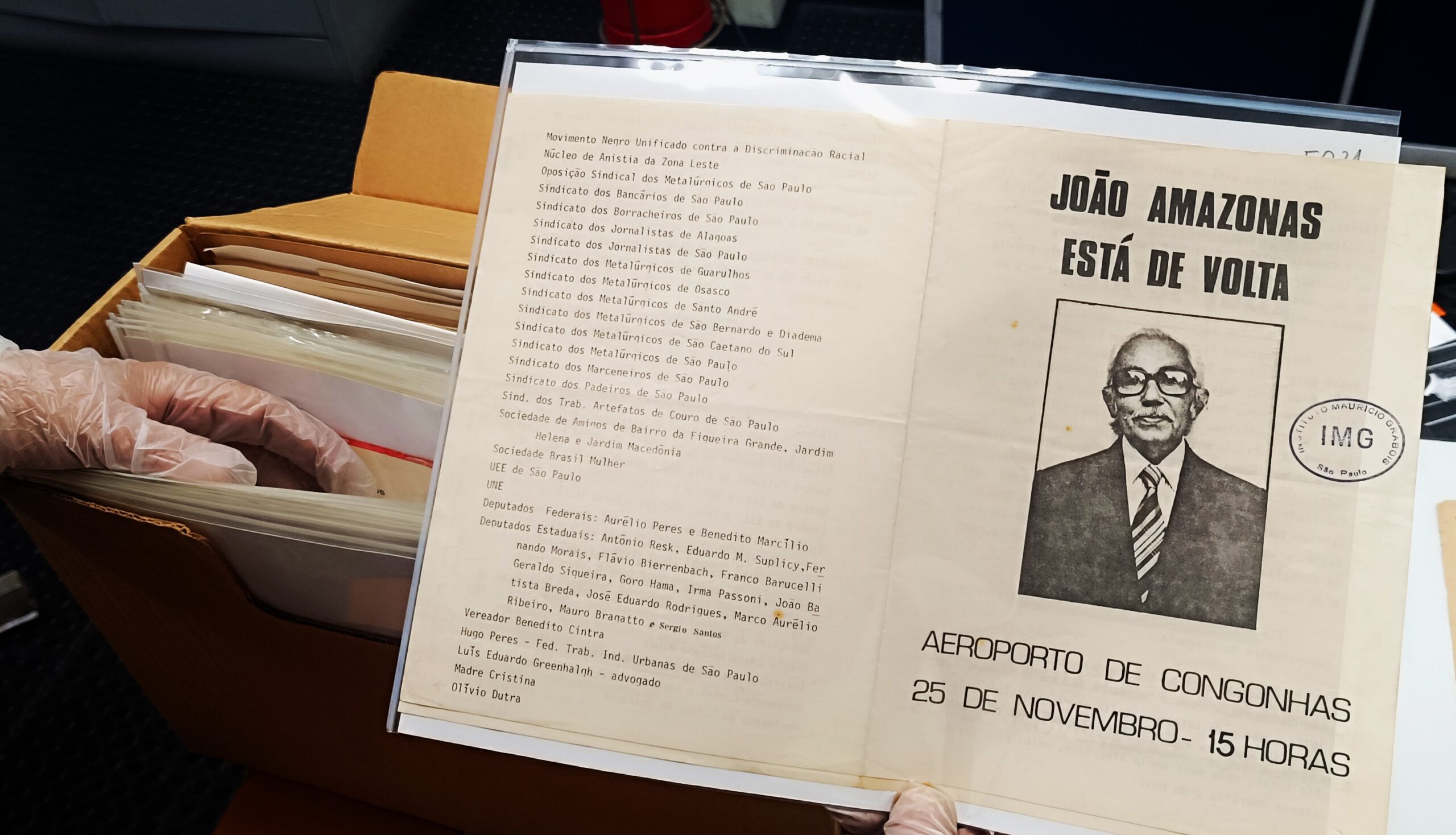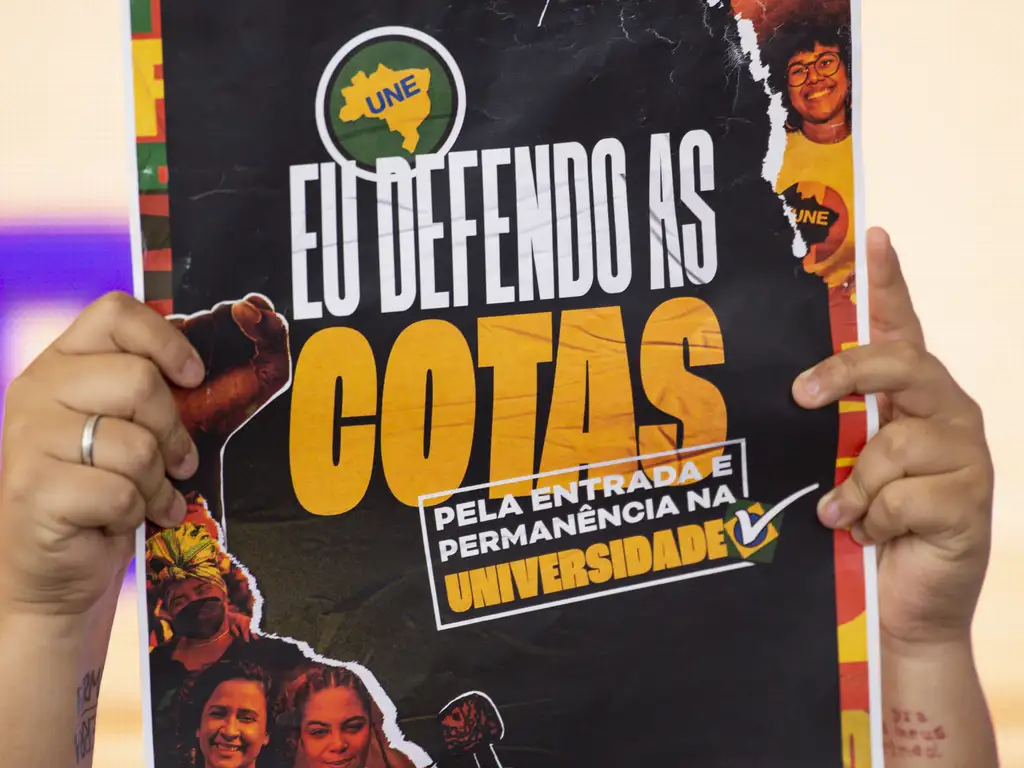Quando o sol chegou no horizonte e viu na lâmina d'água aquele barquinho, pensou numa pipoca boiando numa bacia – para logo depois espantar o absurdo e render-se à contemplação dos azuis.
Ficou todo cheio de si, porque se azuis eram o mar e o céu, muito lhe deviam eles. Afinal, o que é esse mundo sem luz; sem sua luz? Breu, é o que eu digo. Trevas imensas, infindáveis, eis o que seria. Pois não era ele a criação primeira dos sete dias? E, se dias existem, não é em função de seu adormecer e despertar alternados?
Sim, sim. Era justo que o chamassem lá em baixo de astro-rei. Não imperava soberano sobre todas as coisas, mesmo em ausência? Não era evidente que a escuridão só escuridão é em razão de sua – dele, sol – nenhuma presença?
A essa altura, ele ia a pino. O barquinho transformara-se em pontinho branco no azul profundo. Já era hora, pois, de fabricar nuvens. Aumentou a pressão dos altos fornos. O mar (e os rios que oceano o faziam), em espirais subiam até o sol. Chumaços de algodão adensavam-se aqui e ali, e logo formaram uma manta encardida cobrindo as águas.
O barquinho sumira. Nem mar, nem céu se viam.
O sol passou então a abrir buracos no tapete, desenhando faixas iluminadas no espaço. Brincou disso até cansar e, só então, resolveu descer a ladeira. Vinha amarelo, envilecido. Deu de novo com o barquinho. Riu-se da pequena precariedade.
No entanto, o barquinho existe. E segue.