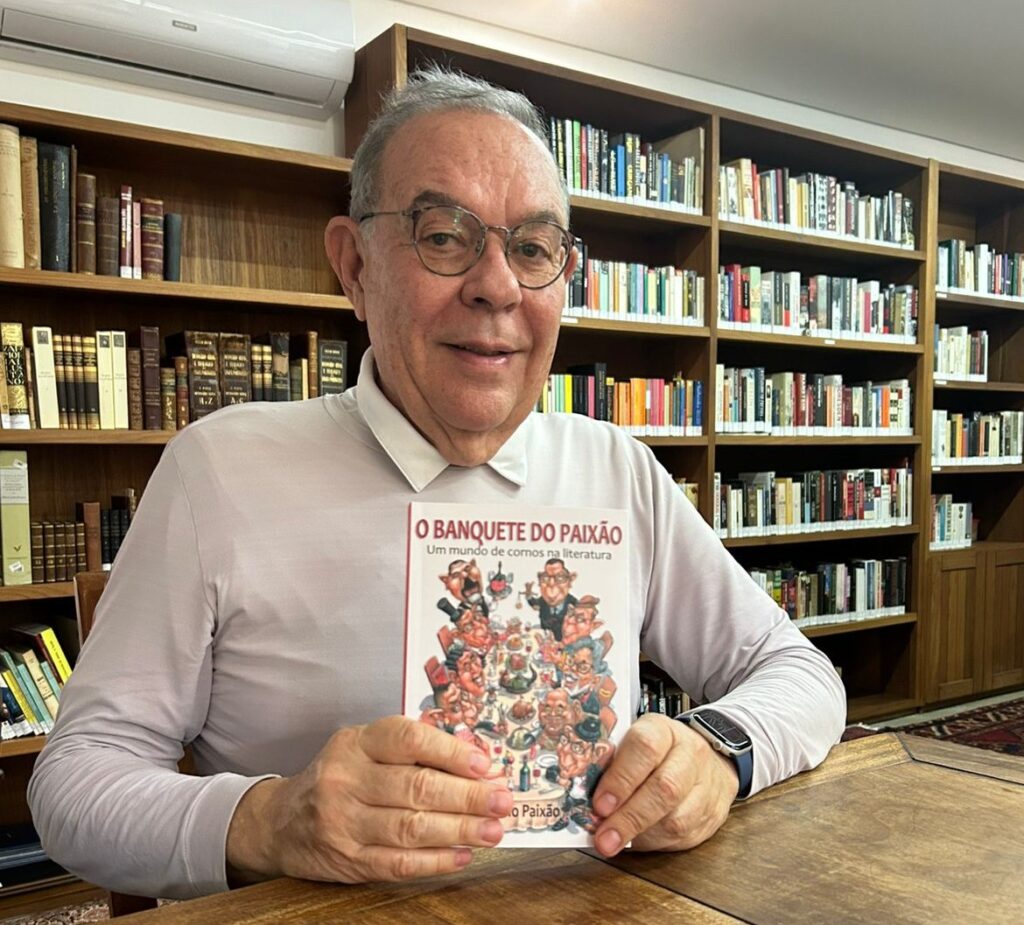O mundo vem assistindo a uma movimentação assombrosa. O governo de Bush leva a sua beligerância ao paroxismo. Quer porque quer fazer a guerra ao Iraque, supostamente para liquidar as armas de destruição em massa que esse país teria, o que é sumamente paradoxal, vez que os Estados Unidos são, de longe, o maior depositário das armas mais destruidoras e terríveis que existem no mundo.
Os Estados Unidos foram também o primeiro e único país do planeta a usar duas dessas armas contra populações civis indefesas, assassinando cerca de 200 mil pessoas no Japão. Portanto, não têm qualquer autoridade moral para falar em controle de armas estratégicas no mundo. Ademais, querem levar a guerra ao Iraque depois de terem destruído o Afeganistão, e depois de terem lançado, da Segunda Guerra Mundial para cá, “mais de 250 ataques militares contra outros países… em uma lista incompleta.”, conforme denúncia de Gore Vidal em seu best-seller “Guerra perpétua para a paz perpétua – como nos tornamos tão odiados”, o que mostra que os EUA são o Império agressivo da atualidade, para quem, fazer guerra é fazer negócio.
Contudo, a despeito das ameaças que fazem a todo o mundo, a “águia norte-americana” não consegue levantar vôo. Sua economia tende à estagnação. O fim da “Guerra Fria” significou um desastre para a indústria bélica dos EUA. Seus gastos militares, que durante anos foram superiores à soma dos gastos similares de todo o mundo ocidental, tiveram que ser reduzidos. O parque fabril bélico foi sendo esvaziado, seus lucros caindo. Sua influência no Estado norte-americano foi ficando ameaçada.
A mais recente crise econômica norte-americana se instalou no fim dos anos 90, após o prolongado crescimento ocorrido durante aquela década. O atentado de 11 de setembro, que derrubou as duas torres gêmeas de Nova York, favoreceu o surgimento de uma histeria belicista, em cujo desdobramento fez-se a guerra ao Afeganistão. Esta, entretanto, já estava sendo preparada, segundo se informa, (vide o livro do Gore Vidal) para garantir posições estratégicas junto às imensas jazidas petrolíferas do Mar Cáspio. A derrubada das torres gêmeas facilitou a criação de um pretexto palatável para a guerra que se preparava. No novo contexto, o complexo industrial-militar que estivera contido durante os dois governos de Clinton, e que renascera com George W. Bush, cuja eleição financiara, passou a ditar regras da política externa norte-americana.
Segundo comentaristas chineses, desde o fim da Guerra Fria os EUA vivem “a síndrome da falta do inimigo principal”. A crise econômica e os golpes morais sofridos com as revelações de gigantescas fraudes na contabilidade de grandes empresas suscitaram a busca de um caminho que servisse para desviar a atenção da crise e dos escândalos, ao tempo em que promovesse a retomada do crescimento. No estreito horizonte de Bush e dos que dirigem o Pentágono, o caminho escolhido foi o da guerra.
A escolha desconsidera totalmente o sacrifício que a guerra trará para populações inteiras. O importante é guerrear, dar vazão a estoques gigantescos de armamentos que, de outra forma, não poderiam ser usados, fazer imensas encomendas de novos armamentos, já que os antigos serão consumidos e serão considerados obsoletos. A máquina de guerra poria em marcha a economia do Império e este também iria ocupando posições estratégicas pelo resto do mundo. É claro que as razões apresentadas à população norte-americana e outras seriam diferentes: razões humanitárias, destruição de armas perigosas, contenção do terror, etc.
Reflexo sensível dessa orientação do Pentágono é o crescimento vertiginoso do orçamento militar dos EUA. Abstraindo as imensas verbas suplementares para o exercício de 2002, o orçamento militar de 2003 alcança 380 bilhões de dólares, mais de um bilhão de dólares por dia – tudo para a guerra. Este montante é quase igual ao PIB da Rússia, hoje próximo de 401 bilhões de dólares. Apenas dezessete nações do mundo dispõem de um PIB superior ao orçamento anual destinado à defesa dos norte-americanos. É uma quantia que ultrapassa a soma de todas as riquezas produzidas em um ano por Suíça, Bélgica, Suécia e Áustria, juntas. Sem falar nos US$ 37,7 bilhões para a chamada “segurança doméstica”, quase o dobro do respectivo gasto no presente ano fiscal.
Fração pequena dessa montanha de dinheiro poderia diminuir muito o sofrimento no mundo, salvando a África, recuperando os países atrasados, ajudando os emergentes. Mas o que é certo é que essa dinheirama será gasta em armas, como a nova geração de aviões de caça F-22, F/A-18 e o chamado “Joint Strike Fighter” (avião de ataque conjunto), estimados em 300 bilhões de dólares.
A política de guerra norte-americana vai aprofundando cada vez mais a distância entre o potencial militar dos Estados Unidos e o do restante do mundo. De acordo com Lord Robertson, Secretário-Geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), a Europa está no caminho de converter-se em um “pigmeu militar”, em comparação com o seu prodigioso aliado transatlântico. Richard Perle, presidente do Comitê de Política de Defesa do Pentágono, disse que as forças armadas européias chegarão a um “ponto de virtual irrelevância”. Matéria do The Economist, publicada em 16 de fevereiro passado, mostra que o incremento em gastos com defesa. solicitado para o ano de 2003. representa o maior aumento dos últimos vinte anos. O Le Monde (março 2002) sinaliza que: “Se esse ritmo financeiro se mantiver, como demonstram estudos do Pentágono, o orçamento dos EUA destinado à defesa será 20% superior à média prevalecente durante a Guerra Fria”.
Tamanha prioridade em gastos com armas produz reflexo automático na política diplomática desenvolvida pelos EUA, que passa a ser ostensivamente beligerante, ditada pela arrogância e pelo menosprezo às organizações internacionais e às nações soberanas. Projeta-se, também, no plano interno, onde a propaganda massiva tenta convencer uma amedrontada opinião pública sobre a imperiosidade da guerra contra o “eixo do mal” e onde o próprio Congresso norte-americano aprova leis tão absurdas quanto intoleráveis, que admitem a intervenção militar dos EUA em qualquer lugar do planeta onde o Império julgar haver ameaças contra seus cidadãos ou seu patrimônio.
A cobiça pelo petróleo do Iraque
Os EUA divulgaram um objetivo falso para fazer a guerra do Afeganistão: apanhar o Osama bin Laden. Apresentaram provas suspeitas para irem à guerra: Bin Laden seria o autor intelectual do atentado às duas torres gêmeas, fato nunca provado. E, na guerra, sacrificaram milhares de inocentes e arrebentaram um país pobre. Para melhor compreensão do problema, vale relembrar a conhecida resposta que um general norte-americano deu a um jornalista lá no Afeganistão. Perguntado se estava próxima a captura do Bin Laden o general, surpreso, disse: “Bem, não é para isso que estamos aqui”.
A guerra, e a exibição de guerra, feitas pelos EUA contra um país que não tinha um avião ou tanque serviram para assegurar às corporações petrolíferas norte-americanas o fabuloso negócio da construção, através do Afeganistão, de um oleoduto para transportar o petróleo das imensas jazidas do Mar Cáspio. O negócio do petróleo norte-americano ganhou a guerra do Afeganistão.
Depois da aventura e da destruição perpetradas supostamente atrás de Bin Laden, o alvo escolhido para os jogos de guerra de Bush voltou a ser o Iraque. Novamente, não por coincidência, para a guerra contra o Iraque convergem interesses de dois dos maiores grupos de poder norte-americanos: o bélico e o de petróleo. Os dois muito ligados a Bush, a seu vice, Cheney e a seu secretário da Defesa, Donald Rumsfeld.
s grandes empresas internacionais do petróleo estão à procura de novas jazidas que cubram o aumento da demanda previsto no mundo. O Iraque – com a segunda reserva mundial de petróleo, atrás apenas da Arábia Saudita –, é objeto de elevada cobiça. A British Petroleum (BP) que tinha sido expulsa do Iraque no início dos anos 60, a Shell e outras multinacionais do petróleo já se movimentam para o assalto, quer dizer, a ocupação. O diretor-geral da British, John Browne, disse, sobre o período pós-Saddam Hussein: “Gostaríamos de ter segurança de que estaremos em pé de igualdade e não haverá coisas arranjadas de antemão”.
As razões que levavam o governo Bush à guerra no Iraque – interesses da indústria bélica e petrolífera – teriam que ser dissimuladas, encobertas por outras tidas como mais respeitáveis. As tentativas de vincular o governo do Iraque com grupos terroristas, apesar dos esforços da CIA e da venalidade da mídia norte-americana, não surtiram efeito. Restaram as “evidências” apresentadas pelo governo Bush sobre a existência de fábricas de armas químicas e de destruição em massa em funcionamento no Iraque. Mas, mesmo aí, a comunidade internacional sentia o odor de fraude.
A diplomacia de guerra dos EUA passou então a atuar em outras frentes, procurando desmontar qualquer foco de resistência à sua política beligerante e à sua determinação de depor Saddam Hussein. Uma das primeiras vítimas dessa nova ofensiva diplomática foi a Organização para a Proibição de Armas Químicas – OPAQ, uma organização internacional independente, afiliada à Organização das Nações Unidas, criada em 1997, e sediada na Holanda, com o objetivo de implementar a Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Estocagem, Produção e Uso de Armas Químicas e sobre sua Destruição. Seu Diretor-Geral, eleito em 1997 e reeleito em 2001, era o embaixador José Maurício Bustani, respeitado diplomata brasileiro.
O embaixador Bustani empenhava-se em realizar um trabalho sério. O próprio Iraque seria atraído à OPAQ, a partir do que teria que permitir inspeção em seu território. E o Iraque estava admitindo isso. O embaixador Bustani, homem de boa fé, chegou a levantar a hipótese de se fazer inspeção em outros países, como os EUA, que estariam assim dando o exemplo… Não conseguiu terminar seu mandato. A diplomacia norte-americana mobilizou-se, articulou, comprou votos, definiu a situação como emergencial, promoveu uma eleição excepcional e colocou Bustani para fora, sem maiores resistências do governo brasileiro. Ficou patente que os EUA não queriam resolver o problema do Iraque. Queriam a guerra.
Nesse quadro de enorme inferioridade bélica, ante o risco de ser levado a uma guerra desproporcional, como queriam os EUA, o Iraque começou a movimentar-se diplomaticamente. Quando os EUA contavam com a intransigência iraquiana para não permitir a entrada dos inspetores de armas, e assim dar justificativa para a guerra desejada pelos norte-americanos, eis que a diplomacia do país árabe surpreende, permitindo a ida ao Iraque, sem condições, dos inspetores. Os EUA, sentindo o golpe, refazem os planos de guerra. Passam a exigir da ONU uma resolução que autorize, ante qualquer dificuldade que surja, o uso automático da força contra o Iraque, sem prévia audiência do Conselho de Segurança. Bush, em discurso proferido no plenário da ONU, deu verdadeiro ultimato à entidade: ou a resolução seria aprovada como queriam os EUA ou ela seria irrelevante, porque os EUA fariam o que achassem necessário à sua segurança. A ONU resistiu, seu Conselho de Segurança não concordou com a imposição, a China, a Rússia e a França manifestaram-se contrárias à autorização pretendida. A base de apoio dos EUA estreitou-se. A repercussão internacional lhe ficou adversa. O Império então cedeu. Abriu mão da cláusula que lhe dava carta branca para atacar automaticamente o Iraque, sem ouvir o Conselho de Segurança, ao menor problema que surgisse. Foi aprovada então uma resolução dura contra o Iraque, mas onde o desejo imperial de desencadear a guerra, a qualquer novo fato, sem escutar o Conselho de Segurança, foi afastado.
Apesar da derrota norte-americana, a resolução da ONU, aprovada sob pressão estadunidense, era constrangedora para com o Iraque. De tal forma que os EUA contavam com a hipótese do governo iraquiano não a aceitar, não permitindo a entrada dos inspetores. O caminho estaria aberto à guerra, como queriam os norte-americanos. Mas tal não se deu. O Iraque acatou a resolução da ONU e autorizou a propalada inspeção. Mas o vice-premiê iraquiano, Tareq Aziz, a 17 de novembro, sentenciou: “Para ser honesto, não creio que o fato de termos aceitado a resolução e de os inspetores não encontrarem nada em nosso território conseguirá evitar a guerra”. Esse foi o último ato ocorrido quando encerramos este artigo.
Nova doutrina militar dos EUA
Os ataques ao Iraque, a pretendida deposição de Saddam Hussein e toda trama ligada à deflagração de nova guerra ao Iraque expressam nova doutrina militar dos EUA, apresentada em documentos da Casa Branca e anunciada pelo próprio George W. Bush na Academia Militar de West Point, em 1º de junho de 2002. Por essa nova doutrina, os EUA podem impor aos povos, por meios militares, a ordem mundial defendida por Washington e podem agir militarmente de forma preventiva. Segundo ele, as ameaças que os Estados Unidos devem enfrentar vêm de grupos terroristas internacionais e dos Estados que os toleram, os abrigam ou os apóiam, mas também daqueles que detêm armas de destruição em massa, estão em via de obtê-las ou se preparam para produzi-las. Como essas ameaças teriam mudado de origem e de natureza, as represálias também devem mudar completamente.
Resumindo, o presidente Bush afirmou que os Estados Unidos não devem, de modo algum, esperar que seus inimigos possam desferir contra eles, ou contra seus aliados, ataques análogos aos que sofreram no dia 11 de setembro, nem sequer admitir que possam atacar embaixadas, unidades navais ou guarnições norte-americanas.
Washington deverá impedir que tais riscos se concretizem, desencadeando “ações preventivas” (prevemptiv actions) contra seus inimigos potenciais.
Donald Rumsfeld, o secretário da Defesa de Bush, explica com mais precisão a nova doutrina: “A defesa dos Estados Unidos requer a prevenção, a autodefesa e, às vezes, a iniciativa da ação. Defender-se contra o terrorismo e outras ameaças emergentes do século XXI pode muito bem exigir que se leve a guerra para o campo do inimigo. Em certos casos, a única defesa consiste numa boa ofensiva.”
Durante a reunião ministerial da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em 6 de junho de 2002, Rumsfeld explicou: “Se os terroristas podem atacar a qualquer momento, em qualquer lugar e utilizar qualquer técnica, e dado que é impossível, fisicamente, defender tudo, o tempo todo, contra todas as técnicas, nós temos, então, absoluta necessidade de redefinir o que é defensivo. […] A única defesa possível é fazer o esforço de encontrar as redes terroristas internacionais e tratá-las como se deve, como os Estados Unidos fizeram no Afeganistão”. Ari Fleischer, porta-voz do presidente norte-americano, comportando-se dentro desse esquema disse que “o governo dos EUA daria boas-vindas a qualquer iniciativa para mudar o regime em Bagdá, seja pelo assassinato ou exílio do presidente Saddam Hussein”. Em síntese: definido um suposto inimigo, admitida a possibilidade de este inimigo desferir algum ataque aos EUA, cabe aos EUA destruírem-no. Essa é a atual política de guerra de Bush. Uma afronta.
Ante a política norte-americana de guerra cresce a oposição
As iniciativas guerreiras norte-americanas começaram a despertar protestos em diferentes setores, em diversas partes do mundo. Dentro dos EUA, mais de 400 artistas e intelectuais firmaram manifesto conclamando seus compatriotas a resistirem à guerra, e à repressão, impostas ao mundo pela administração Bush. “Elas são injustas, imorais e ilegítimas. Devemos fazer causa comum com os povos do mundo”, diz o texto do manifesto assinado por personalidades de grande renome nos EUA como Noam Chomsky, Susan Sarandom, Jane Fonda, Marisa Tomei, Oliver Stone, Robert Altman e Gore Vidal e outros.
O arcebispo de Boston, D. Bernard Law, em carta enviada ao presidente George W. Bush e publicada nos principais jornais norte-americanos, critica severamente a propaganda de guerra do governo Bush e denuncia: “(…) Somos alvo dos terroristas porque, na maior parte do mundo, o nosso governo defendeu a ditadura, a escravidão e a exploração humana. Somos alvo dos terroristas porque somos odiados. E somos odiados porque o nosso governo fez coisas odiosas”. Em sua carta, o bispo católico faz um apelo em defesa da paz e aconselha os governantes dos EUA a: “(…) Em vez de enviar os nossos filhos e filhas ao redor do mundo para matar árabes, para que possamos ter o petróleo que existe sob as suas areias, deveríamos mandá-los para reconstruir as suas infra-estruturas, fornecer água limpa e alimentar crianças famintas”.
A França e a Alemanha, aliadas dos EUA na OTAN, têm manifestado firme oposição à guerra contra o Iraque, insistindo na solução pacífica da crise por intermédio da ONU. O chanceler francês, Dominique de Villepin, se pronunciou claramente sobre a questão e Gerhard Schroeder, em pleno processo eleitoral na Alemanha, afirmou: “O país, sob o meu governo, não participará de uma guerra contra o Iraque”. O Canadá fez o mesmo.
China, Índia e Rússia mantiveram-se aliadas no Conselho de Segurança da ONU contra o belicismo norte-americano. O chanceler chinês Tang Jiaxuan recebeu, em Pequim, seu colega iraquiano, Naji Sabri, reiterando a necessidade da “solução pacífica” para a questão iraquiana e pedindo respeito “à soberania, independência e integridade territorial do Iraque”. Recomendou também ao Iraque, com o objetivo de diminuir a tensão, que autorizasse a entrada dos inspetores da ONU naquele país.
Até mesmo a Arábia Saudita, principal aliada dos EUA no Oriente Médio, anunciou no dia 03 de novembro de 2002, que não irá disponibilizar aos EUA o uso de seu território e instalações para uma eventual ofensiva militar contra o Iraque. E acrescentou: “mesmo que os ataques tenham o aval da ONU”.
Na Turquia, onde são cada vez maiores as manifestações contrárias à aliança com os EUA, a coalizão governamental pró-EUA sofreu acachapante derrota nas últimas eleições e não conseguiu eleger um único parlamentar, fato que prenuncia mais dificuldades internacionais para a política de guerra do governo Bush, pois o grande vencedor das eleições foi o partido islamita Justiça e Desenvolvimento.
O apoio dos britânicos a um ataque militar contra o Iraque está diminuindo, apesar da apresentação de um dossiê de acusações contra Saddam Hussein, elaborado pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair. Pesquisa divulgada pelo jornal The Guardian revela que 46% dos ingleses recusam-se a apoiar uma ofensiva contra o Iraque e apenas 33% concordam com o alinhamento automático de Blair.
Direita ganha nos EUA, esquerda ganha no Brasil
É claro que não se pode fazer um paralelo entre o significado que tem para o mundo a política externa norte-americana e a brasileira. Os EUA são hoje a superpotência agressiva do mundo e detêm a hegemonia militar absoluta. O Brasil é um país emergente, de desenvolvimento médio, vorazmente saqueado pelo capital financeiro. Mas, enquanto os EUA – que têm um enorme poder e se impõem ao mundo pela força –, despertam rancor em todos os continentes (ver o livro “Como nos tornamos tão odiados”, de Gore Vidal), o Brasil, que não tem enorme poder e não se impõe pela força, termina sendo um grande país, com um amplo potencial de relações internacionais amistosas. As eleições recentemente realizadas nesses dois países apontaram tendências do eleitorado inteiramente opostas.
os EUA, fruto de uma conjunção de fatores, inclusive de uma gigantesca propaganda deformada sobre os perigos iminentes que ameaçariam o povo norte-americano, o Partido Republicano de Bush, a direita norte-americana, ganhou as últimas eleições. Embora Bush não necessitasse de maioria parlamentar para tocar seus planos de guerra, vez que a Câmara e o Senado já haviam lhe dado carta branca para agir contra o Iraque, a vitória dos republicanos significou um golpe para os que esperavam algum tipo de reprovação dos norte-americanos aos planos belicistas de seu presidente. Os republicanos ganharam o controle do Senado, mantiveram maioria na Câmara e saborearam ganhos em duas disputas acirradas por governos estaduais, uma delas na Flórida, envolvendo um irmão do presidente.
Para o mundo árabe e para as nações e os povos que se opõem à guerra, o saldo das eleições norte-americanas não poderia ser mais desastroso, pois implica em mais poderes para um homem despreparado para exercê-lo, obcecado pela guerra, tutelado pelos falcões do Pentágono, manipulado pelo imenso poderio da indústria bélica e das corporações de petróleo norte-americanas, e insuflado pela conservadora comunidade israelense dos EUA.
No Brasil, outro foi o resultado e significado de suas eleições. Aqui ganhou uma coligação de centro-esquerda, onde está presente a esquerda mais representativa do país, inclusive os comunistas. Lula, o presidente eleito, esteve à frente de uma grande onda que varreu todo o país levantando a bandeira da mudança. A mudança básica que levou o povo às urnas é a mudança da política econômica que vem sendo aplicada no país, antinacional e antipopular, de talhe neoliberal. Mas não é só.
O Brasil tem uma escola de política externa conhecida e prestigiada internacionalmente. O Barão do Rio Branco foi seu fundador e é seu inspirador. Sua saga foi resolver grandes pendências através da negociação, sem o apelo às armas. E foram assim selados acordos fronteiriços com numerosos vizinhos. Mas, sobretudo depois da II Guerra Mundial, predominou, ainda que com momentos de independência, uma política de subserviência para com os EUA.
Lula sinalizou, em reunião na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, ser necessário ao Brasil ter, por um lado, uma política externa verdadeiramente independente e, por outro, mais dinâmica. Considerou que o Brasil tinha condições de se destacar mais no concerto das nações pela postura mais negociadora e mais atuante. Sem pretender dar vôos acima de suas possibilidades não deveria ter uma visão acanhada de suas potencialidades.
A linha mestra da política externa a ser formulada e desenvolvida pelo governo Lula seguramente será a defesa da paz, da não agressão, do respeito à soberania e integridade territorial das nações, da não ingerência em assuntos internos de outros povos e das relações mutuamente proveitosas entre todos. O governo democrático de Lula tratará, de forma firme e equilibrada, os problemas candentes presentes na cena internacional. Saberá contribuir para que seja afastada do cenário mundial a ameaça de agressão dos Estados Unidos ao Iraque.
Haroldo Lima é deputado federal pelo PCdoB/BA, vice-presidente nacional do PCdoB e líder da bancada comunista na Câmara dos Deputados.
EDIÇÃO 67, NOV/DEZ/JAN, 2002-2003, PÁGINAS 40, 41, 42, 43, 44