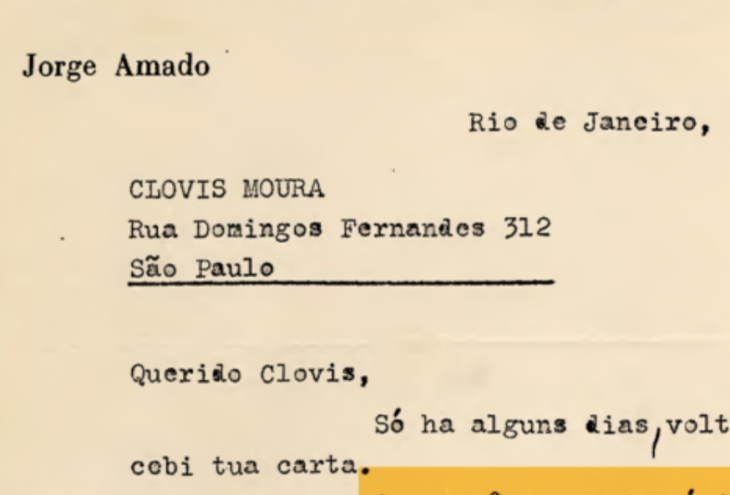Dentre os diversos aspectos a analisar em um balanço preliminar do novo governo do presidente Lula chama atenção a área das relações exteriores. Quais os pontos em que a política externa atual é diferente da anterior? Que elementos podemos destacar na nova inserção do Brasil no mundo?
Luis Fernandes – Primeiramente, há que se diferenciar duas questões para fins desta análise: a política externa como política de Estado, que reflete interesses mais permanentes e consolidados do Estado brasileiro; e a política externa como política de governo, que reflete as prioridades, o estilo, as ênfases e o tom definidos pelas forças que ocupam, em diferentes períodos, o comando do poder executivo nacional.
A nossa política de Estado é determinada pela condição do Brasil como potência média, de dimensões continentais, situada no coração da América do Sul. Ao se confrontar, a partir desta condição, com as brutais assimetrias que caracterizam o sistema internacional, o Brasil sempre se orientou pelo objetivo de preservar e ampliar a sua margem de ação autônoma no mundo. Em relação a isso há uma clara linha de continuidade na política externa brasileira, materializada na consolidação de um dos corpos diplomáticos mais profissionais e bem preparados do mundo no Itamaraty (o Ministério das Relações Exteriores). Junto com as Forças Armadas, trata-se, sem dúvida, de uma das instituições permanentes mais consolidadas do Estado nacional. O Itamaraty sempre procurou firmar a independência da nossa política externa, coerente com o interesse da preservação da nossa margem de manobra no mundo.
Os princípios dessa política de Estado estão inscritos na própria Constituição: defesa da independência nacional, dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos, da não-intervenção, da igualdade entre os Estados, da paz, da solução pacífica de conflitos e da cooperação internacional, além do repúdio ao terrorismo e ao racismo. Embora a forma de implementação desses princípios possa variar de governo para governo, eles se constituem na espinha dorsal da nossa agenda externa porque projetam uma visão de mundo que delimita a própria ação governamental. Assim, apesar do governo Fernando Henrique Cardoso ter sido responsável pela consolidação de um modelo econômico interno calcado no binômio liberalização-desnacionalização, sua política externa se manteve reticente em relação à criação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) nos moldes propostos pelos Estados Unidos, por entender que isso tolheria nossa capacidade de ação autônoma e enfraqueceria nossa liderança regional. Por isso mesmo, tratou de defender o Mercosul como marco alternativo de integração regional.
No que concerne à ação externa como política de governo, no entanto, duas diferenças básicas distinguem a atuação do governo Lula em relação ao anterior. A primeira é a opção por situar a defesa da nossa autonomia e liderança regional no leito dos processos de multipolarização em curso no mundo. Diante da opção unilateralista e intervencionista da agenda externa dos Estados Unidos, a consolidação de variados pólos de poder capazes de contrabalançar o poderio norte-americano no mundo passou a ser vista como a alternativa capaz de resgatar e viabilizar o próprio multilateralismo como princípio ordenador da ordem internacional. Esta abordagem é bem diferente da que predominou durante a maior parte do governo Fernando Henrique Cardoso, orientada para a busca da “autonomia pela integração”, isto é, pela compreensão de que o caminho para ampliar as margens de autonomia do Brasil em um “mundo globalizado” seria o da maior aproximação aos pólos centrais de poder no sistema internacional.
Nos anos ‘90, isto implicou o recuo do Brasil em relação a uma série de contenciosos que o opunham aos Estados Unidos em variados fóruns multilaterais. Hoje, o governo Lula vincula a defesa da autonomia e liderança brasileira no mundo a variados movimentos tendentes a, simultaneamente, desconcentrar e regular o poder no sistema internacional. É nesta perspectiva que se insere o protagonismo brasileiro na formação do G-3 (grupo que congrega o Brasil, a África do Sul e a Índia para posicionamento conjunto nos fóruns internacionais); na criação do G-22 (unindo os principais países em desenvolvimento, incluindo a China e a Indonésia, para se contrapor à intransigência dos países centrais nas negociações da OMC em Cancun); na intensificação da cooperação econômica e tecnológica com a China, a Rússia e a Ucrânia; nas visitas presidenciais à África e ao Oriente Médio; no corajoso alinhamento com a Alemanha, França e Rússia contra a ação norte-americana na Guerra no Iraque, entre outras iniciativas. Trata-se, sem dúvida, de mudança muito significativa.
Uma segunda mudança muito importante na política externa do atual governo é a sua disposição, no âmbito dos variados processos de multipolarização em curso no mundo, a arcar com os custos do exercício da sua própria liderança na América do Sul. No Mercosul, isto se traduz na disposição de ampliar o grau de integração deste bloco para além de uma simples união aduaneira, buscando uma integração mais ampla e efetiva que abarque a convergência de políticas macroeconômicas, a padronização e integração dos mecanismos de proteção social, a unificação monetária, a formação de instituições parlamentares comuns e até mesmo de um sistema próprio de defesa. Esta opção por ampla consolidação institucional do Mercosul contrasta com a postura do governo anterior, que sempre resistiu a uma institucionalização que fosse além do formato de simples união aduaneira por entender que esse formato “menos amarrado” permitiria ao Brasil explorar, em benefício próprio, as assimetrias existentes no interior do bloco. Esta nova disposição em arcar com os custos da liderança no âmbito do Mercosul se materializou, muito concretamente, na extensão de uma linha especial de crédito do BNDES para fomentar o comércio bilateral entre o Brasil e a Argentina no valor de 1 bilhão de dólares.
É muito expressiva, igualmente, a projeção dessa mesma política para a América do Sul, com a disposição do governo brasileiro em arcar com o financiamento da integração física da região. A integração do Mercosul, assim, passa a ser concebida como o embrião de um processo de integração mais amplo, de todo o subcontinente. É nesse rumo que se situam iniciativas como a abertura de linha de financiamento do BNDES para o comércio bilateral com a Venezuela, a ampliação da participação acionária desse mesmo banco na Corporación Andina de Fomento (CAF), e a disposição do Itamaraty em assegurar significativa abertura do mercado brasileiro para importações dos países vizinhos nos acordos comerciais bilaterais em negociação (já que o Brasil mantém superávit na sua balança comercial com todos eles). Essas iniciativas expressam uma nova lógica de exercício da liderança regional. Trata-se de uma segunda mudança muito significativa na nossa política externa.
A compreensão fundamental que embasa esta mudança é o reconhecimento de que é a afirmação da autonomia e do interesse nacional, nas condições de hoje, exige do Brasil o sacrifício de algumas dimensões da sua soberania a favor de um processo de integração regional mais simétrico, que reforça o seu papel de liderança no sistema internacional.Ou seja, o Brasil preserva e afirma mais plenamente a sua autonomia ao promover o aprofundamento e a institucionalização da integração sul-americana. Ao arcar com os custos desta integração, o Brasil também colhe, evidentemente, ganhos econômicos e políticos. A integração física da América do Sul via investimentos em infra-estrutura beneficia a todos, inclusive as empresas brasileiras, que vão ter acesso facilitado aos mercados dos países vizinhos. Elas vão poder, também, integrar mais efetivamente a produção dos países vizinhos às suas próprias cadeias produtivas, tornando-se mais competitivas. Essa integração é promovida sem qualquer pretensão anexionista como a que marcou o “destino manifesto” da expansão das fronteiras dos Estados Unidos para a costa do Pacífico no Século 19. Sob a batuta do Barão do Rio Branco, o Brasil resolveu, por via diplomática, todos os seus problemas de fronteira já no início do período republicano. Hoje o desafio é integrar os países que acordaram pacificamente esses marcos de separação, em uma estrutura multilateral regional aberta e não-discriminatória. Essa opção se opõe ao projeto de unificação hemisférica propugnado pelos Estados Unidos, marcado por fortes assimetrias e pelo formato de um multilateralismo seletivo e discriminatório.
O Itamaraty tem sido porta-voz de uma postura soberana, sendo por isso recentemente atacado na mídia. Que forças e interesses tais ataques representam?
Luis Fernandes – No geral, evidentemente, representam interesses associados à agenda dos Estados Unidos na América Latina e no Brasil – uma tentativa de explorar articulações cultivadas no período de maior proximidade anterior e desestabilizar a nova orientação do governo brasileiro. Tal postura se expressa, sobretudo, no posicionamento de alguns setores da mídia, extremamente críticos das inovações introduzidas na nossa política externa, que partiram para um ataque de baixo nível tentando isolar e ridicularizar os seus principais executores. Há, também, alguns setores empresariais que insistem em apostar na abertura do mercado norte-americano como estratégia de expansão comercial, e temem que as mudanças implementadas na nossa agenda externa possam prejudicar ou até mesmo inviabilizar esse objetivo. As críticas e apreensões desses setores, no entanto, têm sido diluídas pela própria escalada protecionista implementada pelo governo de George W. Bush. Sua proposição de maiores concessões na posição negocial brasileira, sobretudo na Alca, esbarra na ausência de concessões equivalentes por parte dos Estados Unidos para atender os interesses desses exportadores brasileiros (concentrados, sobretudo, no setor de agronegócios, onde a Casa Branca mais resiste a fazer concessões). Assim os setores do empresariado brasileiro mais inclinados a buscar uma integração hemisférica sob liderança americana se vêem frustrados pela própria agenda protecionista e unilateralista que emana de Washington.
Apesar desses ataques, eu diria que se formou uma grande convergência nacional em torno da política externa que vem sendo implementada pelo governo Lula. Os ataques recentes parecem ter sido derrotados politicamente, pelo menos até aqui, justamente em função da precariedade da sua base social interna. Foram ataques motivados e instrumentalizados, sobretudo, por interesses externos. É verdade que também surgiram críticas à nova agenda externa de dentro do próprio governo após a rodada de negociações da Alca em Port of Spain (Trinidad e Tobago), movida por interesses empresariais diretamente representados no poder executivo e portadores de uma agenda particular focada na abertura do mercado norte-americano (e, portanto, mais reticentes em relação à política que concebe a multipolarização como o leito mais favorável para a nossa autonomia). A pronta resposta dada pelo presidente Lula isolou essas posições internamente no governo e reafirmou a orientação que vem sendo dada à política externa. A questão formal levantada nas críticas era a de que a posição negocial do Brasil não havia sido discutida, anteriormente, na Câmara de Comércio Exterior integrada por outros ministérios. A resposta do presidente Lula foi a de reafirmar a política e sinalizar que seria importante ter havido um compartilhamento anterior das posições que foram levadas à negociação e que foram acertadas com o presidente da República. Por trás dessa crítica procedimental, como mencionei antes, estão interesses que vinculam suas estratégias comerciais à abertura do mercado norte-americano. Se os EUA estivessem dispostos a fazer maiores concessões, a solidez dessa crítica interna no governo teria sido muito maior do que foi, mas, de fato, ela esbarrou no muro da intransigência da posição norte-americana.
O presidente Lula tem feito esforços para reconstruir o Mercosul e criar bases para a integração da América do Sul. Há perspectiva dessa integração ocorrer de fato?
Luis Fernandes – As perspectivas nunca foram tão favoráveis para essa integração. Do ponto de vista político, a América do Sul foi palco, ao longo dos últimos anos, de um conjunto de desenvolvimentos que fortaleceram enormemente a liderança brasileira na região. Basta lembrar o papel que a política externa brasileira desempenhou, via criação do “Grupo de Países Amigos da Venezuela”, na desarticulação do processo golpista em curso para depor o presidente Hugo Chávez no início de 2003. Isso consolidou uma forte aliança entre os dois países. Soma-se a isso o resultado das últimas eleições presidenciais no Equador, que levou ao governo um presidente crítico da agenda neoliberal e defensor de maior aproximação com o Brasil. Há que se registrar, também, o levante popular que culminou na deposição do presidente Sanchez de Losada na Bolívia, dirigente claramente identificado com os interesses e posições dos Estados Unidos na região andina. Já na Colômbia, as derrotas sofridas pelo presidente Álvaro Uribe no plebiscito nacional que examinou suas propostas de reforma política e econômica (incluindo a possibilidade da sua própria reeleição) e na inédita eleição de um prefeito de esquerda em Bogotá, mostram um claro enfraquecimento político daquele que é considerado o principal aliado dos EUA na América do Sul em função de seu alinhamento com a política norte-americana de militarização do combate ao narcotráfico e de derrota militar do “narcoterrorismo”.
O desenvolvimento político mais importante de todos foi, sem dúvida, o desenlace da crise Argentina e a eleição de Nestor Kirchner para presidente, com base em uma plataforma explícita de aprofundamento da integração com o Brasil. A aproximação política dos dois governos foi materializada no documento chamado de “Consenso de Buenos Aires”, lançado pelos dois presidentes por ocasião da visita oficial de Lula à Argentina em outubro. Do ponto de vista estratégico, esta aproximação entre Brasil e Argentina é a evolução mais importante de todas. Há várias décadas a política norte-americana para a América do Sul tratou de cultivar e explorar as diferenças entre o Brasil e a Argentina na região. Para sinalizar o quão exitosa foi esta política “de dividir para reinar” no passado, basta lembrar a apaixonada defesa da “relação carnal” da Argentina com os Estados Unidos que o ex-presidente Menem transformou em eixo orientador da sua política externa. O alto grau de identidade, proximidade e convergência entre os atuais governos da Argentina e do Brasil, portanto, é um fator absolutamente estratégico para a viabilização e consolidação da integração sul-americana. Vale ressaltar, ainda, que a Argentina passou a reconhecer e valorizar a liderança brasileira nesse processo, contrariando posições tradicionalmente assumidas por sua diplomacia.
Em suma, as condições políticas nunca foram tão favoráveis para a viabilização de uma integração sul-americana por meio do papel ativo da liderança brasileira. O grande problema se situa, hoje, no terreno da política de desenvolvimento a ser implementada pelos países da região. No caso do Brasil, acumulam-se tensões e antagonismos entre os fundamentos estratégicos da nova política externa e a manutenção de uma política macroeconômica conservadora que trava a capacidade de investimento público do Brasil e, ao fazê-lo, inviabiliza não só aquilo que seria a coluna vertebral da estruturação de um modelo de desenvolvimento alternativo no nosso país, como impede que o Brasil possa efetivamente arcar com os custos de liderança necessários para bancar a integração regional.
O interessante é que, diante das restrições impostas pela política de estabilização, a política externa se tornou um campo importante de legitimação das credenciais “mudancistas” do Governo Lula, sem implicar, de início, grandes custos para o orçamento nacional. A nova política externa pôde ser implementada, assim, sem entrar em contradição aberta com a orientação conservadora da política macroeconômica. Quando as “faturas” do exercício da sua liderança começaram a ser apresentadas, no entanto, o antagonismo que se mantinha encoberto veio à tona.
Podemos citar aqui algumas expressões bem concretas desse antagonismo. A concretização das linhas de financiamento oferecidas para Argentina e Venezuela esbarra em resistências do Banco Central e do Ministério da Fazenda em função dos problemas de crédito que esses países enfrentam no sistema financeiro mundial. Alguns dos projetos de integração física já acertados com nossos vizinhos também não conseguem sair do papel em função do bloqueio da capitalização do BNDES pela Fazenda. Já nos acordos comerciais que estão sendo negociados bilateralmente pelo Brasil com os países da América do Sul, a disposição para fazer concessões mais efetivas de abertura do mercado brasileiro para importação desses países é recebida com reservas por setores importantes da equipe econômica. Ou seja, abre-se um fosso cada vez maior entre a orientação estratégica que embasa a política externa do governo e a política macroeconômica restritiva dos fundamentos dessa orientação, que é adotada pelo mesmo governo.
Outro exemplo envolve uma dimensão estratégica para a integração da América do Sul: a redução da dependência do dólar no comércio regional. Há mecanismos comprovadamente eficazes para reduzir essa dependência, nomeadamente os Convênios de Compensação Recíproca (CCR), que permitiriam constituir um sistema de compensação direta entre os bancos centrais dos países da região e intensificar, assim, o comércio intra-regional sem depender da intermediação de “moedas fortes” extra-regionais. Esta alternativa, evidentemente, não é bem vista pelos Estados Unidos nem pelo sistema financeiro sediado em Wall Street, que hoje intermedeia, via mercado monetário, essas operações. Aqui, uma vez mais, a defesa da montagem de um amplo sistema regional de compensação baseado no CCR esbarra em resistências da equipe econômica, que entende que a adoção desse mecanismo perturbaria canais e práticas já consolidadas de intermediação monetária.
As tensões que acabo de mencionar refletem uma disputa mais ampla no interior do governo e na própria sociedade entre os que acham que o Brasil pode e deve avançar na transição para um novo projeto nacional de desenvolvimento que nucleie a integração da América do Sul, e os que temem que turbulências associadas a essa transição possam desestabilizar o país a ponto de torná-lo ingovernável. Na política externa, assim como em outras frentes da ação do governo, o confronto dessas duas perspectivas se aproxima do momento de definição.
A pressão dos Estados Unidos em torno da ALCA cresce à medida que as negociações vão se aproximando de prazos estabelecidos anteriormente. Em que estágio estão estas negociações e qual a tática da diplomacia brasileira?
Luis Fernandes – No momento em que realizamos esta entrevista as negociações entram em seu momento decisivo, às vésperas do encontro de Miami (EUA). Hoje as negociações estão polarizadas em torno da proposição dos Estados Unidos de uma Alca muito abrangente, que, para além da sua dimensão comercial, inclua a liberalização de uma série de áreas estratégicas em que a vantagem competitiva das empresas norte-americanas é absoluta – como investimentos, compras governamentais, propriedade intelectual, e serviços. Se os acordos de criação da Alca abarcarem essas áreas nos termos propostos pelos Estados Unidos, isso negaria por completo a autonomia das políticas macroeconômicas dos demais países integrantes. Estes ficariam proibidos, por exemplo, de adotar políticas industriais para fomentar setores estratégicos nacionais – o que, na prática, inviabilizaria a montagem de qualquer modelo de desenvolvimento alternativo na América Latina. Do ponto de vista democrático, isso implicaria a institucionalização de um modelo econômico (liberal) único e a anulação do direito do povo de determinar, pelo voto, os rumos que o seu país deve trilhar. A desfaçatez dessa proposição fica ainda mais evidente pelo fato dos negociadores norte-americanos se negarem terminantemente a incluir na agenda da Alca a abertura dos setores em que os Estados Unidos são menos competitivos, com destaque para a sua agricultura pesadamente subsidiada e protegida.
A essa posição estadunidense se contrapõe a posição do Brasil. A grande inovação do governo Lula nas negociações da Alca foi a apresentação da chamada proposta da “negociação em três trilhos”. O primeiro destes “trilhos” envolve a remissão para a Organização Mundial do Comércio (OMC) dos temas mais sensíveis para o Brasil – aqueles que têm impacto estruturante sobre a nossa política de desenvolvimento. Não por acaso, os temas em questão são precisamente aqueles que os Estados Unidos querem amarrar na Alca: investimentos, compras governamentais, propriedade intelectual e serviços. A proposta brasileira, no entanto, apanha os negociadores americanos da Alca no contrapé, já que eles mesmos insistiram em remeter para a OMC temas que são sensíveis para os seus interesses, como os subsídios agrícolas e a legislação antidumping. Como a OMC é um fórum multilateral mais amplo, em que as deliberações dependem da construção de consenso entre todos os países membros nas Conferências de Ministros, trata-se de um espaço de negociação que confere ao Brasil maior capacidade de articulação, manobra e resistência em temas estratégicos do que o espaço mais limitado e assimétrico da Alca.
O segundo “trilho” envolve a negociação bilateral direta do Mercosul com os Estados Unidos para negociar a abertura seletiva e recíproca dos seus mercados. É a chamada negociação “4 + 1”. Para cada concessão feita pelos países do Mercosul deve corresponder uma abertura equivalente do mercado norte-americano, baseada no interesse mútuo. O fato do Mercosul negociar em bloco fortalece a posição negociadora dos seus países membros. Por isso mesmo Os Estados Unidos tentaram minar a unidade do bloco com a oferta de acordos comerciais separados com o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. A diplomacia brasileira, no entanto, conseguiu frustrar esses movimentos e preservar o marco “4+1”.
O terceiro “trilho” é o das negociações da Alca propriamente dita. Aqui, a posição brasileira é a de manter as negociações focadas na abertura comercial de setores definidos positivamente pelos países membros, conforme os seus interesses. Isto implica conferir à Alca uma abrangência bem mais restrita e uma estrutura bem mais flexível do que é proposto pelos Estados Unidos. É o que a mídia brasileira convencionou chamar de “Alca light”. Na verdade, trata-se de uma alternativa de esvaziamento da agenda abrangente originalmente definida para a Alca pelo governo americano. Na esfera comercial, por exemplo, a proposta dos Estados Unidos é de que só deveriam ser definidos positivamente os setores que não seriam liberalizados. Ou seja, as proposições dos dois países para a Alca se estruturam sobre princípios e lógicas opostas. Vamos ver qual será o desfecho do embate destas concepções.
Edvar Luiz Bonotto é doutor em direito (filosofia do direito e do Estado) e membro da Comissão Editorial de Princípios.
EDIÇÃO 71, NOV/DEZ/JAN, 2003-2004, PÁGINAS 23, 24, 25, 26, 27, 28