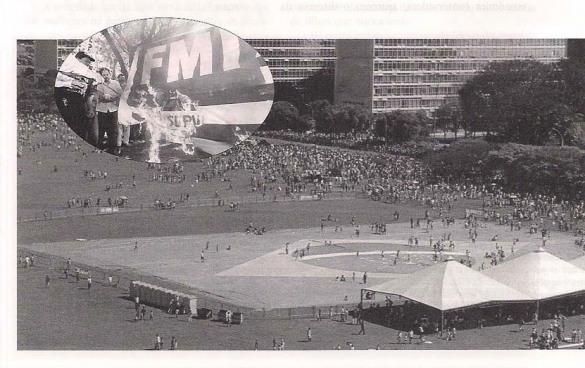Repercutiu, como era de se esperar, a decisão do governo Lula, em março último, de não renovar o Acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Ajuda a compreender o porquê dessa repercussão, uma passada de olhos pela gênese, desenvolvimento e condicionantes dos acordos vigentes até aqui.
Na cidade de Bretton Woods, em New Hampshire, EUA, surgia o FMI, como parte de um acordo mais amplo, firmado na Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, realizada nas primeiras três semanas de julho de 1944. O Tratado de Bretton Woods, como ficou conhecido, montou a arquitetura de uma nova ordem econômica mundial do pós-II Guerra Mundial, na qual, no mundo capitalista, os EUA eram largamente hegemônicos, com mais da metade do PIB e 80% das reservas de ouro mundiais, sendo a única potência que possuía forças armadas poderosas e a bomba atômica, frente a uma Europa e Japão arrasados econômica e militarmente. Nessas condições, apesar de resistências, inclusive de John Maynard Keynes, representante do governo inglês, os EUA lograram impor as novas normas e instituições que passaram a regular a economia mundial, excetuando o bloco socialista.
Como maior potência industrial, os EUA eram os que mais tinham a ganhar com a abertura comercial de todo o planeta. William Clayton, seu Secretário Assistente de Assuntos Econômicos, declarou: “nós precisamos de mercados – grandes mercados – pelo mundo afora nos quais possamos comprar e vender”. Interessava ao país capitalista mais competitivo a redução de barreiras comerciais dos demais; daí preconizar o livre-comércio, que levou à criação do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio), em 1946-47.
Em Bretton Woods, entre outras questões, foi fixado o dólar como moeda padrão, seu valor garantido com reserva equivalente em ouro pelo governo norte-americano, ficando todas as moedas em câmbio fixo em relação ao dólar (única moeda conversível em ouro).
Deve-se notar que os Estados Unidos eram superavitários no comércio com quase todos os países, ou seja, quase todos tinham exportações menores que importações (balança comercial negativa). Como passaram a ser os maiores exportadores de capital, os EUA tinham a receber dos demais países: a) juros e amortizações (de empréstimos); e b) remessas de lucros (das filiais). Ora, somadas as coisas, percebiam os EUA os riscos eventuais de não receberem esses pagamentos, uma vez que, além dos saldos comerciais negativos, os países da periferia não tinham moeda forte para pagar as obrigações internacionais. O FMI surge, assim, para, entre outras coisas, “ajudar” com empréstimos esses países em dificuldades de pagar suas contas, ou seja, garantir os recursos para aqueles que não conseguissem pagar saldos negativos das transações comerciais e financeiras com o exterior (leia-se com os EUA). O FMI é concebido, não com enfoque desenvolvimentista, como desejavam os países periféricos (e, de alguma forma, Keynes), mas com missão monetária, “saneadora”, francamente favorável aos Estados Unidos. Keynes afirmou a respeito do Tratado de Bretton Woods: “Vim participar de uma negociação e assisti a uma imposição”. Após o grande calote dos EUA, em 1971, quando seu presidente, Richard Nixon retira a conversibilidade do dólar em ouro (rompendo unilateralmente o
Tratado multilateral que impôs), a profusão de empréstimos às nações subdesenvolvidas (com cláusulas de juros flutuantes), a gradativa e rápida elevação dos juros dos EUA até o final da década de 70 (elevando a dívida dos países periféricos de US$ 56 bilhões em 1974 a US$ 400 bilhões em 1982) e eclode a crise da dívida dos países periféricos. Sem maior papel até então, o FMI imaginando ser uma mera questão de iliquidez de curto prazo, de 1982 a 1985 atuou como prestamista de última instância.
Junto com o Banco Mundial, agiu rápido emprestando dinheiro aos países em crise, evitando não só um colapso do sistema financeiro internacional (efeito do não-pagamento de débitos no balanço dos bancos credores, que estavam um tanto “a descoberto”) como também a formação de um cartel de devedores. Diga-se de passagem, o dinheiro dessa “ajuda” ia direto aos cofres dos bancos credores, sem sequer passar pelos países em crise, deixando-os mais endividados que antes. Aqui a instituição formalmente multilateral e técnica, o FMI (e também o Bird), atua claramente como instituição de defesa dos interesses dos credores, em especial dos EUA.
Especialmente a partir de 1985, o FMI, para conceder empréstimos, passa a exigir o que Aldo Arantes (Princípios 70, “O FMI e a soberania nacional”) denomina “condicionalidades ampliadas”, pelas quais, além da receita ortodoxa de superávit comercial (gerando saldos para pagar a dívida), acrescenta variáveis de abertura comercial (eliminando proteção à indústria nacional) e reforma do sistema financeiro. Essa fase dá início às conhecidas Cartas de Intenções, que os devedores devem assinar com o FMI. Mesmo os empréstimos concedidos têm seus recursos liberados aos poucos, à medida que equipes do órgão, periodicamente, vão fiscalizando o cumprimento do “dever de casa”. Ou seja, nações inteiras submetem sua política econômica às determinações desse organismo e são fiscalizadas permanentemente.
Uma terceira fase do FMI é a das “condicionalidades estruturais”, implementada desde o final da década de 80 e intensificada a partir de 1995, com a crise do México. Sintonizado com o “Consenso de Washington”, passa a exigir, nas Cartas de Intenções, mais que políticas macroeconômicas neoliberais, mas alterações de fundo, estruturais, dos países devedores, como liberalização comercial, maior controle de patentes, privatizações, determinada estrutura de impostos e gastos públicos (superávit primário elevado, Lei de Responsabilidade Fiscal etc), abertura aos fluxos de capitais, câmbio flutuante, reforma no setor financeiro (privatização, adequação às normas de Basiléia, independência do Bacen) etc.
É ilustrativo exemplificar com a exigência de superávit primário elevado. É sabido que o nível de investimento, especialmente em infra-estrutura, tem efeito multiplicador no crescimento econômico. E, quanto maior o PIB, maior a capacidade de o país pagar suas contas. Tomando como exemplo, a obrigação do FMI de o país gerar superávits elevados para pagar débitos financeiros restringe o investimento nacional, fazendo “batumar” o crescimento e dificultando até mesmo os pagamentos alegados. Os juros elevados atuam no mesmo sentido do superávit primário.
Além dessa, todas as condicionalidades são bem conhecidas dos brasileiros, implementadas ao longo dos governos de FHC, com conseqüências em baixíssimas taxas de crescimento, de 2.025% ao ano, em média, no período, desmonte do parque produtivo nacional e desnacionalização da economia. No caso da Argentina, cujo comportamento “exemplar” rendeu-lhe abrupta queda do PIB e acentuada crise econômico-social. Várias das condicionalidades reduziram consideravelmente a capacidade de ação do Estado brasileiro na defesa do desenvolvimento soberano e com progresso social, vide as privatizações e a liberação dos fluxos de capital e do câmbio.
A grande questão é que, além dos prejuízos que acarretam, já mencionados, os acordos com o FMI retiram capacidade de formulação de estratégias e políticas econômicas em consonância com os interesses nacionais dos países em desenvolvimento. Não se pode achar de pouca monta o fato de um país com as riquezas, o grau de desenvolvimento e as dimensões do Brasil, submeta-se permanentemente às diretrizes de um órgão que defende interesses opostos aos nossos.
Dada a importância da decisão adotada pelo governo de não renovar o acordo, no período que a antecedeu, houve um acirramento da luta política e de idéias sobre o tema.
Até a última hora os setores conservadores pressionaram no sentido de que a tutela do Fundo continuasse.
Entre os campos que se conflitaram, destacaram-se dois. Num primeiro, estavam os que preconizam a não-renovação, a partir não só da melhora das posições do país em relação ao final do governo FHC, mas que pensam o Brasil estrategicamente, defendendo um projeto soberano de desenvolvimento nacional. Num segundo, encontravam-se os defensores da renovação do acordo, por sua vez subdivididos em dois blocos, um de ingênuos embebidos da ideologia neoliberal que, ao enxergarem as dificuldades como intransponíveis, via ação soberana do país, só vislumbram a submissão maior e continuada como o caminho (que seria único). E, ainda outro, dos que pressionam pela renovação por interesses bem definidos, já mencionados.
Para a decisão de não renovar com o FMI, além de se enfrentar dificuldades estruturais existentes, como nossa fragilidade externa, foi preciso vencer a pressão ideológica e política. Houve e haverá luta, cada vez maior, para fazer valer os interesses ou do país ou dos credores internacionais, com o imperialismo norte-americano à frente, em cuja agressiva e unilateral orientação de dominação do planeta, tem como elo-chave impedir o desenvolvimento do Brasil. E são interesses colossais, com tentáculos poderosos internamente. Há a força brutal da ofensiva conservadora internacionalmente, cuja magnitude obrigou inclusive governos social-democratas a aplicarem o receituário neoliberal.
Como há o peso do conservadorismo neoliberal no Brasil, com força no Congresso, nos meios de comunicação, nos meios acadêmicos, impregnados de teses elaboradas nas instituições norte-americanas de ensino, martelados à exaustão pela mídia, até em filmes e meros comerciais, aparentemente inofensivos, sob formas bastante sofisticadas.
Havia uma terceira posição, que procurava conciliar as duas em luta. Reconhece a necessidade de marchar sem o FMI, mas considerava que, no momento, o país não reuniria condições para um caminho soberano. O problema é que através do FMI dificilmente o país reunirá condições melhores para buscar sua ação soberana. Além do que o Brasil já superou a gravíssima situação financeira herdada do governo passado, voltou a crescer, a ter superávits comerciais e na Balança de Pagamentos.
A decisão correta do governo brasileiro, embora agora apareça como uma “unanimidade nacional”, constitui-se, sem dúvida, numa vitória do campo político e social da base de apoio do governo que luta pelo avanço das mudanças, pela implementação de um projeto de desenvolvimento soberano e democrático. Por outro lado, trata-se de um revés do campo conservador que pressionava para que houvesse a renovação do acordo com o Fundo.
Neste episódio, Fernando Henrique Cardoso teve o cinismo de afirmar que ao final de seu governo o país não precisava mais do Fundo e que à época o acordo fora renovado tão somente pelo efeito “do risco da eleição de Lula”. Isso é o que se chama tentar “tapar o sol com a peneira”.
A supressão da tutela do Fundo é um o mérito do governo Lula, que soube, inicialmente, contornar a grave crise herdada do governo FHC e, agora, alicerçado nos êxitos econômicos auferidos, teve a coragem política de tomar uma decisão que resgata compromissos que ele assumiu com o eleitorado brasileiro.
É verdade que a austeridade fiscal e as metas de inflação continuarão sendo implementadas conforme anunciou o ministro da Fazenda. De fato, sete anos de tutela contínua e décadas de submissão ao FMI sedimentaram o receituário do Fundo tanto em setores da sociedade quanto em áreas do próprio governo. Estes anos e anos de domínio possibilitaram ao FMI disseminar como verdade absoluta os seus fundamentos macroeconômicos.
Mas o que não se pode negar é que a luta pela mudança, pelo redirecionamento da política macroeconômica ortodoxa e monetarista, obteve uma importante vitória com a não-renovação do acordo, uma vez que a tutela externa foi eliminada.
A luta, de fato, continua, venceu-se apenas uma grande batalha. Mas, ela continua agora em melhores condições. A jornada para que o governo conduza o país a um ciclo duradouro de desenvolvimento com valorização do trabalho prossegue, agora, como já foi dito, em melhores circunstâncias. Como falou o presidente Lula, o Brasil conquista a oportunidade de “andar com suas próprias pernas e com sua própria orientação”.
David Fialkow Sobrinho é mestre em Economia pela UFRGS, professor de Economia na UFRGS e na FACCA/FUNDASUL, e Conselheiro da Agergs.
EDIÇÃO 78, ABR/MAI, 2005, PÁGINAS 16, 17, 18, 19