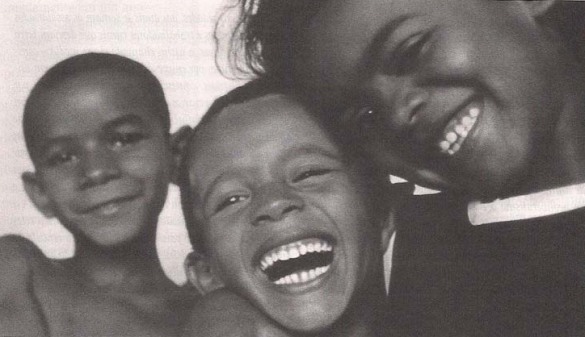Nas décadas de 1920 e 1930 o Brasil se agitava. O regime republicano oligárquico entrava numa crise profunda. Era a época das revoltas tenentistas, da Semana de Arte Moderna e do surgimento do Partido Comunista do Brasil. Tudo isso culminaria na chamada Revolução de 1930 e na posterior polarização entre diversas correntes políticas e ideológicas. Nesse momento a necessidade de construir teorias que explicassem o país adquiriu uma dramática atualidade e muitos intelectuais de várias tendências se envolveram nessa tarefa.
Este artigo procurará apresentar algumas das principais obras produzidas nesse período conturbado, concentrando-se nas elaborações teóricas assentadas nas concepções em voga – racistas, psicologistas e culturalistas. Não trataremos neste momento das interpretações marxistas que davam seus primeiros passos e já haviam produzido obras significativas como o livro pioneiro de Octávio Brandão, Agrarismo e Industrialismo (1926); de Leôncio Basbaum, A Caminho da Revolução no Brasil (1934); e os clássicos de Caio Prado Jr., Evolução Política do Brasil (1933) e Formação do Brasil Contemporâneo (1944). Estes, especialmente os dois últimos, representariam um salto de qualidade nas tentativas de interpretação do Brasil ao introduzirem o vigoroso instrumento analítico: o materialismo histórico.
Oliveira Vianna: o racismo decadente
Em 1920 saíram a público duas obras que buscavam explicar o país a partir de teorias racistas: Populações Meridionais do Brasil e Evolução do Povo Brasileiro. Estes livros projetaram seu autor, Oliveira Vianna, no cenário intelectual brasileiro. Suas referências teóricas mais importantes eram, segundo ele, “o grande Ratzel”, pai do determinismo geográfico, e “os gênios possantes e fecundos” de Gobineau e Lapouge – ambos racistas.
Vianna foi, essencialmente, um apologista das oligarquias rurais, procurando reconstruir idealmente como teriam sido os primeiros colonizadores. Entre outras coisas, escreveu: “Pela elevação dos sentimentos, pela hombridade, pela altivez, pela dignidade, mesmo pelo fausto e fortuna que ostentam, esses aristocratas, paulistas ou pernambucanos, mostram-se muito superiores à nobreza da própria metrópole. Não são eles apenas homens de cabedal (…) são também espíritos do melhor quilate intelectual e da melhor cultura”. Lançou a tese esdrúxula de que os bandeirantes paulistas eram perfeitos arianos: altos, fortes, loiros e de olhos claros.
Segundo ele, o país seria o resultado da vontade e da energia das elites brancas, racialmente superiores. Os negros e os índios, por outro lado, não haviam dado “nenhum elemento de valor” a nossa formação histórica e cultural. Uns e outros se tornaram “massa passiva e improgressiva” sobre a qual trabalhou “nem sempre com êxito, a ação modeladora da raça branca”. A missão de conduzir o Brasil rumo à civilização caberia apenas “aos arianos puros, com o concurso dos mestiços superiores e já arianizados”, pois somente eles, “de posse dos aparelhos de disciplina”, poderiam dominar “essa turba uniforme e pululante de mestiços, mantendo-a, pela compressão social e jurídica, dentro das normas da moral ariana”.
Assim, a apologia da raça ariana foi acompanhada, naturalmente, pelo desprezo quase genocida pelas camadas populares compostas por não-brancos. Não teve vergonha de afirmar que “os preconceitos de cor e sangue que reinavam tão soberanamente na sociedade do I, II e II séculos, tiveram uma função verdadeiramente providencial. São admiráveis os aparelhos seletivos que impediram a ascensão até as classes dirigentes desses mestiços inferiores, que formigavam nas subcamadas da população dos latifundiários”. Nós, assim, teríamos escapado da sina de nos transformarmos num grande Haiti. Oliveira Vianna não deixa de ser uma figura anacrônica. Era o último ideólogo militante do racismo no Brasil, quando ele já começava a ser questionado por inúmeros cientistas progressistas no Brasil e no mundo.
Retrato do Brasil
Paulo Prado, filho de uma tradicional família de cafeicultores paulistas, foi um dos mentores da Semana de Arte Moderna. Em 1928 publicou sua obra mais importante Retrato do Brasil – Ensaio sobre a tristeza brasileira. O objetivo era combater as visões românticas e o otimismo ingênuo sobre o Brasil.
O livro começa com a frase emblemática: “Numa terra radiosa vive um povo triste”. Dois grandes fatores seriam responsáveis pela tristeza do homem brasileiro: a luxúria e a cobiça. Escreveu: “Luxúria, cobiça: melancolia. Nos povos, como nos indivíduos, é a seqüência de um quadro de psicopatologia: abatimento físico e moral, fadiga, insensibilidade, abulia, tristeza. Por sua vez, a tristeza, pelo retardamento das funções vitais, traz o enfraquecimento e altera a oxidação das células produzindo nova agravação do mal com seu cortejo de agitação, lamúrias e convulsões violentas”.
Para ele, haveria povos alegres e povos tristes. Os brasileiros seriam do segundo tipo. Aqui um “véu da tristeza” se estendia “em todas as latitudes”. Ao contrário do tristonho brasileiro, os ingleses e alemães, apesar das aparências, seriam felizes. “O nosso próprio antepassado de Portugal (…) era um ser alegre quando comparado com o descendente tropical, vítima da doença, da pálida indiferença e do vício da cachaça”. Prado dá um salto mortal da psicologia individual para a psicologia coletiva e disto a conclui pela existência de um caráter geral do povo brasileiro, caracterizado pela tristeza.
Paulo Prado, de um lado, recusava terminantemente as teorias racistas ao afirmar que todas as raças “parecem essencialmente iguais em capacidade mental e adaptação à civilização” e que “nos centros primitivos da vida africana, o negro é um povo sadio, de iniciativa pessoal, de grande poder imaginativo, organizador, laborioso”. No mesmo sentido, afirma que a inferioridade social dos negros é devido à “falta de oportunidade para a revelação de atributos superiores”. Mesmo assim o mestiço brasileiro teria fornecido às comunidades “exemplares notáveis de inteligência, de cultura, de valor moral”. De outro lado, seguindo num caminho oposto, questionava: “as populações oferecem tal fraqueza física tão indefesas contra a doença e os vícios, que é natural indagar se esse estado de coisas não provém do intenso cruzamento das raças e sub-raças” e apresenta a idéia de que a miscigenação ao longo do tempo poderia levar à degeneração. “A história de São Paulo, em que a amalgamação se fez intensamente (…) é prova concludente das vantagens da mescla do branco com o índio. Hoje, entretanto, depois de se desenrolarem gerações e gerações desse cruzamento, o caboclo miserável – pálido epígono – é o descendente da esplêndida fortaleza do bandeirante mameluco. A mestiçagem do branco e do africano ainda não está definitivamente estudada. É uma incógnita”.
O historiador marxista Nelson Werneck Sodré associou o livro de Paulo Prado (que considerava o ‘retrato de uma classe’ e não do Brasil) à ‘ideologia do colonialismo’”. Para ele, a obra refletiria “o desespero burguês ante a falta de perspectiva histórica para a sua classe”. No entanto, o ensaio termina com uma nota “otimista” – o máximo a que poderia chegar um pessimista convicto e militante como Paulo Prado: Deveríamos ter “confiança no futuro”, pois ele “não poderia ser pior do que o passado”.
Casa-Grande e Senzala
Casa-grande e Senzala, publicada em 1933, foi uma resposta às teorias racistas que ainda persistiam nas diversas correntes interpretativas do Brasil. Gilberto Freyre pretendia recolocar, sob um outro ponto de vista, o problema do papel desempenhado pela integração das “três raças” na formação do povo e da nação brasileiros.
Este tema não era novo entre nossos intelectuais e políticos. Mas, o instrumental teórico utilizado e as conclusões eram bastante originais. A partir do culturalismo chegou à conclusão de que não existiriam raças inferiores e superiores, opinião amplamente aceita entre nós. A possível inferioridade física dos brasileiros – e suas conseqüências psicossociais – devia-se ao predomínio do latifúndio que, por séculos, privou “a população colonial do suprimento equilibrado e constante de alimentação sadia e fresca”. Freyre chegou mesmo – invertendo a lógica imperante – a afirmar a superioridade dos negros em relação aos índios e portugueses, especialmente em relação à “cultura material e moral”.
Os negros além da maior capacidade de adaptação às condições tropicais e à agricultura, seriam portadores de características psicológicas positivas: “Contrastando-se o comportamento das populações negróides como a baiana – alegre, expansiva, sociável, loquaz – com outras menos influenciadas pelo sangue negro e mais pelo indígena (…) tem-se a impressão de povos diversos”. Com esse trecho, o viés racialista e psicologista se torna evidente. Existiria uma relação direta entre raças e propensões psicológicas: os negros e mulatos seriam alegres e os índios e caboclos tristes. Estamos dentro da problemática introduzida por Paulo Prado, embora as conclusões fossem bastante diferentes.
Freyre não só constatou o fato de existir no país um povo mestiço, mas afirmou que isso era uma coisa bastante positiva. Escreveu: “Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo (…) a sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro”. No Brasil a mestiçagem teria tido um papel democratizante. Escreveu ele: “A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre (…) casa-grande e senzala. O que a monocultura latifundiária e escravocrata realizou no sentido da aristocratização (…) foi em grande parte contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação (…) agindo poderosamente no sentido de democratização social no Brasil”. Aqui Freyre parece confundir a miscigenação ocorrida com um possível processo de democratização social. Estes foram dois fenômenos diferentes e não necessariamente complementares, pois o processo de miscigenação pode perfeitamente ser acompanhado pela construção de sociedades autoritárias e excludentes. No nosso caso todos os dados disponíveis apontam nesse sentido.
Por afirmações como essa – sobre a existência de uma “democracia social” – Freyre foi acusado de idealizar o país existente sob o domínio das oligarquias rurais – especialmente a nordestina – e de tentar reconstruir a história do ponto de vista da casa-grande. A acusação não é de todo infundada. Logo no “Prefácio” de Casa-grande e Senzala afirma: “A história social da casa-grande é a história íntima de quase todo brasileiro (…) Nas casas-grandes foi até hoje (grifo nosso) onde melhor se exprimiu o caráter brasileiro” e seria dentro da “rotina” da casa-grande que melhor se sentiria o caráter do nosso povo. Parece-nos que reduzir o Brasil ao espaço da casa-grande, sem dúvida, é uma das principais limitações desta obra magistral de Gilberto Freyre.
Dentro do esquema de Freyre, a casa-grande e sua estrutura patriarcal tenderiam a produzir determinadas patologias sociais que afetariam diferentemente dominantes e dominados. O sadismo e o masoquismo, nascidos naquele ambiente, se enraizariam profundamente na personalidade dos futuros brasileiros e teriam reflexo no campo das relações políticas. “O sadismo do senhor e o correspondente masoquismo do escravo (…) têm feito sentir através da nossa formação, em campo mais largo: social e político. Cremos surpreendê-lo em nossa vida política, onde o mandonismo tem sempre encontrado vítimas em quem exercer-se com requintes muitas vezes sádicos; certas vezes deixando até nostalgias logo transformadas em culto cívico, como o do marechal-de-ferro”. E completa de maneira jocosa: “no íntimo, o que o grosso do que se pode chamar de ‘povo brasileiro’ ainda goza é a pressão sobre ele de um governo másculo e corajosamente autocrático”. Esta tese talvez seja a mais perversa do livro, pois acaba por cumprir a função de ideologia justificadora de determinadas formas de dominação social e política: – especialmente as mais truculentas – a exploração sexual da escrava, a tortura dos moleques do engenho e mesmo as ditaduras antipopulares. Afinal, o povo brasileiro teria propensões masoquistas. Nessa perspectiva conservadora a própria abolição da escravidão e as transformações econômicas que se seguiriam não poderiam ser vistas de maneira positiva. Escreve em Casa-Grande e Senzala: “De modo que da antiga ordem econômica persiste a parte pior do ponto de vista do bem-estar geral e das classes trabalhadoras – desfeito em 1888 o patriarcalismo que até então amparou o escravo, alimentou-os com certa largueza, socorreu-os na velhice e na doença, proporcionou-lhe aos filhos oportunidade de acesso social. O escravo foi substituído pelo pária da usina; a senzala pelo mucambo; o senhor de engenho pelo usineiro ou pelo capitalista ausente”. A abolição teria criado “um proletariado de condições menos favoráveis de vida do que a massa escrava”.
Portanto, os escravos só teriam de se lamentar pela liberdade conquistada, que lhes tirou a segurança, a boa alimentação e as oportunidades provindas do cativeiro.
Apesar desses limites, essa obra de Freyre é revolucionária e se constituiu – naquela conjuntura –, numa trincheira importante na luta teórica e ideológica que se travava contra as correntes racistas e fascistas que se espalhavam pelo mundo e pelo Brasil. Não foi à toa que, logo após a publicação de Casa-grande e Senzala, os reacionários acusaram-na de ser um libelo comunista.
Sérgio Buarque e o homem cordial
Três anos depois de Casa-grande e Senzala, em 1936, Sérgio Buarque de Holanda publicou Raízes do Brasil. Esta seria outra obra fundamental nesse esforço de entender mais e melhor o povo brasileiro. A exemplo de Freyre, o historiador paulista viu nos portugueses o povo melhor preparado para a conquista e a colonização dos trópicos.
Os traços que particularizariam os colonizadores portugueses seriam: o culto à personalidade; a anarquia na vida social; e a inexistência de uma ética que valorizasse o trabalho. Não se teriam naturalizado entre os colonizadores portugueses “a moderna religião do trabalho” e o apreço às atividades manuais. A contrapartida desse verdadeiro “anarquismo social” seria a constituição de um Estado forte, quase ditatorial. Escreve ele: “as ditaduras e o Santo Ofício parecem constituir formas tão típicas de seu caráter como a inclinação à anarquia e à desordem”.
A família patriarcal determinava toda estrutura social e as relações com o poder público. Existiria “uma invasão do público pelo privado, do Estado pela Família”. E a razão disso seria pelo fato de, por não existir uma burguesia urbana independente, os funcionários públicos acabavam sendo recrutados entre os filhos e agregados dos senhores rurais. Isso levou com que fossem transplantados para as cidades elementos organizacionais e os valores da família patriarcal. Para eles, não seria fácil “compreender a distância fundamental entre os domínios do privado e do público”. Assim, a democracia entre nós acabou se constituindo num “lamentável mal-entendido”, pois “uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la, onde fosse possível, aos seus direitos e privilégios”.
A própria característica fundamental do homem brasileiro, a cordialidade, seria resultado desse processo de privatização (ou individualização) do social. Ele escreve: “a contribuição brasileira para a civilização será a cordialidade – daremos ao mundo o ‘homem cordial’. A lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões de convívio humano, informado pelo meio rural e patriarcal”.
Diante da celeuma levantada contra seu “homem cordial”, foi obrigado a reafirmar a historicidade dessa característica psicossocial dos brasileiros. Numa carta a Cassiano Ricardo, em 1948, afirma: “quero frisar, ainda uma vez, que a própria cordialidade não me parece virtude definitiva e cabal que tenha que prevalecer independentemente das circunstâncias mutáveis de nossa existência. (…) o homem cordial se acha fadado provavelmente a desaparecer, onde ainda não desapareceu de todo”. Por fim, a noção “homem cordial” não teria um juízo ético – positivo ou negativo. Por isso rejeitou qualquer confusão entre as noções de cordialidade e bondade: “Cabe-me dizer-lhe ainda que também não creio muito na bondade fundamental dos brasileiros. Não pretendo que sejamos melhores, ou piores, do que os outros povos”.
Dante Moreira critica a possibilidade de se falar da existência de um caráter brasileiro assentado na noção de cordialidade mesmo no período colonial. Pois uma “descrição psicológica do brasileiro só poderia sustentar-se, coerentemente, se as características fossem consideradas como permanentes e válidas para todas as classes sociais”. Mas, a pretensa “cordialidade” estaria ligada apenas, ou em grande parte, à família patriarcal. Ou seja, ela somente poderia ser entendida nos marcos de relações “entre iguais, entre pessoas de classe alta, e não de relação entre superior e subordinado” e ironiza: “os negros colocados em situação que não ameaça os brancos são tratados cordialmente. No entanto, quando os negros ameaçaram essa posição, foram tratados com crueldade: é suficiente lembrar a história do bandeirante que exibia as orelhas dos negros mortos em Palmares”.
Nesta obra Sérgio Buarque deu a sua contribuição para consolidação do mito da benevolência do colonizador português e da existência de uma democracia racial no Brasil. Ele afirmou “o português (…) mais do que nenhum outro povo da Europa, cedia com docilidade ao prestígio comunicativo dos costumes, da linguagem e das seitas dos indígenas e negros”. Por isso era “exíguo o sentimento de distância entre os dominadores e a massa trabalhadora constituídas de homens de cor”. Assim “o escravo das plantações e das minas não era simples manancial de energia, um carvão humano à espera de que a época industrial o substituísse pelo combustível. Com freqüência as suas relações as suas relações com os donos oscilavam da situação de dependência para de protegido, a até de solidário e afim”. Esta era uma visão idílica das relações entre os escravos e seus proprietários, pois generaliza relações que podem ter existido entre alguns patrões e alguns poucos escravos domésticos. A ciência aqui dava lugar à ideologia aristocrática.
No último capítulo intitulado “A nossa revolução”, Sérgio Buarque analisa o processo, mais ou menos lento, da passagem do predomínio da vida rural para o predomínio do mundo urbano industrial. Segundo ele, a “grande revolução brasileira não é um fato que se registrasse em um instante preciso: é antes um processo demorado e que vem durando pelo menos há três quartos de século” e ainda se estaria testemunhando e “por certo continuaremos a testemunhar durante largo tempo, as ressonâncias últimas do lento cataclismo, cujo sentido parece ser o do aniquilamento das raízes ibéricas de nossa cultura para a inauguração de um estilo novo que crismamos, talvez ilusoriamente, de americano porque seus traços se acentuam com maior rapidez em nosso hemisfério”, pois no Brasil o iberismo e o agrarismo se confundiriam. Para ele, estaríamos vivendo “entre dois mundos: um definitivamente morto e outro que luta por vir à luz”.
O autor de Raízes do Brasil apostaria no pólo da mudança contra a conservação, do moderno contra o arcaico. Neste sentido não é um nostálgico do passado oligárquico – como o foram Oliveira Viana e Gilberto Freyre. Se estes dois últimos fizeram de suas obras momentos de resistência à modernidade capitalista, Sérgio Buarque foi seu porta-voz.
Augusto Buonicore é historiador e membro do Comitê Central do PCdoB.
Bibliografia
AXT, Gubter e SCHÜLER (orgs.). Intérpretes do Brasil. Artes e Ofícios, RS, 2004.
DUARTE, Paulo. Retrato do Brasil: Ensaio sobre a tristeza brasileira. Ibrasa, SP, 1981.
FREYRE, Gilberto. Casa-Grande e Senzala. Record, RJ/SP, 2000.
HOLANDA, Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. José Olympio, RJ. 1983.
LEITE, Dante Moreira. O Caráter Nacional Brasileiro. Livraria Pioneira, SP. 1973.
MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da Cultura Brasileira (1933-1974). Ática, SP, 1985.
MOTA, Lourenço Dantas (org.). Introdução ao Brasil: Um banquete no trópico. Col. 1 e 2, Senac, SP, 2000 .
RUY, José Carlos. “Visões da História”. In: Princípios nº 53 e 54. Anita Garibaldi, SP, 1999.
SKIDMORE, Thomas E. Preto no Branco – Raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Paz e Terra, SP, 1976.
SODRÉ, Nelson W. A Ideologia do Colonialismo: seus reflexos no pensamento brasileiro. Vozes, Petrópolis, 1984.
EDIÇÃO 80, AGO/SET, 2005, PÁGINAS 12, 13, 14, 15, 16, 17