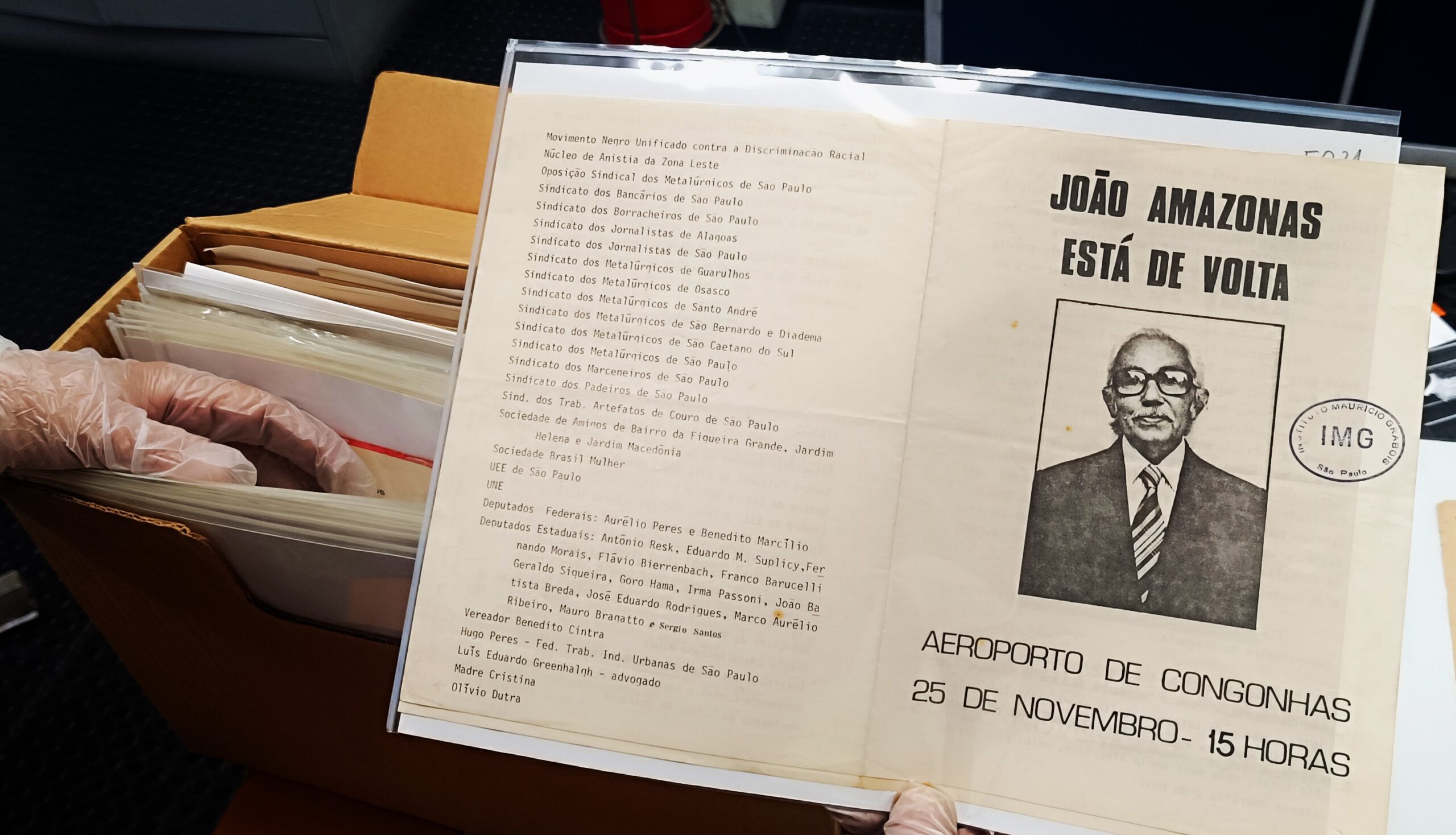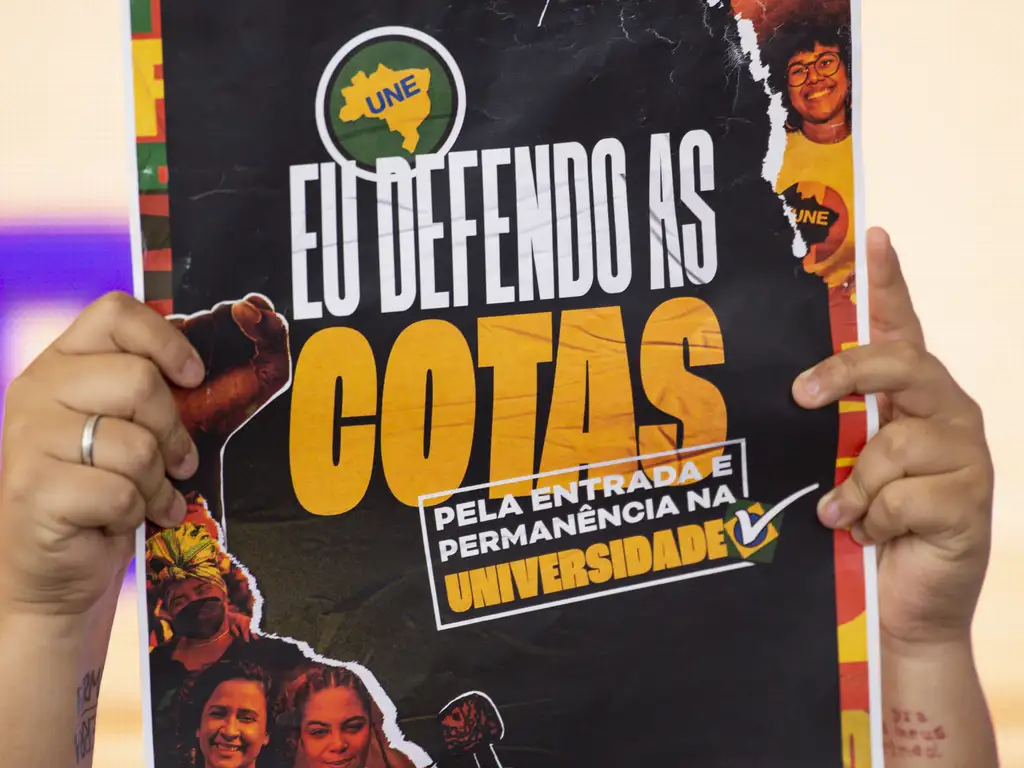Essa analogia ocorre-me agora, depois do violento ataque pelo exército de Israel a seis barcos que conduziam cerca de 700 pessoas da Flotilha da Paz, que tentavam levar ajuda humanitária a Gaza, no Mediterrâneo, há pouco mais de um mês. Foram mortos nove cidadãos turcos, defensores dos direitos humanos dos palestinos, e feridos mais de 50.
É possível que esse incidente represente o início de mudança substancial para os palestinos, israelenses e todo o Oriente Médio? Acreditamos que sim. E já começou. No mínimo, as condições estão maduras para mudar.
Depois de três anos de sanções e bloqueio cada dia mais duros contra 1,5 milhão de palestinos confinados na Faixa de Gaza, Israel está sendo forçada a diminuir o bloqueio, até aqui praticamente total. Não por decisão da ONU ou por resultado de reunião entre as grandes potências para que se alcance algum acordo. O bloqueio israelense está sendo derrotado pela ação de um movimento popular.
O uso de extrema violência por Israel, em águas internacionais, contra barcos civis que viajavam em missão humanitária para ajudar um povo que vive em sofrimento, levantou uma maré de críticas, de todos os lados, contra Israel. Como faz sempre, o Estado judeu tentou apresentar-se como vítima. Foi onde se começou a ver que os tempos mudaram; que as vítimas de ontem, pelas quais a humanidade ainda chora, passaram ao papel de carrascos de hoje. A Israel de hoje exige 10, 50, cem olhos, por cada olho.
Muito da revolta que se viu mês passado em todo o mundo, dirigida contra o governo de Israel, começou a acumular-se quando Israel atacou o Líbano e Gaza no verão de 2006. Cresceu depois do ataque violento, que se arrastou por três semanas, contra a população indefesa de Gaza, no final de dezembro de 2008. Com o ataque sinistro contra a Flotilha da Paz, a crítica que se acumulava, explodiu.
E agora? Ante o fiasco que foi a agressão aos barcos de pacifistas e a desaprovação pública, Israel viu-se obrigada a fazer algumas concessões ao chamado ‘Quarteto’ (ONU, União Europeia, EUA e Rússia, grupo formado há oito anos para tentar equacionar e superar as diferenças entre Israel e palestinos, com vistas a estabelecer dois Estados).
O governo de Barack Obama dá apoio político e militar a Israel. A ajuda anual que os EUA dão a Israel foi aumentada recentemente para 3 bilhões de dólares, que começarão a chover sobre Israel a partir de outubro. Pois até o governo Obama já começa a ver que a violência desmedida dos israelenses; a ocupação ilegal da Cisjordânia (onde vivem 2,8 milhões de palestinos); e a evidência de que Israel não admitirá que se crie um Estado palestino estão minando a hegemonia dos EUA no Oriente Médio e comprometem os próprios interesses dos EUA em todo o mundo.
Obama recusou-se a condenar Israel por atirar contra civis desarmados em águas internacionais; limitou-se à lamentação: “os EUA lamentam profundamente as vidas perdidas e os feridos”. A Casa Branca tampouco usou o poder que tem, para impedir definitivamente que Israel continue a construir unidades de moradias exclusivas para judeus em territórios ocupados ilegalmente e roubados dos palestinos há 43 anos; e a Casa Branca tampouco cogita obrigar Israel a retirar-se das áreas ilegalmente ocupadas na Cisjordânia.
O governo de Netanyahu, coalizão com a extrema direita e religiosos ultra-ortodoxos, não cogita por fim à colonização da Palestina; não pensa em por fim às construções em territórios ocupados; não pensa em sair da Cisjordânia ocupada; nem jamais trabalhou ou trabalhará para a criação de qualquer Estado palestino. Setores religiosos insistem na crença de que Israel teria sido dada “por Deus” aos judeus. (Palestinos que ‘contra-argumentem’ que a mesma terra foi dada por Deus, não aos judeus, mas aos muçulmanos, são considerados “fanáticos religiosos islâmicos”… pelos fanáticos religiosos judeus.)
Nesse ensaio, discutiremos em detalhe alguns desses pontos, analisaremos as ações de Obama e do Congresso dos EUA, exploraremos o papel da Turquia e do Irã, a divisão entre os partidos Fatah e Hamas, a desunião no mundo árabe, e anteciparemos alguns desenvolvimentos em todo o Oriente Médio.
*
O povo da Faixa de Gaza continua a sofrer sanções e outras indignidades, mas a dor de viver sob bloqueio total e virtual prisão coletiva começa a diminuir nessa estreita faixa de território, de apenas 40km de comprimento na costa mediterrânea, definida, em 1949 para acomodar alguns dos refugiados palestinos expulsos para que ali fosse criado o Estado de Israel.
As principais organizações de direitos humanos em todo o mundo consideram bem-vindo qualquer levantamento parcial do bloqueio, mas exige que seja completamente cancelado. Para a Anistia Internacional: “O anúncio de que o bloqueio será parcialmente levantado evidencia que Israel não tem qualquer intenção de por fim à punição coletiva da população civil que vive em Gaza, e apenas a ‘suaviza’, e só parcialmente. É dever de Israel cumprir integralmente seus deveres como poder ocupante nos termos da legislação internacional, e cancelar completamente o bloqueio.”
A Agência da ONU para Ajuda Humanitária e Socorro, que supervisiona e atende a comunidade de refugiados palestinos, declarou dia 20/6, por seu porta-voz Christopher Guinness: “É necessário que esse bloqueio seja completamente cancelado. (…) A estratégia israelense é induzir a comunidade internacional a discutir sacos de cimento, mais sacos aqui, menos sacos acolá, para um projeto aqui ou outro acolá. O que importa é nos dar pleno acesso, sem qualquer restrição, em todos os postos de passagem e, atualmente, de controle.”
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que raramente se manifesta sobre assuntos específicos, exigiu, em manifestação datada de 14/6, o fim completo do bloqueio, observando que o embargo já destruiu a economia nos territórios ocupados e já arruinou o sistema público de saúde.
A pequena diminuição nas sanções impostas aos palestinos não muda os objetivos políticos do governo de Israel. De modo geral, os objetivos de Israel são: destruir o Hamás (Partido do Movimento da Resistência Islâmica) que governa Gaza; dominar e manipular a Autoridade Nacional Palestina (ANP, que governa a Cisjordânia) e o Fatah (Partido do Movimento de Libertação da Palestina que controla a ANP); manter em terras palestinas suas forças de ocupação e as colônias ilegais exclusivas para judeus; e expulsar de Jerusalém toda a população árabe, processo conhecido como de “judaicização” de Jerusalém.
O objetivo de Netanyahu é manter os palestinos sob condições de jugo neocolonial pelo maior tempo possível. O real desejo do governo da coalizão de direita é manter pelo maior tempo possível o processo de apropriar-se da maior quantidade possível de terras palestinas. Há alguns anos, o Quarteto estimulou Israel a trabalhar na direção de uma “Solução de Dois Estados” até 2012, mas o governo atual tem criado inúmeros obstáculos a qualquer acordo equitativo e dedica-se a adiar qualquer acordo pelo tempo mais longo possível.
Dia 29/6/, o ministro do Exterior Avigdor Lieberman anunciou que “não há qualquer chance” de cumprir-se o prazo de 2012. Há algum tempo, dissera que consideraria a ideia de dois Estados se os 1,3 milhões de árabes que vivem em Israel – como cidadãos de segunda classe em sua própria terra fossem tirados de lá e depositados em território palestino, condição que ninguém sequer considerará. O partido de Lieberman, Yisrael Beiteinu [Israel, nosso lar], já sugeriu que os israelenses árabes seriam “desleais” e dever-se-ia revogar sua cidadania israelense. “Sem lealdade, sem cidadania” foi um de seus slogans de campanha eleitoral no que, para os apoiadores de Lieberman, seria “a única democracia no Oriente Médio”.
Mahmoud Abbas, presidente da ANP, falou por três horas com jornalistas da imprensa israelense, em Ramallah, semana passada. Em editorial, o Jerusalem Post de 1/7, avaliou que o evento “pode ser visto como tentativa – provavelmente fortemente estimulada pelos EUA – de falar diretamente ao público israelense. Abbas nada disse de especialmente novo. Mas a impressão que ficou é que Abbas parece ter convencido os EUA de que, sim, está pronto a iniciar negociações sobre questões-chave de segurança e sobre fronteiras. E que todos os obstáculos a qualquer negociação – de fato, uma muralha de silêncio – são obra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. “Estamos à espera de que Netanyahu nos dê qualquer sinal de que quer negociar” – disse Abbas. Dois partidos políticos mais moderados – o Kadima, autodefinido “de centro”, mas que trabalha com a direita, é hoje o maior partido no Parlamento (Knesset); e o Partido Labor (‘trabalhista’), que ainda carrega rótulo de partido de ‘centro-esquerda’ mas opera como de direira, e de ultradireita no que tenha a ver com palestinos – parecem mais sensíveis à Solução dos Dois Estados. Mas nem um nem outro jamais manifestou qualquer forte empenho em criar algum Estado palestino independente. E nenhum dos partidos israelenses dá crédito à ideia defendida por alguns de criar-se um único Estado israelense-palestino, com unidade progressista, multiétnica, multirreligiosa, de real igualdade entre todos e mútuo benefício para todos.
Diz-se que Obama estaria considerando a ideia de propor “um Estado palestino democrático, independente e contínuo” o qual – “para garantir a segurança de Israel” – seria impedido de manter exército ou de estabelecer qualquer pacto de mútua segurança com qualquer outro país. Considerada a história recente de Israel, carregada de ataques militares violentos contra Estados vizinhos, é claro que se tem de fazer a pergunta que ninguém fez: e quanto à segurança dos palestinos?
Netanyahu, por sua vez, evidentemente nada aprendeu das críticas de todo o mundo contra o terrível bloqueio contra Gaza e contra o ataque à Flotilha da Paz. Em recente fala ao Parlamento, disse que “querem nos roubar o direito natural de nos defender. Se nos defendemos contra os foguetes do Hamás, nos acusam de crimes de guerra. Não podemos nos defender nem atirar nos inimigos que atiram em nós, num barco, sem que nos acusem de crime de guerra.”
Uri Avnery, líder do movimento Gush Shalom, “Bloco da Paz Israelense”, vê as coisas de outro modo, como escreveu dia 19/6: “Já há anos, o mundo vê o Estado de Israel todos os dias na tela da TV e nas manchetes dos jornais, sempre mostrado como soldados pesadamente armados que atiram contra crianças que se defendem com pedras; como aviões que lançam bombas de fósforo sobre quarteirões residenciais; como helicópteros que assassinam “alvos preferenciais”. Agora, verão Israel também como nação de piratas que atacam barcos civis em águas internacionais. E as imagens de mulheres aterrorizadas, carregando filhos feridos; homens com pernas arrancadas; casas em ruínas. Se o que Israel tem para mostrar é isso, sempre isso e só isso, é claro que, aos olhos do mundo, Israel converteu-se em monstro.”
Comentando as ações do governo israelense, a revista conservadora The Economist escreveu, dia 5/6: “Israel está presa num círculo vicioso. Quanto mais os linha-duras pensam e repetem que o mundo os odeia, mais rapidamente os linha-dura puxam o gatilho, matam primeiro para perguntar depois, e mais verão o mundo como território sempre inimigo (…). [Netanyahu] não dá a impressão de reservar qualquer espaço para que se pensem as vantagens da paz.”
A revista Time, dia 21/6, dizia: “Além de ter fraturado as relações entre o Estado judeu e a Turquia, seu mais importante aliado muçulmano, e de não contribuir para o esforço de aproximação do governo Obama em Washington, seu sempre principal aliado, o ataque à Flotilha da Paz obriga a considerar o tipo de democracia em que Israel converteu-se: conspicuamente beligerante, sempre rápida na direção de solução militar para todos os problemas que surjam – e fazendo papel cada vez mais lastimável também na solução militar.”
Romper o bloqueio
O bloqueio que Israel mantém contra Gaza é ato de punição coletiva de um povo inteiro – proibido e considerado ilegal na jurisprudência –, lançado inicialmente para castigar os eleitores de Gaza que democraticamente elegeram o partido islâmico Hamás, nas eleições parlamentares de janeiro de 2006. Israel e os EUA apoiavam os candidatos da Autoridade Nacional Palestina, herdeiros da OLP (Organização para a Libertação da Palestina) e coalizão de partidos políticos sob a liderança do partido Fatah.
As sanções foram convertidas em sítio criminoso um ano depois de o Hamás ter derrotado o Fatah, numa, de fato, guerra civil em Gaza, apesar de os EUA terem dado 60 milhões de dólares ao Fatah para comprar armas e treinar militantes com o objetivo declarado de esmagar o Hamás. Desde essa época, o Hamás governa Gaza e a ANP governa a Cisjordânia, com apoio ocasional de Washington e Telavive.
O bloqueio foi tão severo que toda a população de Gaza passou a viver, de fato, como numa prisão a céu aberto, em pequeno território, durante os últimos dois anos. Apesar de vários tipos de alimentos terem entrada proibida em Gaza, e da queda na quantidade de calorias ingeridas, ninguém morreu de fome. O bloqueio foi planejado, provavelmente, para chegar só até onde chegou. O povo de Gaza sobreviveu sem papel, sabão, cimento, colchões, máquinas em geral, brinquedos e mais uma centena de itens. Cimento é item de especial importância, porque praticamente todas as casas e prédios em Gaza foram destruídos ou semidestruídos pelo exército israelense – residências, prédios comerciais, fábricas e prédios oficiais.
A Associated Press noticiou que Israel anunciara dia 5/7 que levantaria a proibição de quase todos os itens de consumo, mas que “manteria proibidos itens de consumo diário (praticamente todos) e materiais de construção em geral, inclusive cimento. As novas regras dificilmente contribuirão para reconstruir a economia devastada do território, nem permitirão que se reconstruam ou reparem os prédios destruídos e danificados na guerra do ano passado”. O Hamás denunciou as novas regras. Israel, superpotência militar no Oriente Médio, atacou, no verão de 2006, em rápida guerra punitiva, o Líbano e Gaza – ataque que gerou críticas em todo o mundo. A opinião pública foi outra vez ultrajada em dezembro de 2008, quando o exército israelense outra vez atacou Gaza, ostensivamente como retaliação a ataque com foguetes do Hamás. Massacrou 1.417 palestinos, a maioria dos quais civis, e feriu 5.500. Do lado de Israel, morreram 14, praticamente todos militares. (O Hamás estava mantendo um cessar-fogo acordado há meses; Israel quebrou esse acordo de cessar-fogo; o argumento dos israelenses, de que estariam respondendo aos ‘foguetes’ do Hamás, absolutamente não faz sentido algum, como logo observaram vários grupos, militantes e intelectuais da luta anticolonialismos.)
O suplício da população que vive em Gaza gerou apoio para os palestinos em todo o mundo.
O Movimento Gaza Livre [ing. Free Gaza Movement[1]], coalizão de grupos de ação pró-palestinos, organizou nove tentativas de furar o bloqueio israelense, enviando barcos com ajuda humanitária para Gaza, entre agosto de 2008 e 31/5/2010. Nenhum barco jamais carregou armas de qualquer tipo. Todos foram atacados por Israel, empenhada em manter seu projeto de privação em massa, usado como instrumento de coerção pelo Estado.
Em maio desse ano, o Movimento Gaza Livre reuniu-se à Fundação Turca pelos Direitos e Liberdades Humanos e Ajuda Humanitária [ing. The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief, IHH[2]] e organizou o envio, para Gaza, de seis barcos e 663 militantes pró-Palestina de diferentes países, com o objetivo de furar o bloqueio. Os barcos, carregados com toneladas de produtos, reunir am-se em comboio ao largo da ilha de Chipre, no Mediterrâneo e partiram para Gaza, dia 30/5. Vários passageiros eram militantes treinados para ações de resistência não-violenta. Nenhum viajava armado ou com bombas.
Navios e helicópteros militares israelenses abordaram a flotilha em águas internacionais, a cerca de 100km do litoral da Faixa de Gaza. Deve-se considerar que, ainda que os barcos já tivessem entrado em águas territoriais, seriam águas territoriais de Gaza, não território israelense. Comandos fortemente armados das Forças Especiais do exército israelense abordaram ilegalmente os barcos da Flotilha da Paz e assumiram o comando. Cinco dos barcos foram rapidamente dominados, sem mortes de passageiros.
O sexto barco e, de longe, o maior deles, o Mavi Marmara, comprado no início do ano pela organização IHH, foi abordado por comandos que desceram de helicópteros, ao mesmo tempo em que o barco era cercado por botes de alta velocidade. Alguns passageiros resistiram à invasão, no pleno direito, de qualquer cidadão, de resistir a ataque noturno em águas internacionais e pagaram com a vida. São heróis da paz.
Os assaltantes israelenses atiraram e mataram nove pessoas – vários à queima roupa, o que caracteriza assassinato ou execução. Um dos mortos, cidadão turco-norte-americano, Furkan Dogan, tinha 19 anos. É provável que vários dos mortos e feridos tenham sido agredidos sem manifestar qualquer gesto de resistência. Um sargento israelense, que se vangloriou de haver matado seis civis, disse que todos seriam “terroristas”.
O governo de Israel não planejara matar militantes da Flotilha da Paz. Mas acabou por criar uma situação na qual, se apenas um detalhe daquele ato de agressão não saísse exatamente como deveria sair, tudo escaparia ao controle e daria gravemente errado, como deu. Por que o secretário de Defesa Ehud Barak, autor da famosa frase-propaganda segundo a qual o exército de Israel seria “o mais moral dos exércitos do mundo”, insiste que os comandos foram instruídos a responder racionalmente, ante a possibilidade de resistência não-armada de alguns passageiros?
Imediatamente Israel foi soterrada por mensagens de crítica vindas de todo o planeta; depois das violações repetidas aos direitos humanos dos palestinos, o ataque a tiros contra movimento de pacifistas e agentes humanitários. Em resposta, o aparato de propaganda do governo de Netanyahu disparou uma pletora de autojustificativas – praticamente só mentiras ou, no mínimo, visíveis exageros, mas evidentemente suficientes e satisfatórias para a Casa Branca e o Congresso dos EUA.
O mundo ouviu contar que os assaltantes israelenses super armados teriam sido “linchados”. Que foram espancados com “porretes”. Que havia 50 “soldados turcos” a bordo do Mavi Marmara, informação logo substituída por “75 mercenários da al-Qaeda”. O barco, disse Netanyahu, seria uma “nave do ódio”. Defensores de Israel nos EUA ainda preferem acreditar nesses e noutros contos fantásticos. Sendo assim, seria de esperar que aqueles 75 membros da al-Qaeda seriam presos, levados para Israel e metidos na prisão. Mas, não. Ninguém foi preso – nenhum dos “linchadores” de inocentes soldados israelenses, nem os “espancadores”, nem os “soldados turcos”, nem os “mercenários terroristas”.
Ao saber do ataque aos ativistas por comandos israelenses armados, a poeta norte-americana Alice Walker escreveu em apoio aos “ativistas pacifistas que levavam ajuda a Gaza e que tentaram espantar os agressores usando cadeiras e bastões. Estou grata por me ensinarem o verdadeiro sentido da bondade. Sei que os militantes da Flotilha da Paz estão entre as mais bondosas pessoas que há no mundo: não se calaram ante o sofrimento alheio, não se omitiram ao saber do sofrimento brutal dos palestinos e ofereceram-se sem armas exceto o próprio corpo, à luta que viesse.”
O Conselho de Segurança da ONU conseguiu aprovar uma Resolução exigindo investigação completa por comissão internacional, do incidente da Flotilha, mas Telavive recusou-se a cooperar, insistindo em fazer investigação interna. Diz-se que o governo Obama teria conseguido um acordo: em troca do levantamento parcial do bloqueio de Gaza, Israel seria autorizada a investigar, ela mesma, sem interferência externa, os atos do próprio exército israelense.
Para o governo Obama, a autoinvestigação israelense seria “importante passo a frente” – mas não se sabe em que direção, exceto, claro, em direção à autoabsolvição. O ministro das Relações Exteriores da Turquia Ahmet Davutoglu declarou que “Não confiamos de modo algum que Israel, país que ataca comboio de barcos civis em águas internacionais, algum dia fará investigação imparcial de seus próprios atos.”
Considerado o simulacro de investigação que Israel fez depois do ataque contra Gaza no inverno de 2008-2009, seguido logo depois pela rejeição do Relatório Goldstone, promovido pela ONU – e vergonhosamente também rejeitado pelo Congresso dos EUA e pela Casa Branca – não cabe qualquer dúvida de que a nova investigação, iniciada dia 28/6 em Israel, tampouco levará a qualquer condenação de Israel, a menos que se mudassem as regras. Netanyahu disse recentemente que “a investigação demonstrará que os objetivos e os atos do Estado de Israel e do exército israelenses foram atos de legítima defesa, conforme os mais altos padrões internacionais”. Seria exatamente o que aconteceria, se tudo tivesse corrido como Israel previa.
Muitos intelectuais israelenses influentes duvidam dos resultados dessa autoinvestigação, e a mídia israelense ecoou muitas críticas sobre o modo como a investigação será feita – e mais críticas também se ouviram na mídia norte-americana, geralmente bem pouco crítica quando se trata de comentar atos do governo israelense. Para o jornal israelense Ha’aretz, a investigação “mais parece farsa, que investigação”. O Bloco da Paz, Gush Shalom, em requerimento à Corte Suprema, exigiu que a corte ampliasse o objeto da investigação e nomeasse comissão independente.
Então, segundo o Ha’aretz de 30/6, o juiz aposentado Yaakov Tirkel, nomeado para chefiar as investigações sobre os eventos da Flotilha da Paz “levou ao conhecimento do governo que a comissão não teria como fazer seu trabalho se não recebesse maiores poderes para investigar.” Recomendava que a comissão fosse convertida em “comissão de inquérito governamental com plenos poderes. Só assim a comissão terá autoridade para convocar testemunhas e requisitar documentos, alertar as testemunhas de que seus depoimentos implicam reais riscos para os que mentirem e contratar auditores especialistas em campos sensíveis.” Dia 4/7, o gabinete de Netanyahu aceitou introduzir algumas mudanças na comissão inicial de investigação. Dentre essas mudanças, destacam-se a autorização para convocar audit ores especialistas e a exigência de que as testemunhas deponham sob juramento. A investigação de fato ainda não começou e mantém-se como caso interno, submetida a vários impedimentos, dentre os quais, por exemplo, o impedimento de interrogar os soldados do exército que atacaram o Mavi Marmara.
O caso da Flotilha nada fez para melhorar as difíceis relações entre Netanyahu e Washington, motivo pelo qual ele mostrava-se tão ansioso por dar boa impressão ao encontrar-se com Obama na Casa Branca dia 6/7, o que o levou à disposição de ‘dar’ um pouco mais do que ‘tomar’, como sempre. Netanyahu disse que as negociações diretas com os palestinos podem começar ainda nesse verão, e pediu “passos concretos” para facilitar o processo de forma mais “robusta”.
Israel tem-se apresentado repetidamente como vítima de várias ameaças “existenciais” ao longo dos anos, a última das quais seria o Irã, mas, como já observamos, nenhuma ameaça existencial ameaça mais existencialmente o Estado sionista quanto a ameaça de perder o apoio irrestrito de Washington. Sabendo disso, Israel e seus dedicados apoiadores norte-americanos investem quantidades imensas de tempo e dinheiro para seduzir a opinião pública, trabalhando diligentemente para eleger deputados e senadores pró-Israel, e ativamente cultivando a própria imagem junto à Casa Branca e o Congresso dos EUA.
Apesar do incessante apoio que Israel continua a receber da Casa Branca, a maioria da população israelense desconfia do governo Obama, embora muitos judeus norte-americanos o apóiem. Por exemplo, segundo pesquisa feita em junho pelo Centro Mundial da Associação B’nai B’rith em Jerusalém, “65% dos judeus israelenses dizem que os judeus norte-americanos deveriam criticar mais a política de Obama para o Oriente Médio”. É conclusão obtida, em larga medida, de uma análise errada da política de Obama para o mundo muçulmano, de sua disposição para “conversar” com o Irã e resultado, também, da impaciência que Obama manifesta em relação a Netanyahu. Aqui, um resumo do que pensamos sobre esses três tópicos:
1. É óbvio que a abertura de Obama para o mundo muçulmano (no discurso do Cairo, há um ano) não passou de ato de relações públicas, que não implicou qualquer mudança na política dos EUA, além de uma mudança na retórica. O objetivo foi controlar a crescente oposição, pela comunidade religiosa islâmica, aos EUA – uma comunidade de mais de um bilhão de almas, num momento em que os EUA enfrentam guerras em vários países muçulmanos. O único objetivo da mudança de retórica foi, falando claramente, fortalecer o imperialismo norte-americano, muito mais do que enfraquecer Israel.
2. O tom de Obama em relação ao Irã é menos beligerante que o de Bush, porque as políticas de Obama (como as novas sanções) são tão agressivas quanto as de Bush. São, de fato, ainda mais agressivas, se se consideram o perigoso aumento de atividade da Marinha dos EUA no Golfo Persa e águas próximas, e o perigoso aumento no fluxo de provisões de guerra para a base dos EUA no Oceano Índico (que se discute na segunda parte, sobre os riscos que o Irã corre).
3. Obama espera pelo menos alguma pequena concessão de Netanyahu, quanto às construções em território ocupado, por exemplo, em troca da proteção de Washington –, mas o único objetivo de Obama é apertar o cerco contra os árabes.
O governo israelense está furioso com Washington também por causa do documento final que emergiu da reunião da ONU em maio, que durou um mês, para revisão do Tratado de Não-proliferação Nuclear, e que (1) exige que Israel assine o Tratado e (2) fixa a data para conferência regional, a acontecer em 2012, que discutirá a criação, no Oriente Médio, de território desnuclearizado. Quando a questão de Israel surgiu, na revisão do Tratado em 2005, uma das razões pelas quais não houve relatório final foi que o governo de George W Bush recusou-se a assinar qualquer documento em que houvesse qualquer referência a Israel.
Aqui está o problema de Israel: se assinar o Tratado de Não-Proliferação, Israel estará reconhecendo que possui enorme arsenal de armas nucleares, ou será acusado de boicotar o Tratado, o que também revelará ao mundo a quantidade astronômica de mentiras que Israel tem contado ao mundo, sobre suas armas nucleares. Além do mais, a conferência marcada para 2012, das nações do Oriente Médio, com certeza decidirá pelo banimento de todas as armas nucleares da Região – o que obrigará Israel a desmontar suas bombas atômicas, o que é pouco provável que Israel algum dia faça, ou exporá o Estado judeu como ‘bandido nuclear’. Há coisas demais em jogo, no plano político, nessa conferência nuclear, para que os EUA mais uma vez abortem todas as conclusões, perdendo espaço numa questão que é das que mais os EUA se empenham: o combat e à proliferação; tanto quanto é das questões que mais preocupam os EUA: não conseguir combater a proliferação nuclear. Os israelenses ficaram gravemente perturbados ao se verem postos entre a cruz e a caldeirinha nucleares. Para acalmá-los, os EUA divulgaram crítica à declaração da ONU por não ter explicitamente condenado o Irã, o qual, como todo o mundo sabe, não tem bombas atômicas.
Não só a Casa Branca, mas deputados e senadores, Democratas e Republicanos continuam a apoiar abertamente Israel, sem qualquer consideração à situação em que vivem os palestinos.
Em artigo publicado em meados de junho na sessão “Focus” da revista Foreign Policy, Stephen Zunes escreveu: “Líderes Democratas, além de seus colegas Republicanos, alinham-se no Congresso para defender o assalto israelense. Ao contrário do que dizem inúmeros especialistas internacionais, que o ataque foi flagrante violação de leis internacionais, importantes Democratas abraçaram a versão de que o ataque israelense (…) teria sido ato de legítima defesa. O movimento foi liderado, entre os Democratas, por Gary Ackerman, porta-voz não oficial dos deputados Democratas, sobre temas de política para o Oriente Médio. (…) Segundo Ackerman, as mortes foram “culpa e responsabilidade, completamente, dos que organizaram o comboio para romper o legítimo bloqueio que Israel e o Egito impuseram a o território de Gaza controlado por terroristas.”
No final de junho, 87% dos senadores norte-americanos e 307 dos 435 deputados assinaram carta enviada a Obama a propósito do ataque à Flotilha da Liberdade, em que declaravam “Apoiamos plenamente o direito de Israel à autodefesa”. Argumentavam que “os comandos israelenses que chegaram ao 6º navio [o Mavi Marmara] (…) foram brutalmente atacados com barras de ferro, facas e cacos de vidro. Foram obrigados a responder ao ataque, e lamentamos a perda de vidas que daí resultaram.”
A carta também elogiava a atitude de Obama “por evitar que o Conselho de Segurança da ONU aprovasse resolução injusta, que determinaria uma onda de recriminações pela comunidade internacional.”
Três nomes, no Congresso, empenharam-se muito na crítica ao ataque à Flotilha da Paz – Brian Baird, Keith Ellison e Dennis Kucinich. Kucinich escreveu carta a Obama em que diz: “Os EUA devem fazer ver a Israel [que] não se podem aceitar suas repetidas violações da legislação internacional (…) [nem] que o exército israelense atire contra e mate civis inocentes (…) [nem] que Israel mantenha um bloqueio que não permite a chegada a Gaza [nem] de um comboio de ajuda humanitária.”
Em abril, segundo artigo de Ben Smith em Politico, 76 senadores e 333 deputados “assinaram carta dirigida à secretária de Estado Hillary Clinton com reprimenda implícita ao governo Obama por adotar posição de confrontação em relação a Israel”, como se a Casa Branca não tivesse apoiado virtualmente todos os atos de Netanyahu, inclusive quanto apontou um dedo para o rosto de Obama ou publicamente ofendeu o vice-presidente Joseph Biden.
Nessa carta, os congressistas culpavam os palestinos pela interrupção das conversações e pela dificuldade para resolver questões cruciais, observando que “ao contrário disso, o primeiro-ministro de Israel declarou, abertamente, que está disposto a dar início a negociações de paz com os palestinos, sem impor qualquer condição”.
Os dois principais obstáculos à paz entre israelenses e palestinos são a decisão de Israel de não aceitar qualquer acordo, por legítimo que seja, que leve à criação de Estado palestino ou a qualquer solução de igualdade para os dois lados; e o apoio político, econômico e militar que Washington dá unilateralmente a Israel. Além desses, há outros dois importantes problemas que os palestinos também têm de enfrentar.
A ocupação por Israel e o governo israelense de direita que não quer negociar são dois grandes problemas que os palestinos enfrentam. Mas há dois outros grandes problemas.
O primeiro é a falta de unidade entre a Autoridade Nacional Palestina e o Fatah, ambos movimentos seculares, na Cisjordânia; e o Hamás islâmico, em Gaza. Os dois lados estão tão separados politicamente quanto geograficamente – evidência que Jerusalém e Washington vivem de explorar. O segundo problema é que, por mais que, em termos gerais, apóiem os palestinos, os países árabes entre eles estão divididos e são relativamente fracos, com vários deles incluídos na esfera de influência de Washington.
Israel e os EUA não reconhecem e não negociam com os líderes do Hamás, sequer com Ismail Haniyeh, escolhido primeiro-ministro depois das eleições democráticas de janeiro de 2006 para o Conselho Legislativo da Autoridade Nacional Palestina – antes daquela eleição controlado pelo Fatah. Naquelas eleições, o Hamas obteve 74 assentos com direito a voto no Conselho, contra 45 do Fatah, de um total de 132 membros eleitos. Quatro outros partidos conquistaram os assentos restantes.
Imediatamente o governo de George W Bush associou-se ao governo israelense em campanha para desacreditar o processo eleitoral que, para o ex-presidente Jimmy Carter e outros membros do grupo que fiscalizou as eleições, foi processo absolutamente limpo e perfeito. EUA e Israel, a partir de então, passaram a dedicar-se a derrubar o governo do Hamás, contra o qual Israel declarou-se (e assim permanece até hoje) em guerra.
No ano seguinte, conseqüência de virtual guerra civil entre o Fatah e o Hamas, o presidente Mahmoud Abbas da ANP – ex-líder do Fatah e presidente também da OLP – destituiu Haniyeh do cargo de primeiro-ministro. (Há anos, a OLP é reconhecida internacionalmente e por Israel, como “única representante legítima do povo palestino”.)
O líder do Hamás declarou ilegal a destituição e continuou a operar como primeiro-ministro só em Gaza, legalmente apoiado pelo Conselho Legislativo. Abbas, que recentemente anunciou que não planeja candidatar-se à reeleição nas eleições de janeiro próximo por não ver progresso nas negociações de paz, nomeou Salam Fayyad para o cargo de primeiro-ministro. Fayyad, assim, é primeiro-ministro na Cisjordânia, sem ter sido aprovado pelo Conselho Legislativo e, consequentemente, sem qualquer autoridade legal. É considerado simpático aos EUA, onde viveu e estudou (é PhD em economia, pela Universidade do Texas, em Austin, considerado economista competentíssimo.)
Ao longo dos anos, Israel meteu na prisão dúzias de deputados eleitos pelo Hamás, a maioria deles sem qualquer acusação formalizada. Pelo menos dez deputados eleitos pelo Hamás continuam presos em prisões israelenses. Segundo pesquisa divulgada dia 20/6, de pesquisador palestino, há hoje 7.300 palestinos em cerca de 20 prisões israelenses, dentre os quais 17 deputados, dois ex-ministros e cerca de 300 crianças.
Os EUA e Israel só negociam com Abbas, Fayyad e o governo da ANP. Sabem, é claro, que seus parceiros palestinos estão mais fracos hoje, se se considera o apoio popular de que gozava a ANP liderada pelo legendário Yasser Arafat até sua morte, há seis anos. Abbas, também por estar politicamente enfraquecido, tende sempre a fazer concessões a Israel e aos EUA.
As causas da divisão entre os dois lados da política palestina são complexas. Não se deve esquecer que, inicialmente, Israel estimulou o crescimento do Hamás, como alternativa ao Fatah secular e de esquerda liderada por Arafat. Hoje, o Fatah perdeu parte do apoio que tinha dos eleitores palestinos, e por várias razões, dentre as quais as contradições internas, rivalidades locais e a sempre referida corrupção interna. O Hamás, por sua vez, construiu extenso programa de bem-estar social e discurso eficiente de combate à corrupção e ao favoritismo. Esses dois fatores explicam o aumento do apoio popular de que hoje goza.
Para grande frustração de Israel, o Hamás revelou-se tão dedicado quanto o Fatah e a OLP à luta nacional palestina. E, diferente nisso da OLP, o Hamas não reconhece o Estado de Israel (ao qual se refere como “entidade sionista”) –, mas já declarou que essa posição pode ser negociada, em acordo equilibrado e mais amplo que se venha a construir. O Fatah tampouco reconhece Israel. De fato, pouco importa que um ou outro partido político não reconheça um Estado internacionalmente reconhecido. Reconhecer Estados é questão que se decide entre Estados, não entre partidos políticos. E deve-se esperar que qualquer Estado palestino que se venha a constituir e queira ser reconhecido terá de reconhecer Israel.
Atualmente, os dois grandes partidos políticos palestinos permanecem em campos opostos, por mais que concordem em vários pontos. Têm-se ouvido notícias, nos últimos meses, de que os dois lados estudam condições para uma reconciliação. Abbas disse que estaria disposto a enviar uma delegação do Fatah a Gaza para conversações; até agora o Hamás não aceitou a oferta. E também a Liga Árabe tem pressionado os dois lados para que trabalhem em direção à unidade.
Parece claro é algum tipo de unificação entre o Fatah e o Hamas, no contexto da ANP e da OLP, é indispensável para que o povo palestino alcance seus objetivos. A necessidade, mais dia menos dia, talvez empurre os dois lados na direção de trabalho cooperativo, sobretudo no caso de se iniciarem negociações sérias, que comecem a tornar possível a criação de um Estado palestino independente.
O segundo grande problema que os palestinos enfrentam é a falta de união dos países árabes e a inexistência de qualquer objetivo comum entre eles. Israel sempre trabalhou muito para dividir os palestinos. E os EUA sempre trabalharam muito para dividir os países árabes – ou, no mínimo, para atraí-los à esfera de superpoder de Washington, processo que, até aqui, parece bem-sucedido.
Um dos objetivos centrais da estratégia de Washington é, como sempre foi, garantir, para os EUA, o controle do Oriente Médio. Hoje, pelo que se pode ver, os EUA trabalham para reduzir a questão Israel-palestinos a proporções controláveis, para salvar Israel e manter Israel onde está – como sentinela avançada dos EUA no extremo leste do Mediterrâneo, junto ao Golfo Persa, a caminho do petróleo que avança para leste, e do norte da África, com o canal de Suez a oeste.
As relações entre os Estados árabes é questão extensa demais para esse ensaio generalista, mas é preciso registrar aqui alguns traços das relações que há entre alguns países árabes chaves e o conflito Israel-palestinos – conflito que se arrasta por mais de 60 anos.
Todos os países árabes apóiam os palestinos: uns só retoricamente; outros também materialmente. Mas bem poucos, hoje – vinte anos depois do colapso do primeiro projeto socialista global que apoiava as aspirações dos palestinos – estão dispostos a abraçar os riscos políticos de lutar por um projeto nacional palestino, dados os altos riscos de incorrer na Ira de Washington, em mundo ainda unipolar.
Só dois países árabes mantêm relações diplomáticas com Israel – o Egito e a Jordânia – e ambos têm fronteiras com os territórios palestinos. Na maioria dos casos, as relações entre os demais países árabes e Israel são mais distantes, mas já não são de antagonismo.
Pode ser interessante observar que os EUA garantem subsídios anuais aos dois países árabes que reconhecem Israel. Para o Egito, esse ano, de 1,3 bilhão de dólares; para a pequena Jordânia, 540 milhões de dólares.
O Egito é o mais poderoso dos países árabes, com população de mais de 80 milhões de habitantes, e ainda muito influente na Região. Mas longe vão os dias em que o governo do Cairo aspirava a liderar as nações árabes sob a bandeira da luta anticolonial e panarabista, tudo isso arrastado pelos ventos do deserto, junto com o exército egípcio, que foi importante, mas já não é.
Cairo hoje está bem firmemente aderida à órbita de Washington – e, por extensão, à órbita de influência de Israel. O regime do presidente Hosni Mubarak opõe-se furiosamente ao Hamás, por causa das íntimas relações que ligam o Hamás e o principal agente da oposição interna, inimiga do governo de Mubarak – a Fraternidade Muçulmana. Sem o Egito, praticamente não haveria hoje o bloqueio de Gaza.
Depois do fiasco de Israel no ataque, com mortes, à Flotilha da Paz, o Egito foi obrigado a abrir a Passagem de Rafah, alguns instantes antes de Israel anunciar que removeria alguns dos pontos de controle de fronteira, como parte de um movimento inicial para reduzir o bloqueio de Gaza. Esses pontos de controle de fronteira, como a Passagem de Rafah, são as únicas vias que há para entrar e sair de Gaza. E o acesso por mar continua fechado, policiado pela marinha israelense.
Mubarak chegou aos 82 anos de idade e 29 de governo sob contínuo estado de emergência, que lhe assegura poderes excepcionais e reeleição repetida, sem adversários. A próxima eleição está marcada para 2011, e Mubarak ainda não se declarou candidato. Mohamed ElBaradei, o qual, ano passado, aposentou-se do cargo de presidente da Agência Internacional de Energia Atômica, é candidato possível. Não é candidato preferido nem de Washington nem de Jerusalém – que gostariam que a IAEA tivesse sido muito mais dura contra o Irã. Há boatos de que Mubarak estaria trabalhando para eleger o filho, Gamal. Nada sugere que as eleições no Egito alterem alguma coisa nas relações com Israel, mas, isso, não se pode prever.
A Jordânia, com sua grande população de palestinos, está no bolso de Tio Sam, porque é pequena, fraca e sem saber como se decidir entre o Fatah e o Hamás. A família haxemita reinante cruzou espadas dramaticamente com a OLP, ao atacar grupos palestinos militantes em setembro de 1970 (para os palestinos, o “Setembro Negro”). Em julho de 1971, as várias organizações reunidas sob a bandeira da OLP foram expulsas da Jordânia e muitos militantes encontraram refúgio no Líbano, onde foram outra vez atacados quando Israel invadiu o país em 1982.
É possível que o rei Abdula da Jordânia tema que, tanto um Estado palestino vizinho secular democrático quanto um Estado palestino vizinho islâmico ataquem, com igual probabilidade, sua monarquia. O rei Abdula trabalhou com o presidente Obama dos EUA, para desenvolver o conceito de Estado palestino sem forças armadas.
O reino da Arábia Saudita tem recebido proteção dos EUA desde o final da II Guerra Mundial, em troca da garantia de livre acesso ao petróleo, o que garante a sobrevivência da família real e sua forma especial de Islã sunita, o Wahhabismo. O governo saudita ajudou financeiramente os palestinos e apóia várias das posições políticas da OLP, mas a íntima associação com Washington faz dele aliado pouco confiável. Os sauditas não mantêm relações diplomáticas formais com Israel, mas suas relações são de amistosa cooperação. Um Estado palestino independente e moderno, seja sob liderança do Fatah, seja sobre governo islâmico, de sunitas de outro tipo, sempre será problema para a Casa de Saud e limita o apoio que os palestinos podem esperar da Jordânia.
Os Estados árabes do Golfo, ricos em petróleo, entre os quais se inclui agora também o Iraque pós-Ba'athista (o qual, antes da invasão de 2003 pelos EUA, era forte defensor dos objetivos palestinos), todos, dão hoje uma banana à causa palestina, porque já se renderam ao poder global de Washington.
A Síria é empenhada defensora dos palestinos que apóia de vários modos e mantém relações cordiais com o Fatah e com o Hamás, mas não tem meios para enfrentar a supremacia militar regional de Israel e a exigente presença dos EUA, e é obrigada a manter-se em posição relativamente obscura. O principal interesse do presidente Bashar al-Assad é negociar um tratado de paz com Israel que leve os israelenses a devolver à Síria as colinas do Golan e preserve a influência histórica da Síria no Líbano. O presidente opôs-se fortemente à invasão israelense ao Líbano em 2006 e expressou admiração à resistência liderada pelo Hezbollah, organização popular xiita apoiada pelo Irã.
O Líbano, pequeno e sofisticado, foi inúmeras vezes cenário de guerra para os israelenses, o suficiente para sempre atrair a ira de Israel. Alguns analistas entendem que Israel encontrará algum pretexto para nova invasão ao Líbano, exclusivamente para novamente tentar destroçar o Hezbollah, força de defesa não-estatal de muçulmanos xiitas que conseguiu resistir aos israelenses e os obrigou a retroceder em 2006. Os militaristas israelenses não admitem a derrota ante o Hezbollah e, para muitos, continuarão a tentar estabelecer pleno controle sobre o Líbano. O ataque de Israel ao Líbano custou a vida de 1.183 civis libaneses; cerca de 4.000 feridos; e mais de 30 mil famílias perderam as casas, total ou parcialmente destruídas. Durante o mês de guerra, o Hezbollah lançou milhares de foguetes não orientados, a maioria dos quais sem qualquer efeito, embora assustadores, contra Israel, matando 36 civis. Não se conhece o número de baixas do Hezbollah. E Israel perdeu 118 soldados.
Os demais países árabes, incluindo Estados que foram radicais, como a Líbia, continuam a apoiar as ambições palestinas e votam nessa direção nas assembléias da Liga Árabe, mesmo que pouco façam, além disso, para promover a causa palestina.
Assim se chega aos dois coringas que ainda jogam na Região – nenhum dos quais é árabe – e que têm potencial para complicar muito o jogo EUA-Israel no Oriente Médio.
Um desses coringas é a Turquia, militarmente forte, vastamente ocidentalizada, república democrática secular de cerca de 78 milhões de habitantes, a maioria dos quais são muçulmanos sunitas.
O outro coringa é o Irã, república islâmica já muito modernizada, de mais de 67 milhões de habitantes, a maioria dos quais são muçulmanos xiitas.
Nos dois casos, são sociedades maduras cujo passado histórico guarda a experiência de terem controlado impérios – respectivamente, o império otomano e o império persa. Os dois países são estrategicamente situados: a Turquia, entre a Europa e a Ásia; o Irã, entre a Ásia Central e o Oriente Médio.
__________________________________________________________________________
[1] Em http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Gaza_Movement
[2] Em http://en.wikipedia.org/wiki/IHH_(Turkish_NGO)
Fonte: Asia Times Online
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/LG08Ak01.html.
Jack A. Smith é editor de Activist Newsletter e ex-editor de Guardian Radical Newsweekly.
Tradução: Caia Fittipaldi