Coligações e federalismo brasileiro
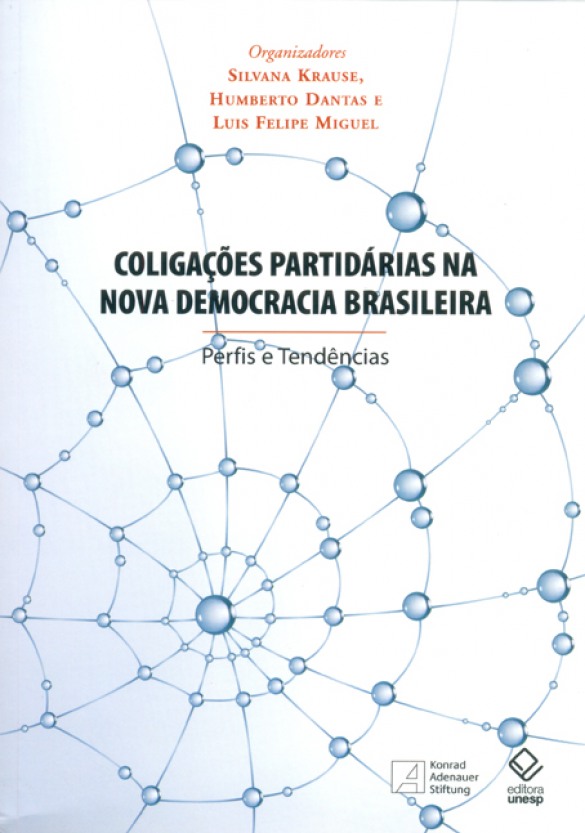
Embora não ofereça conclusões políticas unívocas, propõe instrumental metodológico e teórico importante para o debate do tema, desde as eleições presidenciais até as de vereadores, ao tempo em que alguns pretendem reduzir a chamada reforma política meramente ao fim das coligações. Muitos têm argumentado que isso seria uma medida antidemocrática; poucos discordariam da hipocrisia que representaria perante debate tão importante para a vida nacional.
As coligações são instituídas na legislação ligadas à autonomia dos partidos políticos e deriva do que está vigente na Constituição Federal. Não são obrigatórias, por suposto, mas são livres entre os partidos. A lei eleitoral equipara-as a partidos políticos que concorrem às eleições no cálculo das vagas auferidas pela votação (esse argumento foi utilizado no STF quando deliberou sobre a quem pertence a vaga de um representante que mudou de legenda). Tudo bem sedimentado, portanto.
Pragmatismo e ecletismo são palavras sempre associadas às coligações na mídia. Argúi-se que elas produzem distorção da representação, ao transferir votos do eleitor a nomes que ele não pretendia; aumentaria o número de partidos, produzindo fragmentação e dificuldades à governabilidade. Em síntese, dispersariam o quadro partidário brasileiro, associando-as à fragilidade identitária/ideológica dos partidos políticos.
São argumentos no mínimo unilaterais; melhor dizendo, reducionistas. No sistema eleitoral brasileiro, de lista aberta e financiamento privado, as vagas são preenchidas pela votação obtida pelos partidos/coligações, fazendo com que, no interior deles ou delas haja uma concorrência universal entre os próprios candidatos. Tanto faz se o eleito será do mesmo partido ou coligação: em qualquer dos casos, o eleitor poderia estar elegendo alguém “não pretendido”. Esclareça-se que ao eleitor é dado conhecer a regra. Há na argumentação ecos de que o problema, no fundo, é o eleitor, tão recorrente no pensamento conservador brasileiro.
Quando se diz que há excessiva fragmentação do quadro partidário, atribuída aos pequenos partidos, é preciso perguntar: excessivo frente ao quê?, para quem?, comparado com o quê?
Em 2002, por exemplo (não tão diferente dos resultados psoteriores) 17 partidos alcançaram representação federal na Câmara dos Deputados, sendo que 87% dos eleitos o foram por coligações. Em 16 Estados 100% foram eleitos por coligações. Em 2006 foram eleitos 80% dos deputados integrando coligações. Quanto às eleições para Assembleias Legislativas, em 2006 nada menos que 71,5% foram eleitos por coligações. Isso significa que com o fim das coligações pretende-se a “engorda” dos chamados grandes partidos.
Mas a “grande mazela” do sistema, que seriam os “pequenos partidos” (por definição os que têm menos de 1% dos votos federais), esses não poderiam ser responsabilizados por muita coisa, pois não passam de 13 que tiveram tão somente 118 vitórias em 2008 nas eleições a prefeito, nem 4% das prefeituras brasileiras! Enquanto isso, um estudo contido no livro citado mostra um dimensionamento da “dispersão” que não é tão grande assim: nove partidos conquistam entre 93,3% dos governadores, 91,3% dos senadores, 88,7% dos deputados federais, 83,6% dos estaduais, 91,1% dos prefeitos e 86,2% dos vereadores. Vê-se, assim, até o contrário: uma clara concentração nas grandes legendas.
O sistema partidário-eleitoral brasileiro já tem cláusulas de barreira poderosas. A constituição de partidos é nada menos que bastante exigente; necessita-se do “caráter nacional” em termos de requisitos para a fundação de partidos e de votação obtidas por eles. A maior é a barreira do quociente eleitoral, que atinge em cheio os chamados “pequenos partidos”. Para vereadores, por exemplo, a barreira vai de 11,1% da votação onde o número de vagas é nove até 1,8%, no caso de São Paulo com 55 vereadores. O pior: os que não alcançam o limiar nem sequer disputam as vagas sobrantes.
Um intento restritivo foi derrotado democraticamente no STF, quando se derrubou a cláusula de 5% mínimo dos votos federais para ter direito à representação parlamentar no Congresso. O argumento que imperou foi o de que se atentava contra a pluralidade e o direito das minorias, tão caro a uma nação como a brasileira.
Nem tão disfarçadamente, portanto, o que se pretende com o fim das coligações é “enxugar” o número de partidos políticos. Artificialmente, por suposto. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com as tentações salvacionistas que partem de uma leitura unilateral da realidade política.
Os sistemas político-partidários são plasmados ao longo do tempo por sistemas eleitorais. Partidos, lealdades, identidades são expressão concentrada da história de nossa sociedade, suas características, conflitos, grau de amadurecimento das identidades sociais. Sabe-se, por exemplo, que sistemas de votação majoritária puros (como os pretendidos por algumas parcelas do PSDB) produzem sistemas bipartidários. Na Inglaterra ele deriva de raízes provindas so século 13 e 14. No Brasil, exemplo mais recente foi a introdução da regra da verticalização das alianças, em 2002. Decidida pelo STF – inclusive à revelia da lei que impede alteração de regras eleitorais há menos de um ano dos pleitos – pretendeu erigir o “caráter nacional” dos partidos políticos, inscrito na Constituição Federal, art. 17, inciso I (segundo argumento do então Ministro Nelson Jobim, contrapondo-se a Sepúlveda Pertence que arguiu a autonomia dos partidos políticos para estabelecer ou não alianças). Até onde se pesquisou, a verticalização teve o efeito de reduzir as candidaturas presidenciais (as chamadas coligações brancas à presidência, menos transparentes ao eleitorado) e aumentar o número de partidos que têm representação no Congresso. Produziu um quadro de alianças informais nos Estados e foi uma medida do Judiciário que criou tensões com o Legislativo.
Uma questão de fundo sobre o sistema político-partidário brasileiro, particularmente quanto às coligações, é que ele infere o federalismo brasileiro, com regionalização das disputas partidárias. Os Estados subnacionais têm grande relevância, dadas as dimensões continentais do país e a história de sua constituição enquanto nação, e os municípios constituem a base do sistema político-administrativo. É um fato da gênese real da democracia brasileira. Os cientistas políticos Lavareda e Nicolau indicam que eleições de deputados federais e de Governadores de Estados são interligadas, com correlação estatística significante. Ou seja, o multipartidarismo no Legislativo é determinado pelo grau de coincidência entre eleições Governador e Congresso: as eleições subnacionais influenciam resultados nacionais do Congresso. Eles indicam que isso é próprio do Brasil e também da Argentina. Outros estudos de Nicolau mostram correlação estatística significante entre as eleições de base a prefeitos e vereadores e o número de representantes federais e estaduais eleitos no pleito proporcional.
Quer dizer, coligações e federalismo não são algo marginal, mas algo instituído a fundo na realidade política brasileira. Há um senso comum fabricado pelos monopólios midiáticos conservadores contra as coligações. Como tudo em política, esse tema está imbricado com opções ideológicas menos ou mais explícitas. É preciso partir da singularidade brasileira e não assentá-la em modelos alheios a ela.
Para a cientista Socorro Braga as coligações proporcionais não são responsáveis pela fragmentação do SP, mas ao contrário: “inseridas nas regras eleitorais contribuem para a proporcionalidade e pluralidade do SP”. Essas são palavras-chave da democracia brasileira: proporcionalidade e pluralidade. Agregue-se que o sistema tem que permitir-estimular renovação em uma democracia que ainda não terminou a adolescência como é a nossa. Como se sabe, ela teve um experimento moderno de dezenove anos apenas, de 1945 a 1964, e há vinte e seis anos desde 1985 até hoje.
É certo que há falta de identidade de perfil ideológico em vários partidos e, ademais, estes não têm o mesmo perfil em cada unidade da federação. Mas atribuir isso às coligações é uma inversão e vai de acordo com a velha tentação que não funcionou até agora: vai se impor essa identidade? Quem vai fazê-lo? Diz-se que as coligações são incoerentes. Mas para os partidos que são coerentes elas têm sido consistentes. Aliás, as mais inconsistentes são para governadores, mostrando o peso do federalismo brasileiro. A inconsistência foi elevada pela mudança de padrão do PT no período após chegar à presidência em 2012. É a maldição de grande partido brasileiro: chegado ao poder e levado a interiorizar mais sua inserção e maximizar conquistas, amplia o pragmatismo nas alianças. Cabe ao eleitorado julgar, e a regra brasileira não é má.
Na tradição do sistema eleitoral, os maiores beneficiados pelas coligações não são os partidos menores para a representação proporcional, mas os candidatos majoritários dos grandes partidos, em geral. A votação em lista aberta é que estimula as coligações proporcionais para os partidos menores. Para os primeiros, trata-se de aumentar apoio local e impedir apoios ao adversário, além de auferir maior tempo de TV e recursos humanos para as campanhas a partir dos partidos aliados. Para os pequenos, dado que a lista aberta forja concorrentes dentro da própria chapa, trata-se de maximizar votos para obter maior número de assentos.
Um exame multilateral tem que levar em conta que pretender “encaixar” isso tudo num experimento “vertical” a partir de cima, coloca questões intransponíveis a partir de um ponto de vista democrático. A emenda pode sair pior que o soneto: proibir coligações conspurca ainda mais as identidades partidárias, posto que os interessados em eleger-se teriam que ingressar em legendas que alcancem o quociente eleitoral, fortalecendo os “partido-ônibus”. O grave também é que dificultará mais e mais a renovação dos quadros políticos, pois que será menor a emulação e disputa entre elas e as lideranças consagradas dos grandes partidos. Os grandes já foram médios ou pequenos, como o atesta a experiência recente do PSDB e do PT.
O fim das coligações seria um oportunismo político flagrante se a isso fosse reduzida a “reforma política”. Ganhariam as grandes legendas e os candidatos majoritários estaduais já consagrados. Perderiam o pluralismo e a renovação de quadros políticos. Ganham ênfase as candidaturas presidenciais e de governadores, perdem os prefeitos da grande maioria dos municípios, geralmente às voltas com um quadro polarizado entre poucas figuras (ou famílias muitas vezes), impossibilitados de ampliar apoios no caso do fim da regra atual. A base do sistema fica congelada. Os partidos ficariam “inchados” com diluição ainda maior de sua identidade.
À questão da proporcionalidade e do pluralismo como melhor forma de representação do povo brasileiro no sistema político, a outra chave da democracia é o fortalecimento dos partidos políticos. Um exame menos reducionista indicaria, para isso, num ambiente democrático, mantido o sistema proporcional e coligações livres sob arbítrio dos partidos autônomos, a medida do voto em lista e financiamento público exclusivo. Sabe-se que voto em lista também não é tradição de nosso eleitorado, mas o experimento tem claro sentido de fortalecer os partidos, aliás como ocorre com legendas de esquerda – PT e PCdoB particularmente – que mantêm identidade mais clara perante o eleitorado, mesmo quando realizam coligações, e um perfil político perante o eleitorado mais ou menos definido em todas as unidades da Federação.
Democracia é sempre muito complexa e custosa. É plasmada pela experiência histórica e social. Querer “simplificá-la” é pô-la no espartilho; nem a ditadura logrou êxito nisso. Cálculos políticos de ocasião são atalhos perigosos. Vamos dar tempo às regras democráticas para produzir todos seus efeitos. O Brasil precisa de pluralismo e o direito das minorias são sempre importantes. Afinal, democracia é assegurar o direito de todos. Mais adiante será o caso de examinar também o problema da alternância de datas entre eleições locais e eleições nacionais.
_____________
Fonte: Blog do Sorrentino





