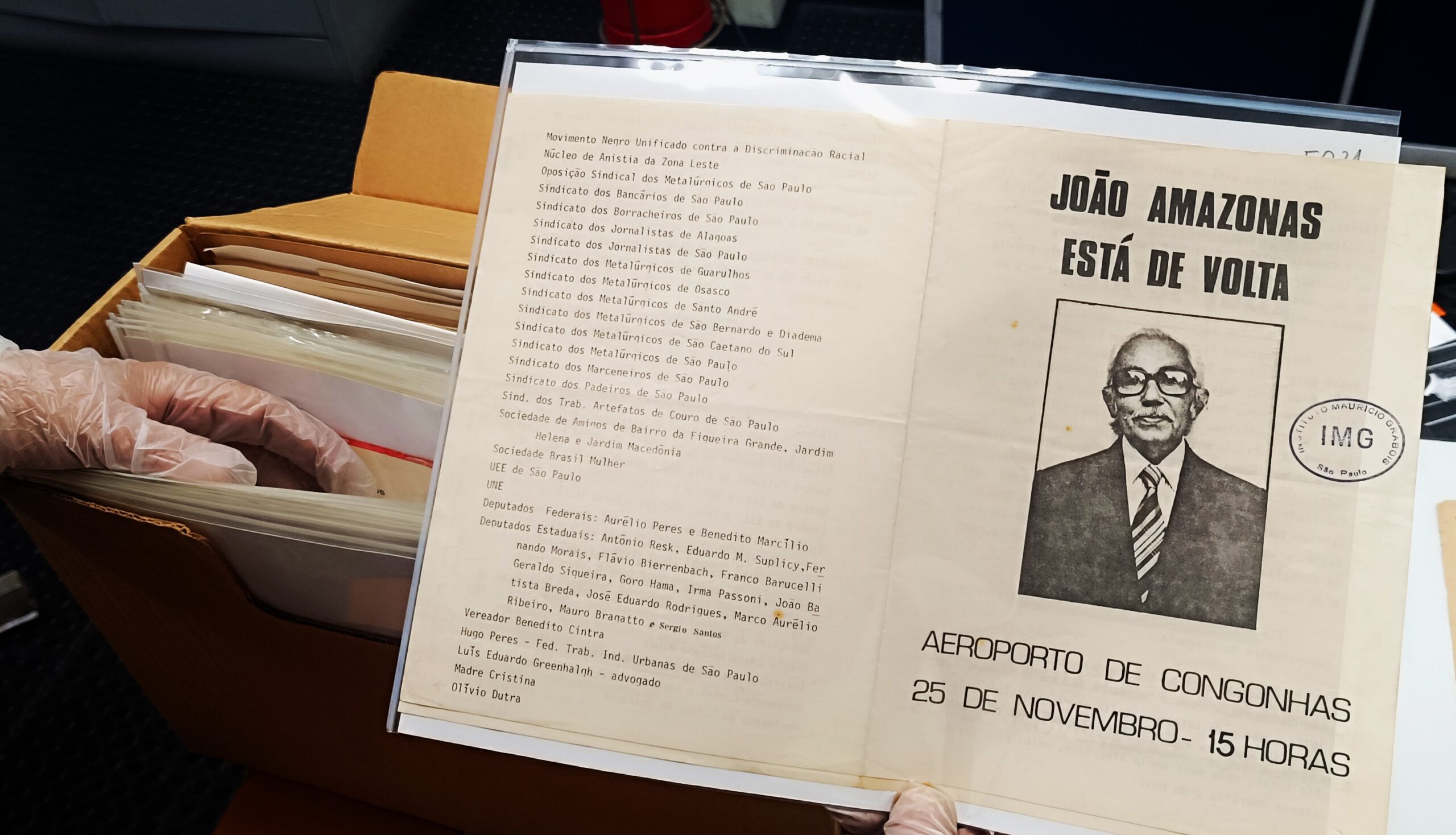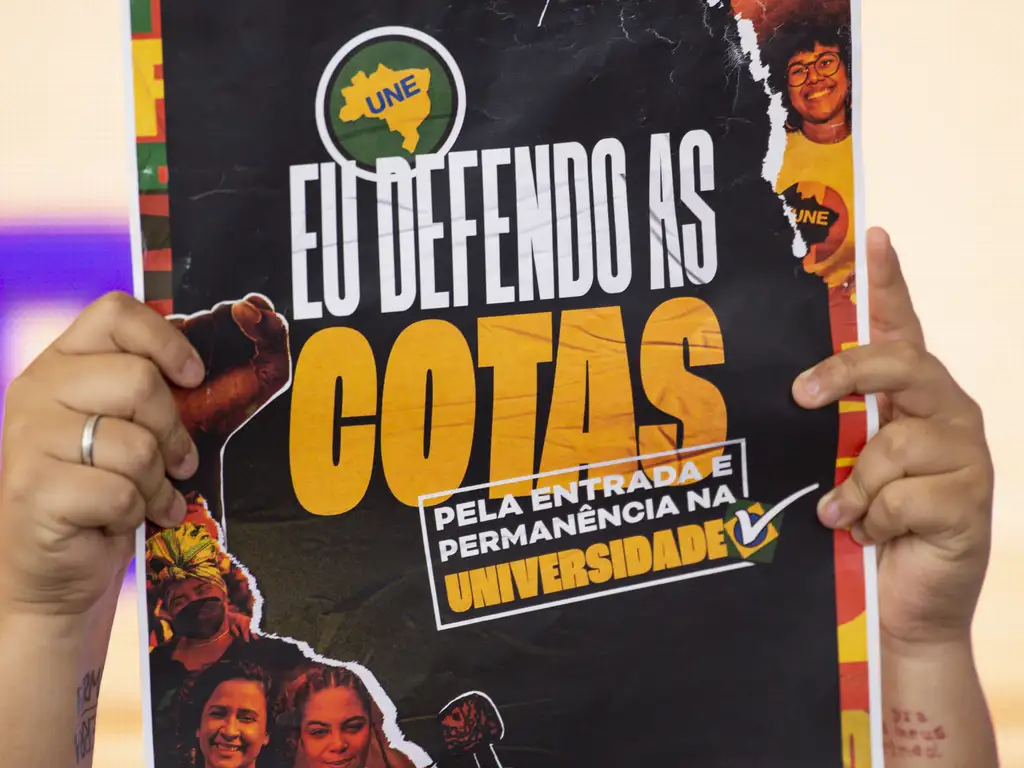Exercício pra domesticar Jurupari
Pela TV fui sabedor de um tumulto dos diabos ocorrido durante festival do açaí na cidade de São Sebastião da Boa Vista, na ilha do Marajó, na virada de sábado para domingo 11 de setembro de 2011. Não foi a primeira nem será a última revolta popular com vingança do povo contra o próprio patrimônio…
Acho que de tanto ouvir falar de terrorismo de 11 de Setembro, primeiro em 1973 em Santiago do Chile e há dez anos em Nova Iorque; meu pesadelo do tempo de infância voltou. Eu não me esqueço que no dia 24 de agosto o Diabo em Paris provocou a matança dos protestantes pelos bons católicos na noite de São Bartolomeu. Não sei como nem porque a tragédia de Paris veio parar no Pará velho de guerra. Só sei que foi assim…
Paresque com a catequese colonial cristã, pajés sacacas da ilha do Marajó, em luta de resistência e contra-propaganda, por acaso, domesticaram o Capeta fazendo-o trabalhar, em figura do folclórico Berto, pelo bem-estar dos cabocos ribeirinhos. Como todo mundo sabe, o Berto (codinome marajoara do Cramunhão) dá folga ao trabalho dos cabocos no dia 24 de agosto quando o ele mijar ao pé de touças de açaizeiros na varja pra fazer o açaí amadurecer e pretejar na safra por igual.
Na safra do açaí criança de colo fica parruda, caboco vê a cor do dinheiro e caboca, feliz da vida, compra saia de chita para ir à festa na cidade. Talvez noutras partes do mundo o Diabo não seja tão feio como o pintam, porém na ilha do Marajó Deus e o Diabo fazem acordo particular por alguma razão oculta.
Da parte que me toca neste latifúndio metafísico, fiquei sabendo que não foram índios nem pretos inventores dos infernos, sobretudo o tal inferno verde. Muito menos Jurupari – o espírito que fala e ri pela boca do pajé – é demônio. Seja como for, de tempos em tempos tenho pesadelos que, em tempos mais antigos, certamente passaram a muita gente como deuses ou diabos…
Agora que fui iniciado por conta própria na arte de Freud sei que apesar do disfarce posso adivinhar o antigo Jurupari pelo seu pé de cabra descoberto no pesadelo. Achei Freud mais complicado que o cabeçudo “O Capital” de Marx, até hoje só entendi este através de terceiros. Como estudantes da Torá carecem de doutores da lei para dar os primeiros passos nas sutilezas divinas.
Cheguei a Freud por acaso, como tudo que tem graça em minha vida. Estava eu às margens do famoso rio onde as almazonas plantaram a principal lenda do país do El Dorado, o Nhamundá ou Jamundá. Não fui lá exatamente mergulhar nas águas lendárias do lago Espelho da Lua e ganhar muiraquitã de lembranças de um encontro de amor com uma icamiaba… Fui sim por precisão de emprego, depois que fiquei na rua da amargura após bela quixotada nas terras baixas do dito rio grande (pulo este pedaço da história por economia de espaço).
Só vos digo que foi a Faro transplantado de Portugal ao Pará e que foi lá que conheci Freud apresentado pela doutora Karen Horney… Claro, ambos já estavam mortos. A cidadezinha dormia a sesta da eternidade e eu senhor da ociosidade dos justos deitava e rolava numa pequena biblioteca mandada rio acima pela falecida SPVEA fazer o desenvolvimento da Amazônia, antes de alfabetizar os descendentes das tribos extintas.
Como diria Oswald de Andrade, devorei Freud e a doutora Horney duma só assentada. A antiga aldeia do Jamundá não é terra fácil de conquistar, lá se não é verdade que as amazonas existiram algum dia, em compensação são as mulheres que mandam em suas casas. E se o macho se mete a besta com uma delas, tem por perto um tia velha senhora de certos mistérios pra fazer homem chocar caroço… Eu não choquei e nem vi ninguém na chocadeira, mas que tinha lá quem furasse que o dito era verdade, lá isso havia.
O certo é que Faro é uma mina fora de série onde o divino maravilhoso do ultramar e o realismo mágico do inferno verde fazem vizinhança e, às vezes, boa camaradagem. Naquele paraíso neotropical eu ficaria se pudesse ou tivesse tido merecendência. Porém o purgatório me chamava para o mal de meus pecados e assim eu tive que retornar aos pagos para sair novamente que nem o Cavaleiro da Triste Figura a conquista do mundo e procura do amor incomparável de Dulcinéia.
Eu nunca perguntei a pajé verdadeiro o que ele acha de Freud ou mesmo do amaldiçoado Jurupari. Se não perguntei quando devia, então agora mesmo é que não o farei, pois acabo de me lembrar de um conto no qual certo camponês tirava catarata com canivete… Coisa absurda, porém infalível. Se um velho da roça andava quase cego pela idade, lá ia ao curandeiro e zás, voltava pela estrada vendo até rastro de formiga.
Ora, aquilo era escândalo e vexame da medicina em todas as redondezas. Então, os doutores formaram conselho e chamaram o curandeiro a uma conversa amigável antes de qualquer outra providência. O fizeram ver um olho humano ao microscópio e o pobre ignorante pondo-se a tremer ao ver o risco de cegar definitivamente a alguém; declarou que já não sabia mais operar.
Assim, eu que talvez tivesse sido um razoável curandeiro em minha terra, não irei confundir a cabeça de um qualquer pajé-açu de honesta pajelança que ainda resta em algum canto; e perguntar a ele sobre o que os padres e pastores evangélicos fizeram à santidade natural dos índios e aos orixás e vóduns dos negros africanos. Ou, pior, o que sabem a respeito desta verdadeira terra de ninguém, sempre oculta na mente; a que chamam de Inconsciente.
Que nem o curador de aldeia confrontado ao microscópio, aí de mim, já não sei interpretar meus próprios sonhos e pesadelos ao modo antigo dos pajés, que eram capazes – diz a antropologia – de domesticar seu próprio caruana ou demônio particular, como diria o sofista Sócrates. Tampouco eu cheguei a ser psicólogo ou psicanalista. Mesmo assim, me arvoro às vezes a encarar meus próprios pesadelos por um método pessoal, no qual a velha arte dos pajés e tinturas psicanalíticas quebram galho.
Feito isto digo que meu Jurupari particular antes descia como sombra pelo punho da rede e me tirava a fala. O pirralho que eu era queria pular fora da rede e sair gritando, mas não podia. Depois de muita luta, que nem Jacó na Bíblia contra seu inimigo desconhecido, que se revela ao alvorecer como Javé dos exércitos; quando finalmente me livrava gritava “mamãe!”. Coração aos pulos, lavado em suor, a voz de minha mãe me acalmava dizendo, “foi só um pesadelo”. E o dia amanhecia feliz, nossa casa no interior era a porta do paraíso. A mata com igarapé junto à rua e nos fundos do quintal imenso a própria floresta amazônica de minhas primeiras imaginações.
Talvez fosse dali, pelas ramagens do parrudo tamarineiro para o telhado da morada, que a sombra da primeira noite do mundo penetrava a casa e o pesadelo vinha pelo punho da rede puída. Quando cresci, o truque do Jurupari já não surtia efeito. Muitas vezes o pesadelo adquiria figura de Boi-Bumbá e podia ser, na verdade, lembranças das matanças de gado no curro municipal no bairrozinho do Fim do Mundo que eu assisti em tenra idade. A figura taurina é símbolo de força, daquela arrogância da oligarquia que nos esmagava no labirinto das ilhas. Onde o Minotauro se escondeu depois de seguir o trilho das naus, com os primeiros casais dos Açores enganados pela falsa propaganda da colonização dirigida aos pobres de Portugal… Claro, os padres franceses diabolizaram o Jurupari dos índios. E as criancinhas ribeirinhas penaram e penam ainda muito mais no paraíso perdido.
José Varella, Belém-PA (1937), autor dos ensaios "Novíssima Viagem Filosófica", "Amazônia Latina e a terra sem mal" e "Breve história da amazônia marajoara".
autor dos ensaios "Novíssima Viagem Filosófica" e "Amazônia latina e a terra sem mal", blog http://gentemarajoara.blogspot.com