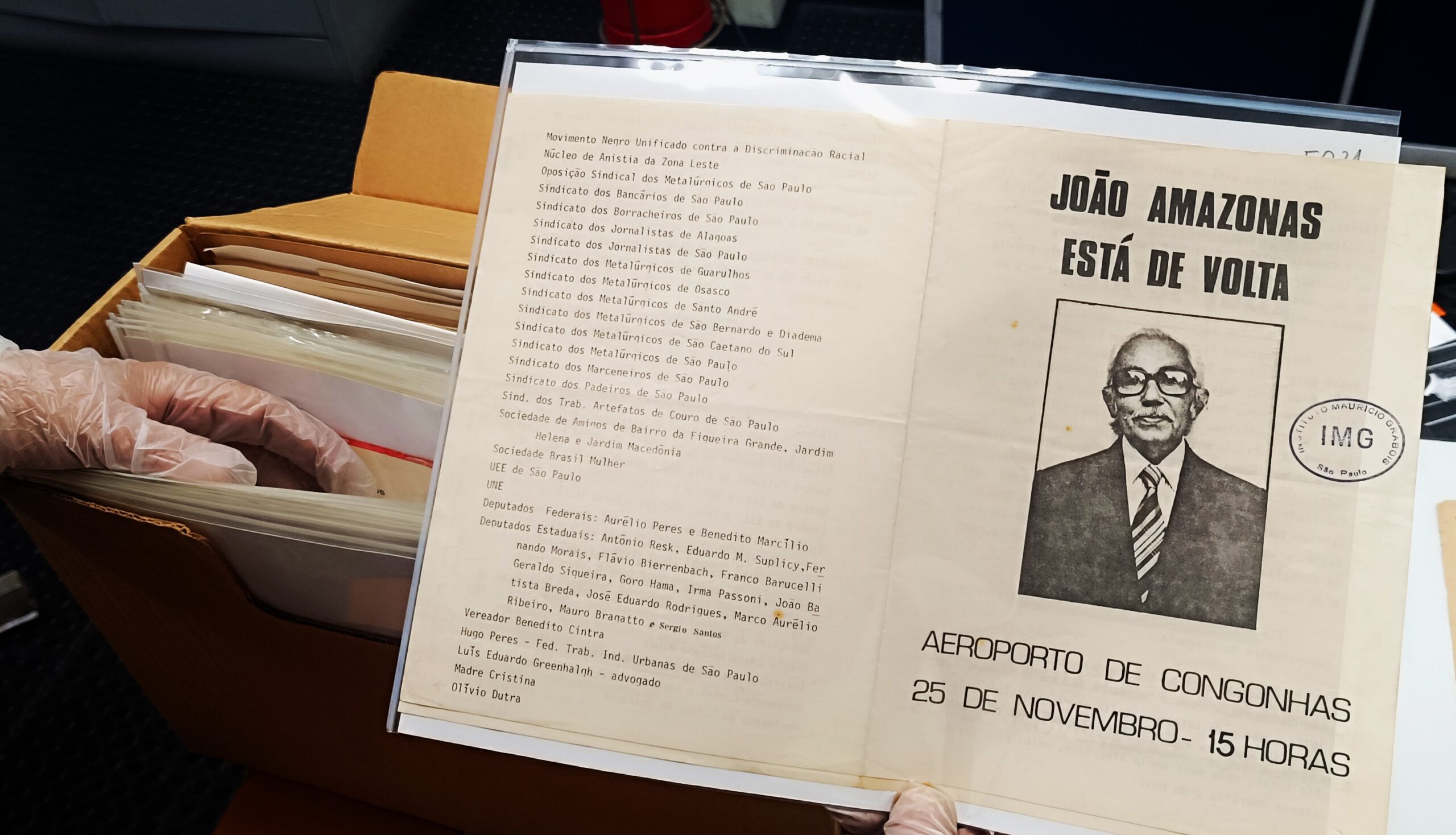Agora as páginas de economia dos grandes meios de comunicação já começam a definir os itens da pauta prioritária das demandas do financismo para os meses que se aproximam. Uma leitura atenta do foco apresentado pelos chamados “especialistas” de plantão do setor financeiro, sempre chamados a dar sua opinião sobre o desempenho da economia, começa a criar uma espécie de unanimidade em torno do tema da vez. O escolhido parece ter sido a inflação. Assim, há uma grande probabilidade de que esse seja o principal gancho, nessa eterna tentativa de recolocar a ortodoxia no centro do palco.
O receio justificado da inflação
O tema assusta parcelas expressivas de nossa sociedade, que guardam ainda em sua memória os duros períodos de inflação crônica e elevada – combinados com momentos mesmo de hiperinflação – que o Brasil atravessou a partir do final da década de 1970. E, diga-se de passagem, com razão. Houve várias tentativas de planos de ajuste econômico, com congelamento de preços e incluindo a criação de novas unidades monetárias. Plano Cruzado I, Plano Cruzado II, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor I e Plano Collor II.
As moedas também foram muitas: cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, novo cruzeiro, cruzeiro real e real. Ufa! E em várias das mudanças do padrão monetário as novas denominações perdiam 3 zeros. Tempos difíceis, em que os preços eram reajustados diariamente e a população de baixa renda não tinha meios de se defender da corrosão do poder de compra dos salários. Apenas os setores de renda mais elevada conseguiam proteger-se das perdas, por meio das aplicações cotidianas no mercado financeiro.
No entanto, o controle efetivo do crescimento dos preços só veio a ocorrer a partir de 1994, com a edição do Plano Real. A inflação caiu de forma expressiva desde então, mas os efeitos da verdadeira estabilidade só se fizeram sentir a partir de 2005, período em que a inflação anual nunca mais superou a meta oficial estabelecida pelo próprio governo. Não cabe aqui nesse reduzido espaço uma avaliação a respeito das causas dos fracassos dos planos anteriores e do sucesso obtido a partir do Plano Real. Mas o fato é que a inovação proporcionada pelo “tripé da política econômica” foi também responsável para evitar que novas espirais hiperinflacionárias viessem a ocorrer. Isso significava que a condução da economia passaria a ser orientada pelos seguintes elementos: i) meta de inflação; ii) geração de superávit primário; iii) liberdade cambial.
O Plano Real e o período da ortodoxia
Na prática, esse novo comportamento das autoridades econômicas introduziu na própria institucionalidade do aparelho de Estado muitas das demandas do sistema financeiro, que continuou a reinar absoluto e a navegar em um mar de tranqüilidade, comparado aos momentos anteriores de tantas turbulências e incertezas. É preciso recordar que a década de 1990 foi o período de apogeu do pensamento neoliberal e de seus dogmas de supremacia absoluta das regras de mercado sobre qualquer tipo de regulamentação pública.
Como a meta da inflação era intocável e sacrossanta, não se mencionava nunca que havia até mesmo um intervalo de tolerância para cima e para baixo. Ou seja, tudo se fazia para atingir o chamado “centro da meta” (atualmente, por exemplo, a meta é de 4,5% ao ano – com isso, o intervalo para uma inflação aceitável fica entre 2,5% e 6,5ª% ao ano). E o instrumento, por excelência, para tanto era a chamada “política monetária”: juros oficiais lá em cima, com o objetivo de retirar moeda da circulação (“enxugar a liquidez”, no jargão do economês) e reduzir a pressão de demanda sobre a oferta de bens e serviços. Com isso, haveria menos pressão inflacionária e os preços ficariam sob controle.
Para tanto, o importante era que o Banco Central fosse “independente”. Esse modelito foi repetido à exaustão, por anos e anos em seguida. Pegando carona no sentimento de indignação da população com a má-utilização que se fazia das instituições públicas e governamentais, os escribas do financismo vinham com a idéia enganosa da suposta independência. No entanto, esse discurso apenas escondia o fato de que, na prática, não existe neutralidade técnica na determinação de política econômica. Essa estória de “autoridade monetária independente” é apenas uma forma elegante de justificar a entrega da gestão do Banco Central e da política monetária aos representantes da própria banca e ponto final. Sem intermediários. Assim foi ao longo dos mandatos de FHC (Pedro Malan, Pérsio Arida, Gustavo Loyola, Gustavo Franco e Armínio Fraga) e de Lula (com o onipotente Henrique Meirelles). Ora,”independência” de quem, cara-pálida?
A idéia de geração de superávit primário era também uma forma elegante de assegurar a transferência de recursos do orçamento para pagar os juros e os serviços da dívida pública. Com o verniz retórico acerca da “responsabilidade fiscal”, emprestava-se a importante noção de gestão fiscal equilibrada das contas públicas para não questionar quando os gastos fossem os de natureza financeira e parasita. Por último, a proposta de liberdade cambial vinha na corrente do “fora Estado!” e da exaltação irresponsável das pretensas vantagens inequívocas da globalização. “A taxa de câmbio deve ser formada como resultado da livre ação das forças de oferta e demanda no mercado de divisas”.
A frase é até meio pomposa e pode parecer bem articulada para quem não conhece os meandros do poder financeiro. Ocorre que o mercado de moedas não é nenhum mercado da batatinha. Os mega-agentes que ali operam respondem apenas aos movimentos especulativos dos grandes conglomerados financeiros. Na prática, ao abrir mão de operar e intervir no mercado de câmbio, o governo aceitou passivamente sua condição de refém desses interesses. Como a taxa de juros oficiais estava na estratosfera, o capital especulativo espalhado pelos 5 continentes para cá se dirigia em busca da rentabilidade segura e elevadíssima. A benção sonhada por todo e qualquer operador do mercado financeiro: alto retorno para as aplicações e quase nenhum risco pelas operações. Sopa no mel!
O período recente e a redução dos juros
Por 8 anos consecutivos nossa inflação tem se mostrado comportada, dentro dos intervalos definidos pelo próprio governo. Assim, entre 2005 e 2012, a média da inflação anual foi de 5,2%, sempre dentro dos limites estabelecidos nos planos governamentais. O período mais recente foi marcado pela disposição da Presidenta Dilma em promover a redução da taxa oficial de juros. Com a trajetória descendente da SELIC definida pelo COPOM e a ação um pouco mais incisiva dos bancos públicos federais, as taxas de juros na ponta do balcão foram diminuídas e o sistema financeiro deixou de ter os ganhos certos e seguros como antes. Com os interesses afetados, começaram a sair a campo, reclamando do fechamento da torneirinha generosa e esboçando uma estratégia de reação. A intenção é desgastar a equipe econômica, mas sem confrontar diretamente a chefe do Executivo, que surfa bem numa onda de popularidade. O instrumento para tanto é a crítica ao suposto descontrole das contas públicas, que estaria na base do ressurgimento de “índices preocupantes” de crescimento de preços.
Bem que tentaram essa estratégia em 2011 e agora no último trimestre de 2012, mas a inflação não ultrapassou o limite superior. Alguns se saíram com o discurso de que o foco deveria ser o centro da meta, sem o intervalo de 2% que permite chegar a 6,5%. Mas essa interpretação exagerada da ortodoxia dogmática acabou não colando – nem mesmo no interior do financismo. Agora, com a divulgação dos dados oficiais relativos a janeiro, tem início uma nova onda de catastrofismo, com simulações para os próximos 11 meses. A levarmos a sério tal linha de avaliação, o caos estaria próximo. Como sempre sugerem, aliás! Mas o fato é atualmente o acumulado dos últimos 12 meses ainda registra 6,15%. Em 2011 houve momentos em que o índice havia ultrapassado a meta e depois no ano oficial (janeiro a dezembro) a inflação se manteve no intervalo.
O financismo pressiona pela elevação da Selic
No entanto, a questão é bem mais complexa do que aparenta. De fato, há elementos que preocupam para os próximos meses. Um dos mais importantes é o aumento dos combustíveis que deve vir em breve e que provoca um impacto amplo e generalizado nos preços da economia. Assim como a tarifa de energia elétrica, são preços de bens públicos que estão presentes nos custos de quase todos os produtos e serviços existentes em nossa sociedade. Por outro lado, é importante que o governo também atue para evitar e valorização de nossa taxa de câmbio. Com isso, ao desvalorizar a nossa moeda frente ao dólar e demais moedas estrangeiras, pode-se sentir um impacto inicial de elevação dos preços dos produtos e insumos importados.
Os demais aumentos expressivos vêm da área de alimentos. Além de obedecer a uma certa sazonalidade (os preços podem subir e depois baixar), esse tipo de produto encontra mais facilmente mecanismos de substituição, ao contrário do que ocorre com combustíveis ou energia elétrica. Dessa forma, o importante é que o governo mantenha um acompanhamento, com um sinal de alerta para a evolução dos preços em geral, mas sem se deixar cair na avaliação catastrofista. A ninguém interessa retornar aos cenários do passado, com elevadas taxas de crescimento generalizado de preços. Mas estamos muito longe disso.
A alternativa do depósito compulsório
O mais importante, neste momento, é não se deixar cair na armadilha da ortodoxia comandada pelos interesses da banca. Com toda a certeza voltará o tom monocórdico de que a inflação só pode ser combatida, de forma efetiva, com a dureza da política monetária austera e rigorosa. Muito blá-blá-blá, mas se leia o recado: elevação da taxa oficial de juros. O raciocínio implícito é de que assim o governo conseguirá reduzir enxugar a massa monetária em circulação e conter a pressão de demanda. Isso porque as empresas e os indivíduos, em tese, deixarão de consumir bens e serviços para aplicar seus recursos em poupança, em razão da remuneração mais atrativa dos títulos financeiros com juros mais elevados. Uma hipótese difícil de se comprovar, dada a estrutura de renda de nosso país (baixa propensão a poupar, no economês) e a inacessibilidade aos produtos do mercado financeiro para a maioria da população.
Se o governo quiser mesmo enveredar por esse caminho de interpretação conservadora do fenômeno inflacionário, então que lance mão de outros instrumentos que não o aumento da Selic. Ele pode, por exemplo, promover o aumento do depósito compulsório dos bancos junto ao Banco Central. Obterá o mesmo efeito de redução da demanda, sem nenhum encargo extra para as finanças públicas nem para o custo social de empresas produtivas e famílias.
Mas o mais importante é iniciar com muita rapidez o já muito atrasado programa de investimentos públicos em infra-estrutura. Esse, sim, é um setor-problema para a retomada do crescimento da economia a níveis maiores do que o Pibinho de 2012. Estrangulamento em telecomunicações, energia e transportes podem realmente provocar pressões que compliquem o equilíbrio, instável por sua própria natureza, de uma determinada conjuntura econômica. E o Brasil precisa e merece crescer a pelo menos 3% ou 4% ao ano. Para tanto, é necessário – ao contrário do que sugerem os arautos do financismo – ampliar a oferta de crédito e não promover sua redução com o aumento dos juros.
(*) Doutor em economia pela Universidade de Paris 10 (Nanterre) e integrante da carreira de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, do governo federal.