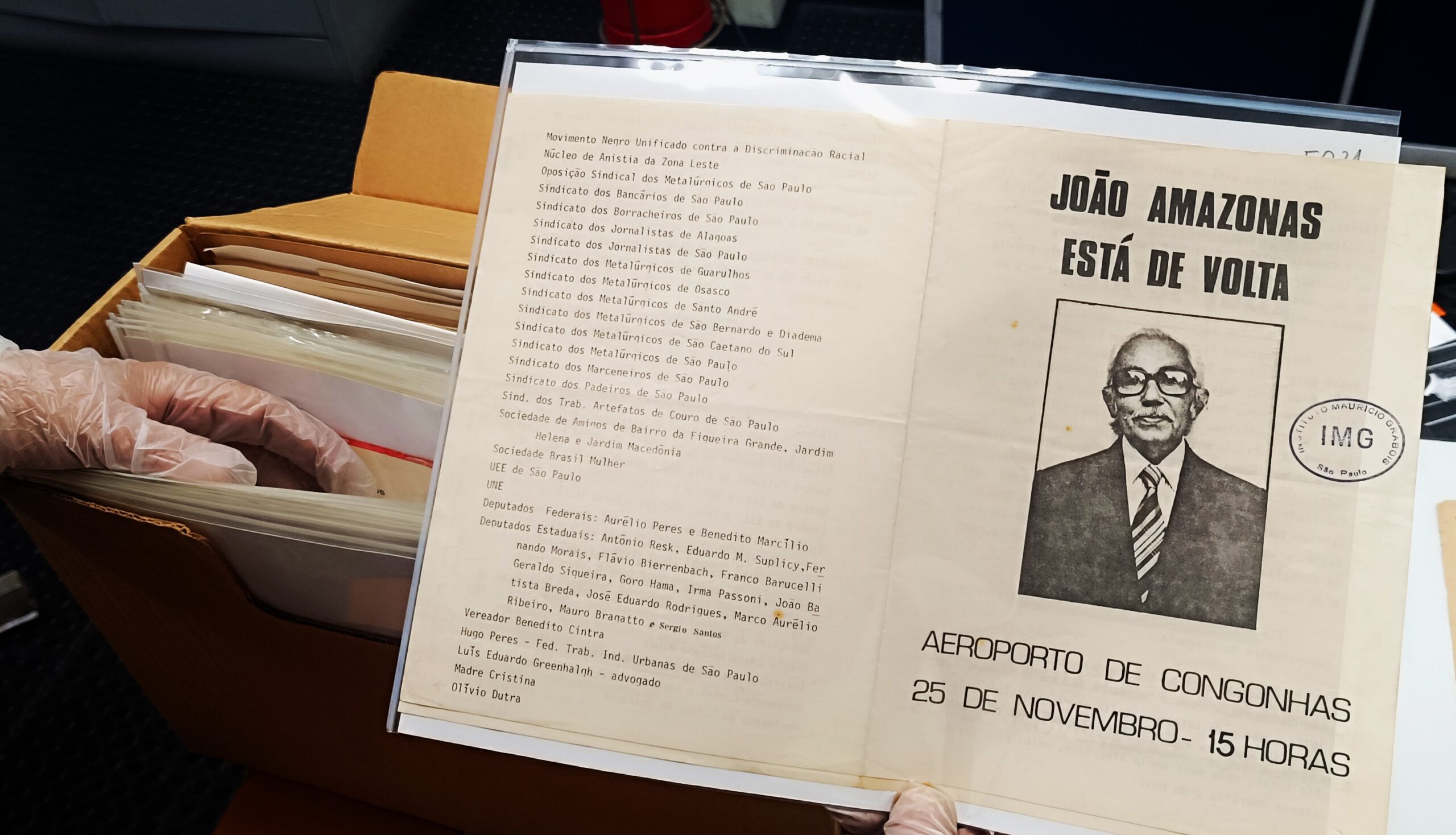A História no Brasil é um ramo problemático das ciências sociais. Não por imprecisão conceitual ou metodológica, mas pelas barragens culturais e políticas que a pressionam e dificultam a sua legitimidade. Há uma distância imensa entre a verdade histórica que cabe ao historiador registrar e a necessidade e exigências que as classes dominantes impõem aos historiadores “oficiais”, ideólogos dos valores, interesses e necessidades do atual tipo de sociedade.
Durante a época do Império escravista, que vai da nossa Independência até 1889, temos uma historiografia orgânica desse modo de produção (o escravismo), produzindo uma história que defendia e/ou justificava os privilégios da classe senhorial, afirmava que o escravismo era um modo de produção eterno, imutável e de acordo com as leis divinas. A partir do segundo Imperador, esses historiadores passam a auferir benesses e privilégios desse tipo de sociedade. Essa produção era a munição que o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil distribuía, como verdade inapelável, sendo todos os seus membros, ou, pelos menos, os mais influentes, respaldados generosamente por D. Pedro II.
Para uma rápida compreensão do que estamos afirmando, vejamos o seguinte quadro do status social dos principais historiadores daquela época: Domingos Gonçalves de Magalhães era Visconde de Araguaia; Manuel de Araújo Porto Alegre era o Barão de Santo Ângelo e Francisco Adolfo Varnhagen, o pontífice da historiografia da época, era Visconde de Porto Seguro.
Não apenas pelos títulos de nobreza esses historiadores eram chamados de os áulicos da corte, mas também por vantagens que auferiam para poder realizar suas pesquisas proporcionadas pelo governo monárquico-escravista.
Se não vejamos: Varnhagen foi adido de primeira classe de nossa diplomacia em Lisboa, nomeado em 18 de maio de 1842 por sugestão de Vasconcelos de Drummond e influência do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tendo, depois, viajado pela Europa e outras regiões através de comissões e outros recursos do governo imperial; Gonçalves Dias foi incumbido, pelo mesmo governo imperial, em 1851, de copiar documentos em estados brasileiros e, em 1854, encarregado de estudar a educação primária e secundária na Europa, onde pesquisou em vários arquivos; João Francisco Lisboa, em 1856, assumiu a responsabilidade de pesquisar os arquivos de diversos países; Joaquim Caetano da Silva é encarregado da legação brasileira em Haia, onde fez pesquisas em arquivos holandeses; Ramiz Galvão é comissionado pelo governo imperial para estudar a organização das bibliotecas européias; José Higino também é enviado para pesquisar arquivos, isto sem nos referirmos a outros como Oliveira Lima e Norival de Freitas, todos financiados pelo governo imperial de diversas maneiras, inclusive através de verbas particulares do próprio imperador, que as repassava ao Instituto Histórico e Geográfico.
Nunca o axioma “quem tem o poder dá o saber” foi tão ajustado a uma realidade como no Brasil imperial, equiparando-se, no particular, à realidade montada por Frederico II na Alemanha e Catarina II na Rússia. O “rei filósofo”, como era chamado o Imperador D. Pedro II, através de mecanismos algumas vezes sutis, outros abertamente impositivos, controlava a inteliguentsia da época, especialmente os historiadores. Era uma visão política, na área cultural, que devemos reconhecer como maquiavelicamente eficiente em D. Pedro II. Sabedor de que os historiadores plasmam o ethos cultural de uma nação, centrou sua atividade de controle e desenvolvimento dessa produção historiográfica, condicionando-a à ideologia do Império escravista, através da concessão de facilidades aos seus produtores.
No particular, o historiador Geraldo M. Coelho escreve: “acredito poder situar, dentro dessa perspectiva, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). A instituição e o papel que ocupou na sociedade brasileira do século XIX, assim como o tipo de história que elaborou, operou no sentido de produzir e reproduzir uma fração da ideologia da classe dominante brasileira e, a partir do conceito de ideologia, a história integraria uma forma mais ampla de como a classe dominante explicava sua posição no sistema de classes. Assim, os intelectuais que se organizavam em torno do IHGB, atuando em nível de superestrutura, produziram um modelo de historiografia – a história oficial – que consagrava o sistema de dominação existente no Brasil, fazendo com que essa produção intelectual exercesse uma ação de retorno sobre a estrutura. (…) O IHGB, na condição de aparelho ideológico do Estado, desenvolveria uma atividade intelectual – a produção da história integrada na ideologia da classe dominante dos proprietários rurais do Brasil do século XIX” (1).
A história oficial decreta Caixas como herói e Zumbi com anti-herói
Proclamada a República, esse pólo único e centralizador de dominação ideológica irá se diversificar, mas, de qualquer maneira, os pólos de dominação da produção historiográfica, embora havendo novos elementos que irão permear essa dominação, continuarão nas mãos do Estado, no fundamental.
Os cargos burocráticos passam a ser distribuídos entre o Itamarati e outros departamentos do estamento burocrático, magistério ou sinecuras políticas ocasionais. Com isto, a produção histórica se diversifica, com João Ribeiro, Euclides da Cunha, Sílvio Romero, mas o caráter elitista continua, mesmo havendo algumas vozes que não aceitavam a condição passiva de intelectuais orgânicos do sistema. Daí por que o julgamento de valor de quase todos eles em relação aos fatos e heróis continuará sendo o mesmo estabelecido pelos historiadores do Império. Esses heróis “oficiais” continuam sendo Duque de Caxias, Domingos Jorge Velho, Pedro I, Pedro II, Princesa Isabel, Barão de Cotegipe, Feijó, Barão do Rio Branco e, também, Deodoro da Fonseca e os demais participantes do golpe militar republicano.
Por outro lado, continuam a ser anti-heróis Zumbi, os heróis da Revolta dos Alfaiates na Bahia de 1798 (Luís Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira), assim como, também, outros heróis populares como frei Caneca, Elesbão Dandará, Luís Sanim, Pacífico Licutã e os demais líderes do movimento insurrecional de 1835 em Salvador, além de Borges da Fonseca, Pedro Ivo, Padre Roma, Preto Cosme, Padre Miguelinho, Sóror Joana Angélica e todos aqueles que constituem o grande painel de heróis sem monumentos, mas que desarticularam as estruturas de poder em vários momentos da nossa história. Eles não são considerados heróis porque o seu heroísmo passa pela áspera estrada dos derrotados.
A nossa “história oficial” seleciona como heróis os vencedores, e não aqueles que foram derrotados nos diversos momentos de rebelião, rebeldia ou projeto de mudança social. Daí a história ser feita através de um processo seletivo no qual as classes dominantes estabeleceram o critério de quem é herói ou anti-herói. Com isto, os produtores dessa historiografia fazem-na ter uma visão elitista e marcial do nosso desenvolvimento.
O conceito de Pátria se torna uma ficção manipulada pelos poderosos
O conceito de Pátria é, por isto, manipulado constantemente por esses produtores da história. Mas, para eles, defender a Pátria é defender o status quo em toda a sua plenitude e através de todos os meios. Defender a Pátria é, historicamente, esmagar a República de Palmares; é esmagar a República Pernambucana de 1817; a Inconfidência Baiana; a Sabinada; a Cabanagem; a Balaiada; Canudos e Contestado; os Mukers; as revoltas escravas; a Revolução Praieira; o movimento da Aliança Nacional Libertadora e os guerrilheiros do Araguaia.
Este conceito de Pátria é, portanto, abstrato e não se concretiza em uma visão política nas camadas populares que o desconhecem. Em um programa na TV Cultura de São Paulo, do qual participamos, o repórter de rua perguntou a uma criança “o que era Pátria”. Ela respondeu: – a parada do dia, os soldados marchando…
Ora, de fato, para uma criança do Brasil, carente de educação, alimentação, família estável, bem-estar e lazer, a Pátria somente se materializa no dia 7 de setembro, através de uma demonstração de força militar. Porque ela inexiste, não se materializa, não se corporaliza e se manifesta para o cidadão em qualquer outro nível. É apenas uma ficção, pois os seus indicadores concretos são concedidos aos privilegiados, ficando para os pobres apenas uma pátria simbólica.
Para manter esse conceito marcial de pátria, as classes dominantes e os grupos militares, como estamentos de sustentação política, criam “áreas proibidas da história” com limitações, fronteiras e sanções para quem as transgredir.
Há, sub-repticiamente, uma institucionalização da história. A produção dos historiadores deve ser condicionada a diversos padrões de julgamento para ser aprovada. Não vamos nos estender, aqui, como essa produção é preconceituosa em relação aos heróis da transformação, às mulheres, aos negros e a outras camadas e segmentos ou minorias da nossa sociedade. Vários trabalhos já foram feitos nesse sentido e não é este o momento para uma análise exaustiva dos mesmos. O certo é que aqueles que obedecem ao grande projeto institucional conseguem circular, enquanto outros, que têm a coragem de transpor a fronteira do proibido, sofrem as sanções dos controladores do saber histórico no Brasil.
Os assuntos proibidos mais recentes, ou a revisão radical, por parte dos historiadores, dos heróis do passado e a participação da plebe como agente dinâmico no processo de mudança estrutural são sistematicamente congelados pelos detentores do poder-saber no Brasil.
Exemplos: a Guerra do Paraguai, a atuação de Caxias na mesma. Outros exemplos poderiam ser acrescentados, mas em um pequeno artigo estes são suficientes. Quando os fatos são mais próximos, esse complexo de elementos inibidores fica mais atuante e fatos como o movimento “constitucionalista” em São Paulo, de 1932, a chamada “intentona comunista” de 1935, afirmações de técnicos estrangeiros de que no Brasil não havia petróleo, e outros, também significativos, são esquecidos ou negados pelos historiadores oficiais.
Exemplos do poder em luta constante contra o saber e a História verídica
No particular, queremos nos reportar a alguns fatos relacionados com autores que escreveram fora da bitola oficial sobre alguns problemas que deviam ser silenciados. Um deles é a revolta dos marinheiros liderados por João Cândido em 1911. Como se sabe, esses marinheiros lutavam contra as condições iníquas, impostas a eles, na sua esmagadora maioria composta de negros; lutavam contra os castigos corporais por indisciplina, isto é, serem chibateados como nos tempos da escravidão. Não vamos narrar, aqui, a epopéia desses marinheiros, mas as consequências para aqueles que escreveram sobre o fato, não ao lado da Marinha, mas dos marinheiros.
Vamos nos referir a três exemplos dos que se arriscaram a escrever sobre a Revolta da Chibata. Edmar Morel, na década de 1950, publicou um livro-documentário mostrando o código disciplinar desumano da Marinha, dando razão aos marujos que contra ele se insurgiram. O livro alcançou repercussão internacional e o autor teve os seus direitos civis cassados com o golpe militar de 1964.
Outro que tentou escrever sobre o mesmo assunto foi Aparício Torelli (Barão de Itararé), político e humorista que dirigia no Rio de Janeiro o jornal A Manha. O seu artigo foi considerado ofensivo à honra da Marinha e alguns dos seus membros o sequestraram e o espancaram barbaramente, sem que houvesse nenhuma punição para os criminosos. No dia seguinte ao sequestro-espancamento, Aparício Torelli afixou um cartaz no lado exterior da porta do seu escritório onde se lia: “Entre sem bater…”
Finalmente temos o caso do poeta francês Benjamin Peret. Chegando ao Brasil, entusiasmou-se com o episódio da revolta da Armada, liderada pelo marinheiro João Cândido. Em consequência, levou tempos pesquisando sobre o assunto e escreveu um livro narrando fielmente os acontecimentos. Foi o bastante para que elementos da Marinha invadissem a tipografia onde o livro estava sendo impresso, destruíssem os originais e a composição e, em seguida, prendessem o seu autor. Peret ficou encarcerado até que a intelectualidade brasileira procurou interceder por ele junto ao governo de Juscelino. Mesmo assim, foi expulso do país como subversivo e agitador.
Por outro lado, na década de 1960, os historiadores Joel Rufino dos Santos, Maurício Martins de Mello, Nélson Werneck Sodré, Pedro de Alcântara Figueira, Pedro C. Uchoa Cavalcanti Neto e Rubem Cesar Fernandes elaboraram e executaram o projeto História Nova do Brasil. Não era sequer uma obra marxista, mas procurava inverter certos julgamentos alienados da história marcial do poder. Com o golpe militar de 1964, não só a obra foi recolhida, como os seus autores presos, pois todos eles eram subversivos, no pensamento dos milicos que compunham o IPM encarregado do processo. E como subversivos foram julgados. É ridículo o episódio se não fosse, também, uma violência ao direito de a Inteligência criar e informar.
Nas circunstâncias político-institucionais do Brasil, fazer, ou melhor, refazer a história implica, também, um ato de coragem. Por exemplo, a História Militar do Brasil de Nelson Werneck Sodré foi recolhida porque registrava fatos que a nossa história marcial não permite. Tanto esse livro como a História Nova do Brasil estão “interditados para todo o território nacional”.
Há, como vemos, uma instituição invisível que censura, castra, reprime ou inibe a publicação de livros ou artigos que procuram repor, em primeiro plano, a ação dos oprimidos como agentes dinâmicos do processo social.
Exemplo disto foi a sanção sofrida da parte das elites militares pelo cronista Lourenço Diaféria, por haver escrito uma crônica levemente irônica em relação à estátua do Duque de Caxias, existente em São Paulo. Foi condenado à prisão sem que o direito à liberdade de imprensa e de expressão pudesse defendê-lo da truculência político-militar.
Tudo isto mostra – de forma muito sintética, mas, ao que nos parece, convincente – que fazer história e, por extensão, ciências sociais fora dos quadros institucionais e da visão marcial do poder, é um ato de coragem, também.
Clóvis Moura é sociólogo e escritor. Professor examinador de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Autor de vários livros, destacando-se A sociologia posta em questão, Sociologia de la Praxis, Introdução ao pensamento de Euclides da Cunha e As injustiças de Clio.
Nota
(1) COELHO, Geraldo M. História e ideologia, o IHGB e a República, Universidade Federal do Pará, 1981, p. 10-11.
EDIÇÃO 19, NOVEMBRO, 1990, PÁGINAS 53, 54, 55, 56, 57