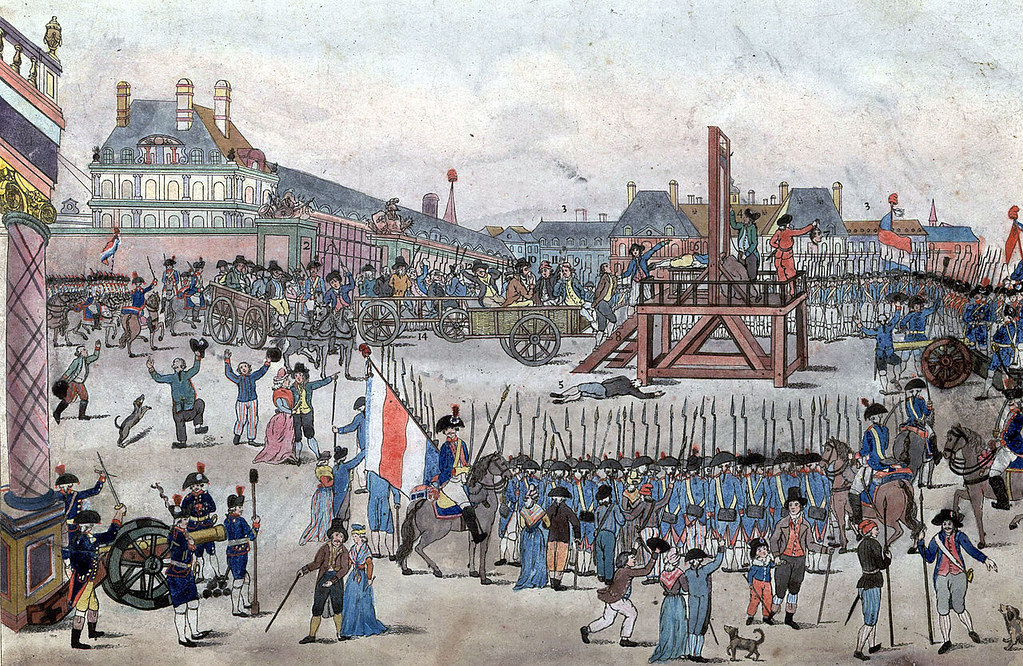Começarei de trás para a frente, adiantando, desde logo, minha interpretação para essa artificial crise brasileira, estimulada pela oposição desde o início do governo Dilma (janeiro de 2015). Por sua participação nessa crise, na oposição se incluíram, além dos partidos de oposição, os principais órgãos da mídia brasileira, os setores financeiros da economia e as principais entidades patronais.
Em janeiro de 2015, esses setores oposicionistas perceberam que a posse de Dilma, e sua permanência no poder, significavam quase fatalmente a volta de Lula, em 2018, para mais oito anos de governo. Nos últimos doze anos o PT fez sabidamente um governo de conciliação, com abertura para setores conservadores; um governo que, na perspectiva da esquerda, pode ser considerado tímido; mas um governo cuja continuidade é temida pela oligarquia, seja por algumas de suas atitudes (como, por exemplo, a política externa independente e a redução da taxa de juros), seja pelo receio de que se repita o que aconteceu com Getúlio Vargas, que em seu segundo período presidencial (1951-1954) investiu em políticas emancipadoras.
Nesta segunda-feira (11/4) ouvi, de uma pessoa de classe média, esta pergunta: se é verdade que Lula tem a intenção de implantar o comunismo no Brasil. Respondi o óbvio: se quisesse já o teria feito quando contava com 86% de aprovação popular, e recusou o terceiro mandato consecutivo, oferecido numa bandeja pelo Congresso. Não prosperando agora essa acusação, manejada com êxito, no passado, contra Getúlio (1954) e Jango (1961-1964), restaram dois pretextos fortíssimos para o golpe: a crise econômica — que, afetando a economia internacional desde 2008, no Brasil foi agravada por fatores internos em 2014 — e o escândalo do “petrolão”.
Minha explicação para essa tentativa de golpe é a seguinte: durante o Brasil colônia, o Império e a Primeira República, a oligarquia jamais precisou de golpes para manter-se no poder: este sempre lhe pertenceu naturalmente; na 2ª República, nas duas ocasiões em que precisou, bastou-lhe acenar para os quartéis. Mas esta é a primeira vez que, sentindo-se ameaçada, ela arranca a máscara do bom-mocismo, explora ao máximo a desinformação, e precisa sair às ruas para defender seus privilégios.
Em termos hegelianos, o governo do PT é a tese, da qual a tentativa de golpe é a antítese. Este é, portanto, um momento dialético de superação. Para todos que votaram em Lula e Dilma, isso é motivo de alento: não obstante os erros cometidos, a democracia real avançou, com as políticas de igualdade.
Dito isso, passo a enfrentar esta questão: qual o melhor método para avaliarmos esses fatos: a abordagem do cientista, ou a abordagem do cidadão, co-responsável pelo presente e pelo futuro do Brasil?
Nós, que ao início do segundo mandato de Dilma, estávamos esperançosos pelo encaminhamento da reforma política, fomos submersos, em janeiro de 2015, pela pauta retrógrada, implementada no Congresso pela dissidência do PMDB (liderada pelo deputado Eduardo Cunha), e, na mídia, pelo senador Aécio Neves (candidato presidencial derrotado em 2014). Envolvidos nesse turbilhão, não vemos a floresta; enxergamos apenas a árvore, no que tem de mais impactante: os sinais de intolerância e de violência provindos de membros da classe média, os incidentes do processo de impeachment, as delações premiadas e as diligências da Polícia Federal, o cerco midiático à verdade, as violações aos direitos e garantias individuais praticadas pela magistratura.
Opto, por isso, pela primeira abordagem (reservando-me, ao final, para algumas observações quanto à segunda). Isto não significa que ela seja fácil: misturam-se aí fatos de vária natureza, a merecer análise nos planos macro e micro, estrutural e conjuntural, como, por exemplo, a aceleração cíclica das crises do capitalismo, a exasperação das políticas neo-liberais. Fixo-me, por isso, naquilo que acredito ser próprio da minha competência, e a cujo estudo me dediquei durante quase três décadas: o sistema jurídico, o sistema constitucional, e o sistema eleitoral-partidário brasileiro.
Creio que se encontra, aí, um vetor interessante de análise, que pode ser resumido nessa tese: diversamente do que acontece nos países desenvolvidos, em que o sistema capitalista construiu o seu análogo judiciário e eleitoral-partidário, no Brasil ele ainda não alcançou esse nível de funcionalidade. Encontro-a expressa em alguns textos que publiquei, como, por exemplo:
O sistema de propriedade e concentração de renda, vigente no Brasil, é incompatível com o exercício durável da democracia formal, levando ao golpismo cíclico. Isso porque ou a prática democrática — expressa através da liberdade eleitoral-partidária — desestrutura o sistema de dominação, ou o sistema de dominação interrompe violentamente a prática democrática, como aconteceu em 1964. Devido a essa incompatibilidade funcional, a estrutura de dominação é obrigada a intervir, de tempos em tempos, no sistema eleitoral e na liberdade de organização partidária. Dentro desse quadro não cabe alternância no poder: quem governa é sempre a oligarquia, com maior ou menor grau de ilegitimidade. A Constituição, quando não é abolida, é estuprada. Esse dilema só deixará de existir quando, ainda que tarde chegar a liberdade, ou quando a oligarquia conseguir o que vem tentando, que é implantar seu análogo eleitoral-partidário: um modelo elitista que, sob a aparência de democracia, provoque o fechamento do sistema eleitoral-partidário, com eleições não-competitivas e o insulamento do dissenso numa diminuta oposição consentida. [1]
As chamadas “democracias” modernas são, na verdade, “demoelitecracias”, sistemas em que o povo vota, mas não governa. Aperfeiçoaram, com esse objetivo, mecanismos de contenção do voto, tais como o parlamentarismo (em que se suprime o voto direto no chefe do Executivo) e o voto distrital (que reduz ao mínimo o espectro partidário). Reduzem com isso os conflitos, aumentando a estabilidade do governo. Entre nós, ao contrário, o principal mecanismo de contenção existente (a desigualdade do voto), acirra o conflito, principalmente entre o Congresso e o Executivo, que se faz presente, historicamente, nas nossas principais crises políticas. [2]
Em 2014, aproximadamente 142 milhões de brasileiros tinham direito a voto. Para a escolha do presidente da República, por um lado, e dos 513 deputados federais, de outro, o colégio eleitoral foi formado, fisicamente, pelos mesmos eleitores. Entretanto, considerados os seus efeitos, trata-se de dois colégios eleitorais distintos. Cada um dos eleitores (salvo quem se abstenha) vota num candidato a presidente. O presidente é eleito pela maioria dos que tenham votado, que são eleitores de todos os Estados. Em 2014, Dilma foi eleita com aproximadamente 54 milhões de votos. O que nos faz crer que, normalmente, são suficientes para eleger o presidente os votos, somados, dos eleitores dos três Estados mais populosos: São Paulo (aproximadamente 31milhões), Minas (15 milhões) e Rio de Janeiro (12 milhões). Assim, na eleição de presidente sobressaem os votos dos Estados mais populosos e dos grandes centros urbanos. Coisa bem diferente acontece na eleição para a Câmara dos Deputados, que tem 513 cadeiras, distribuídas de tal modo que nenhum Estado tenha menos de 8, nem mais de 70 representantes. [3] No Estado de Roraima — aquele, dentre todos, que tem menos eleitores (290 mil) — são necessários aproximadamente 36 mil eleitores para fazer um deputado federal; no Estado de São Paulo — aquele que tem mais eleitores (31 milhões) — são necessários aproximadamente 443 mil. Concluindo: um é o colégio que faz o presidente da República (digamos, colégio X), e outro é o eleitorado (digamos, colégio Y) que prevalece na escolha dos deputados federais: aqui, somados, os três Estados mais populosos, capazes de, sozinhos, elegerem o presidente da República, conseguem fazer menos de um quarto dos membros da Câmara dos Deputados (169), o que está longe de sua maioria absoluta (256). Acrescente-se a representação no Senado, e agrava-se a diferença.
Esse é um dado expressivo, embora não suficiente para explicar o fenômeno. Não por acaso, sempre que chamado para decidir sobre esse tema, o povo brasileiro preferiu o presidencialismo ao parlamentarismo.
Muitas pessoas têm ficado impressionadas com a parcialidade das investigações, e das decisões judiciais. E com a intensidade das violações contra os direitos e garantias individuais. Essas pessoas compõem o grande número daqueles que jamais se interessaram pelo poder judiciário, como se ele fosse politicamente indiferente.
Entretanto, essas violações — que agora ganharam visibilidade — não acontecem por acidente: elas fazem parte da rotina judicial, e são praticadas por profissionais que, não obstante tenham o dever de aplicar a lei e a Constituição, julgam-se acima de qualquer outro poder.
Costumo perguntar: qual a autoridade que, no Brasil, tenha estado acima de qualquer controle? A resposta correta aponta para os nossos dois imperadores — D. Pedro I e D. Pedro II — que eram legalmente irresponsáveis. Pois bem, os juízes brasileiros também são, de fato, politicamente irresponsáveis.
Temos direito a um judiciário eficiente; que seja não apenas imparcial, mas, principalmente, comprometido com os elevados fins da sua missão constitucional.
A magistratura, tal como existente hoje no Brasil, é quisto imperial, um resíduo anti-republicano em nosso sistema de governo; o Judiciário, tal como organizado, é incompatível com a democracia. O que tenho escrito sobre esse tema, em inúmeros textos, encontra-se resumido no livro intitulado Ética [4], e no livrinho sobre Reforma política, acima referido.
Recentemente essa anomalia se potencializou, a ponto de caracterizar um “golpe de Estado judiciário”, à cuja frente está o Supremo Tribunal Federal.[5] Resumindo: tendo recebido, da Constituição de 1988, a competência para controlar a constitucionalidade da lei em tese, o STF passou a agir, de modo geral, como poder legislativo, entendendo-se dispensado de fundamentar juridicamente suas decisões. Esse vício estendeu-se às demais instâncias judiciárias, juntando-se aos outros já existentes. De modo que, hoje, a realidade judiciária é puro abuso de poder.
Diante dessa conjuntura, o que nos cabe fazer?
Qualquer que seja o resultado do processo de impeachment, a crise se prolongará até a eleição presidencial de 2018, o que significa: retração dos investimentos, aumento do desemprego; desnacionalização da economia; acentuação das incertezas, aumento da insegurança e da criminalidade. No fim das contas, um lustro, ou quase um lustro perdido.
Golpes de Estado, hoje, reclamam apoio ideológico. O furor ensandecido da oligarquia — que, como acentuou Flávio Dino, parece querer atear fogo às próprias vestes — despertou, na cidadania, muitos anticorpos adormecidos. Mesmo que o golpe não se venha a consumar, a unidade será necessária à resistência contra a barbárie; a uma repactuação que mantenha a governabilidade com democracia; e, adiante, à construção da plataforma capaz de realizar a necessária reforma política. Ou sucumbimos ao modelo neoliberal ou prosseguimos nossa tarefa de construir um Brasil para todos os brasileiros.
1 Roberto Amaral e Sérgio Sérvulo da Cunha, Manual das eleições (São Paulo, Saraiva, 4ª. ed., 2010, p. 864).
2 Creio que demonstrei essa tese em outros textos, tais como “O que é o voto distrital” (Porto Alegre, Sérgio Antonio Fabris, 1991). “A crise da democracia representativa”, In “Direito: teoria e experiência – estudos em homenagem a Eros Roberto Grau”: José Augusto Fontoura Costa et alii, org. (São Paulo, Malheiros, 2013, p. 618; o texto integral pode ser consultado no meu site:http://www.servulo.com.br/); e “Reforma política” (Roberto Amaral-Sérgio Sérvulo da Cunha (Santos, Forum da Cidadania, 2015, p. 9)..
3 Constituição da República, art. 45-§ 1º.
4 São Paulo, Saraiva, 2012, pp. 339-381.
5 Veja-se esses dois textos que publiquei há alguns anos: o artigo intitulado “Golpe de Estado judiciário”, Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais (Fortaleza, n° 14, abril de 2013, p. 457); e também o prefácio à 2ª. edição do livro “Recurso extraordinário e recurso especial” (São Paulo, Saraiva, 2012).
Sérgio Sérvulo da Cunha é advogado, autor de várias obras jurídicas. Foi procurador do Estado de São Paulo e chefe de gabinete do Ministério da Justiça.
Publicado em Revista Consultor Jurídico, 12 de abril de 2016.