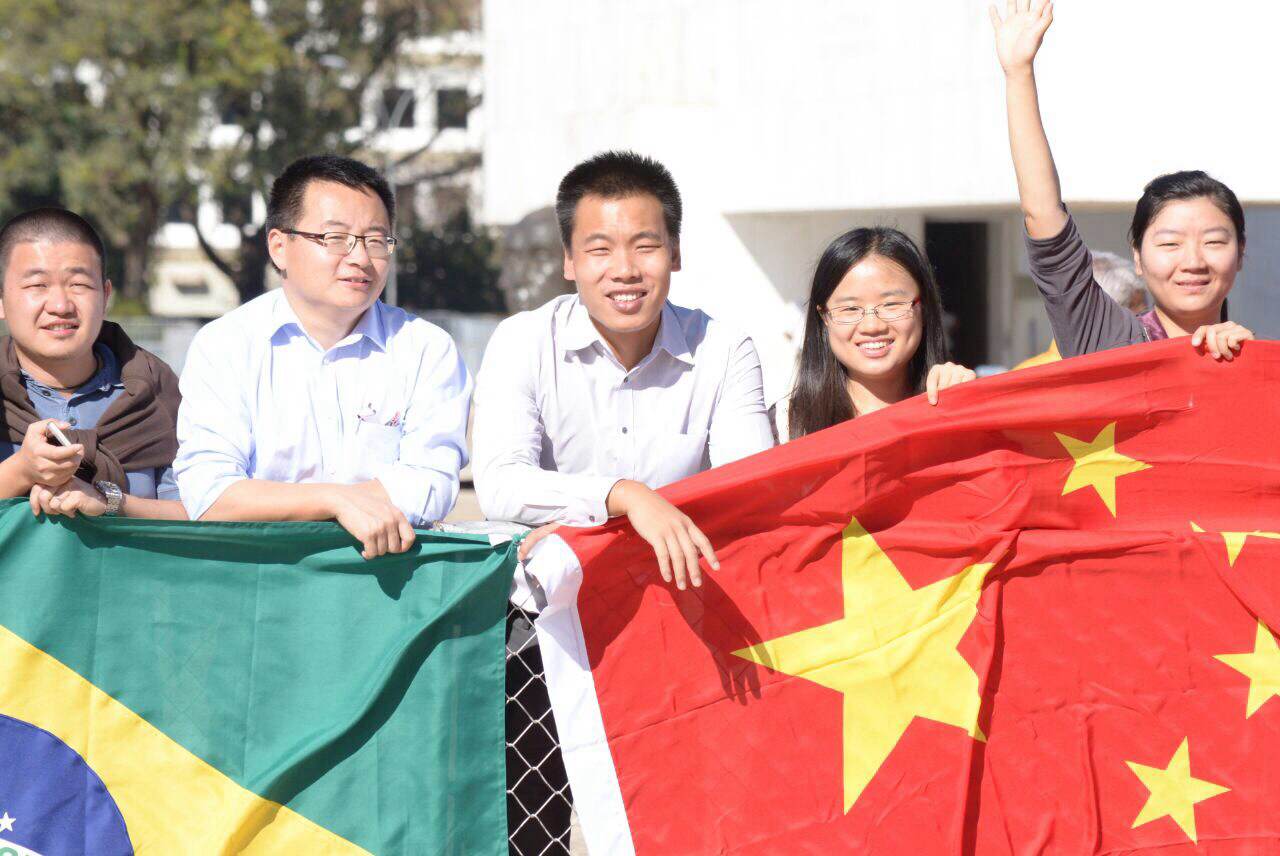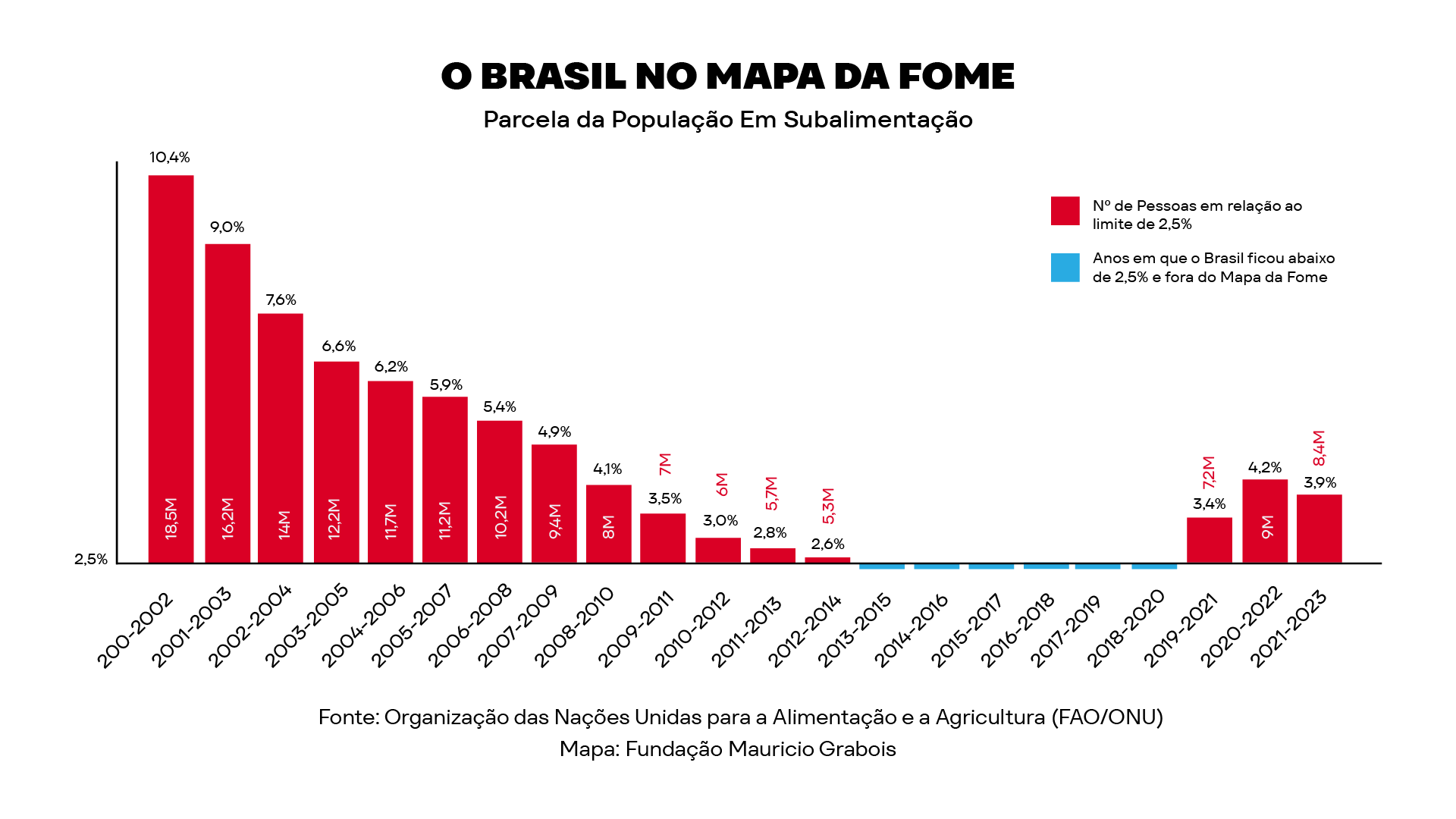Introdução
A ideia de revolução burguesa como movimento de médio e longo prazo não é estranha ao marxismo clássico. Pelo contrário, ela é amplamente predominante. Em 1874, no Prefácio de As Guerras Camponesas na Alemanha, escreveu Engels: “Foi assim então que o estranho destino da Prússia quis que ela atingisse, em fins deste século XIX, sob a forma agradável do bonapartismo, sua revolução burguesa, começada em 1808-1813, e que deu outro passo adiante em 1848. E se tudo for bem, se o mundo permanecer sereno e tranquilo, quando todos nós já formos muito velhos, poderemos talvez, em 1900, ver o governo da Prússia suprimir as instituições feudais e a própria Prússia atingir enfim o ponto que se encontrava a França em 1792.”
Essa mesma concepção – entender a revolução burguesa enquanto um processo diluído no tempo e não como uma insurreição concentrada em poucos dias – está presente na maioria das obras dos historiadores brasileiros, particularmente nos de esquerda. Sérgio Buarque de Hollanda em Raízes do Brasil afirmou: “A forma visível dessa revolução não será a das convulsões catastróficas, que procuram transformar de um mortal golpe (…) os valores longamente estabelecidos. É possível que algumas de suas fases culminantes já tenham sido ultrapassadas, sem que possamos avaliar desde já sua importância transcendente. Estaríamos vivendo entre dois mundos: um definitivamente morto e outro que luta para vir à luz” (1).
Caio Prado Jr. em Evolução Política do Brasil (1933), especialmente no capítulo “A revolução”, também adotou uma visão ampliada do que ele chamou Revolução da Independência. Ela teria abarcado todo o período desde a chegada da família real até a destituição de D. Pedro I (1831) ou do golpe da maioridade (1840). Em uma obra polêmica, escrita décadas depois, retomou a mesma tese: “O termo ‘revolução’ encerra uma ambiguidade (…) que tem dado margem a frequentes confusões. No sentido em que ordinariamente usado, ‘revolução’ quer dizer o emprego da força e da violência para a derrubada de governo e tomada do poder por algum grupo, categoria social ou outra força qualquer de oposição. (…). Mas ‘revolução’ tem também o significado de transformação do regime político-social (…). O significado próprio se concentra na transformação, e não no processo imediato através de que se realiza” (2).
Outro conceituado historiador marxista Nelson Werneck Sodré, logo na advertência que abre seu livro Introdução à Revolução Brasileira (1958), procurou definir o conceito que dá título à obra: “por Revolução Brasileira, entendemos o processo de transformação que o nosso país atravessa, no sentido de superar as deficiências originadas de seu passado colonial e de estar incompleta a revolução burguesa no seu desenvolvimento histórico”. Em uma de suas últimas obras, Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil, (1990) afirmou que a revolução burguesa “foi uma revolução sem grandes lances. Seu início (…) pode ser marcado pela etapa preliminar dos fins do século XIX, mas principalmente pelo movimento de 1930. A partir deste, a revolução burguesa está definida e continuará avançando. O seu problema essencial consiste na coexistência com o latifúndio feudal (…) e com o imperialismo (…). Aceita, pois, a resistência do Brasil arcaico e hesita em romper com ele. É uma classe que realiza sua revolução deixando incompletas as suas tarefas específicas” (3).
Por fim, concluímos com uma definição do professor Florestan Fernandes, extraída do seu já clássico Revolução Burguesa no Brasil (1974): “Revolução Burguesa denota um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais, psicoculturais e políticas que só se realizam quando o desenvolvimento capitalista atinge o clímax de sua evolução industrial. Há, porém, um ponto de partida e um ponto de chegada, e é extremamente difícil localizar-se o momento que essa revolução alcança um patamar histórico irreversível, de plena maturidade e, ao mesmo tempo, de consolidação do poder burguês e da dominação burguesa” (4).
A Revolução Brasileira entra na agenda
O tema revolução brasileira foi central na produção intelectual de amplos setores da esquerda no país. Ele ganhou impulso, e uma nova qualidade, a partir do início da crise da República oligárquica na segunda metade da década de 1920.
Diante do rápido agravamento da crise econômica e política a palavra revolução, que era patrimônio da esquerda e da ala radical do tenentismo, passou, inclusive, a compor o repertório das oligarquias dissidentes. Neste sentido o ano de 1930 foi emblemático. Após a derrota eleitoral da Aliança Liberal, o candidato derrotado à vice-presidência, o paraibano João Pessoa, chegou a afirmar: “prefiro mil Júlio Prestes a uma revolução”. Esta era a opinião da grande maioria dos dirigentes oligarcas da oposição, inclusive Vargas. Foi preciso que a história apressasse o seu passo, pelas botas do tenentismo revolucionário, para esses setores mudarem rapidamente de opinião e aderir à revolta. Nessa conjuntura Antônio Carlos, então governador de Minas Gerais, esculpiu a frase: “façamos a revolução antes que o povo a faça!”. Assim, a palavra revolução, tão recusada pelas elites brasileiras, passou a ser incorporada e acabou assumindo um valor positivo.
No Brasil do pós-1930 todos passaram a se intitular revolucionários. Mesmo a insurreição da oligarquia paulista ocorrida em 1932 se autointitulou Revolução Constitucionalista. No entanto, o nobre título foi negado ao levante armado promovido pelos comunistas em 1935, denominado pejorativamente de intentona. A própria “redentora” ousou-se chamar de “revolução de 1964” e as marchadeiras com “Deus e a Liberdade”, de revolucionárias – uma completa inversão de valores.
Os intelectuais e políticos de todas as correntes passaram a debater o caráter da chamada revolução brasileira. Em 1934 saiu o livro Caminho da Revolução Operária e Camponesa, de outro importante intelectual comunista, Leôncio Basbaum. Podemos dizer que essa preocupação também permeava Evolução Política do Brasil (1933), de Caio Prado Jr. Esta obra tem um de seus capítulos mais interessantes denominado “A revolução”. Prado Jr. acabava de se integrar ao Partido Comunista do Brasil.
Por tudo isso, não sem razão o último capítulo de Raízes do Brasil (1936), de Sérgio Buarque de Hollanda, intitula-se “Nossa Revolução”. Décadas depois os historiadores comunistas Nelson Werneck Sodré e Caio Prado Jr. lançaram respectivamente Introdução à Revolução Brasileira (1958) e A Revolução Brasileira (1966), que abordavam o tema a partir de pontos de vistas bastante diferentes. Neste último trabalho o autor realizou uma crítica contundente à interpretação tradicional dos comunistas sobre as etapas da revolução no país e à política de aliança proveniente dessa análise. Na década de 1970 foi publicado A Revolução Burguesa no Brasil (1974) de Florestan Fernandes. Por fim, temos as obras de Jacob Gorender, Escravidão Reabilitada (1990), e de Décio Saes, A Formação do Estado Burguês no Brasil (1985), que trouxeram uma nova e instigante abordagem sobre a revolução burguesa em nosso país. Podemos mesmo afirmar que quase a maior parte da produção teórica dos nossos cientistas sociais e historiadores na segunda metade do século XX esteve, de algum modo, ligada a esse importante debate sobre o caráter da revolução brasileira.
As interpretações marxistas sobre a revolução brasileira
Existe um rico debate no campo do marxismo brasileiro em torno da definição do caráter da revolução brasileira durante o século XX. Existiriam ou não etapas nessa revolução? Estávamos diante de uma revolução burguesa ou proletária? Quais classes deveriam ser envolvidas nesse movimento?
As primeiras tentativas de interpretação marxista sobre o Brasil e, portanto, sobre a revolução brasileira foram feitas por dois jovens intelectuais e dirigentes do Partido Comunista do Brasil: Astrojildo Pereira e Octávio Brandão. Eles iniciaram sua produção ainda na primeira metade da década de 1920. Mas coube, fundamentalmente, a Brandão a redação da obra mais importante daquele período: Agrarismo e Industralismo – Ensaio marxista-leninista sobre a revolta de S. Paulo e a guerra de classes no Brasil. Foi redigida entre 1924 e 1925 e publicada no ano seguinte. Esta foi a primeira tentativa de interpretação “marxista-leninista” do Brasil. O seu principal objetivo foi captar a dinâmica da revolução democrática e construir uma estratégia adequada para o movimento operário e socialista no Brasil.
Suas teses influenciaram fortemente a ação política dos comunistas brasileiros na segunda metade da década de 1920 – quando passaram a compor o índice dos livros proibidos da Internacional Comunista, já em franco processo de stalinização. Mesmo uma leitura pouco atenta desse texto poderá constatar sua ingenuidade e a utilização precária das teorias que deveriam servir de suporte para sua análise sobre o Brasil: o marxismo e o leninismo. Tendo em vista os nítidos limites teóricos desse trabalho pioneiro, alguns intelectuais buscaram, consciente ou inconscientemente, desqualificá-lo. Caíram, assim, num evidente anacronismo ao cobrar do jovem dirigente comunista um nível de domínio do instrumental teórico marxista e leninista que ele e ninguém no Brasil na década de 1920 poderia ter. Alguém já disse que entre nós o comunismo chegou antes que o marxismo. O Manifesto do Partido Comunista, por exemplo, somente foi publicado no país em 1924, numa tradução feita pelo próprio Brandão.
A partir da década de 1990 ocorreu uma re-interpretação positiva, uma revalorização, desse importante livro. Em um dos artigos do primeiro volume de História do Marxismo no Brasil, editado em 1991, o professor Quartim de Moraes afirmou: “Seus defeitos saltam aos olhos, mas não devem fazer perder de vista nem o pioneirismo doutrinário (…) nem a percepção, que nos parece justa, de que o principal conflito no Brasil de então opunha os interesses da nação aos das oligarquias agrárias. Também são globalmente justas suas observações sobre o imperialismo e a subordinação econômica dos interesses agrários à alta finança inglesa, bem como sobre as perspectivas sombrias que nos reservava nossa posição de monoexportadores de café” (5).
Brandão, como afirmamos, foi o primeiro a apresentar uma estratégia para o jovem movimento comunista brasileiro. Bem antes da V Congresso da Internacional Comunista, ele afirmava o caráter feudal da nossa formação econômico-social e da superestrutura político-jurídica. “Dominado por esse agrarismo econômico bem centralizado”, escreveu ele, “o Brasil tinha de ser dominado pelo agrarismo político, consequência direta daquele. O agrarismo político é a dominação política dos grandes proprietários (…). O fazendeiro de café, no sul, como o senhor de engenho, no Norte, é o senhor. O senhor feudal implica a existência do servo. O servo é o colono sulista das fazendas de café, é o trabalhador de enxada dos engenhos nortistas. A organização social proveniente daí é o feudalismo na cumeeira e a servidão no alicerce” (6).
Para enfrentar o agrarismo propôs a constituição de uma frente interclassista: “O fazendeiro de café só será derrubado pela frente única momentânea do proletariado com a pequena-burguesia e a grande burguesia industrial”. A estratégia da revolução burguesa no Brasil teria como paradigma a revolução francesa de 1789 e a russa de fevereiro de 1917. Buscou reproduzir, a seu modo, a tática indicada por Lênin em 1905. “Apoiemos, como aliados independentes, como classe independente, a pequena-burguesia na sua luta contra o fazendeiro de café, pois, segundo Marx, é preciso sustentar os partidos pequeno-burgueses quando estes resistem à reação. Empurremos a pequena-burguesia à frente da batalha (…). Procuremos arrastar as grandes massas operárias e camponesas em torno de palavras-de-ordem simples, concretas, práticas e imediatas. Não esqueçamos que o Brasil, como a Rússia, é um país agrário (…). Empurremos a revolução da burguesia industrial – o 1789 brasileiro, o nosso 12 de março de 1917 – aos seus últimos limites, a fim, de transposta a etapa da revolução burguesa, abrir-se a porta da revolução proletária, comunista”, escreveu ele (7).
Em outra passagem afirmou: “Concentremos todas as nossas energias, esporeemos a pequena-burguesia e a grande burguesia industrial e, unidos num bloco indestrutível, agitemos as massas em torno de palavras de ordens fundamentais” (8). Por fim, cabe-nos expor a sua previsão genial sobre a crise revolucionária que se abriria apenas alguns anos depois: “Temos, pois em perspectiva, sérias batalhas de classe, isto é, uma situação revolucionária. Se os revoltosos pequeno-burgueses souberem explorar a rivalidade imperialista anglo-americana e a luta entre os agrários e os industriais, se procurarem uma base de classe para a sua ação, se o proletariado entrar na batalha e se essas contradições coincidirem com a luta presidencial e as complicações financeiras, será possível o esmagamento dos agrários (…). Dada esta situação objetiva, a vitória da pequena-burguesia aliada à grande burguesia industrial e, posteriormente, a vitória do proletariado, serão meras questões subjetivas. Dependerão da capacidade dos revoltosos pequeno-burgueses e dos revolucionários proletários” (9).
As teses presentes em Agrarismo e Industrialismo foram dominantes no II Congresso do Partido Comunista do Brasil realizado em 1925. Suas resoluções afirmaram: a “luta entre o capitalismo agrário semifeudal e o capitalismo industrial moderno” foi “a contradição fundamental da sociedade brasileira”.
Suas teses fundamentais foram, no essencial, reafirmadas no artigo “O proletariado perante a revolução democrática pequeno-burguesa”, de 1928. Sua definição de revolução democrática pequeno-burguesa baseava-se na destacada participação política das classes médias urbanas, através do movimento tenentista, nos processos revolucionários de então. Era nítida a confusão entre o conteúdo social das tarefas a serem realizadas pela revolução – burguesa ou proletária – com as forças sociais que assumiriam a direção ou teriam nela um papel destacado. Isso seria corrigido logo em seguida – quando a revolução passou a ser definida simplesmente como democrático-burguesa. Mas, destaque-se, que o próprio termo utilizado por Brandão e Astrojildo para definir a revolução brasileira visava a distingui-la da revolução ocorrida na Rússia em 1917; ou seja, procurava captar as suas peculiaridades, a sua originalidade. No Brasil as classes médias urbanas tiveram uma importância política e social maior que a dos camponeses.
Essas teses foram duramente criticadas pela Internacional Comunista no final de 1929. Na Conferência de Partidos Comunistas da América do Sul, realizada entre abril e maio de 1930, Brandão foi acusado de menchevismo e as resoluções do III Congresso do PCB foram consideradas oportunistas. O esquerdismo e o obreirismo, incentivados pela direção da Internacional, passaram a imperar no interior do PCB. Abandonou-se a proposta de aliança preferencial com a pequena-burguesia urbana, através do movimento tenentista. As reflexões originais sobre a formação econômica e social brasileira foram abandonadas e substituídas por esquemas mais rígidos. Como resultado, quando, em 1930, chegou a “terceira revolta”, prevista por Brandão, os comunistas estavam desarmados politicamente e ficaram completamente isolados.
Caio Prado Júnior e a revolução brasileira
Caio Prado Jr. realizou, pela primeira vez, uma consistente tentativa de analisar o conjunto da história brasileira utilizando o instrumental oferecido pelo marxismo. Neste sentido, foi muito mais longe que o pioneiro ensaio de Octávio Brandão. Evolução Política do Brasil, publicada em 1933, tinha como subtítulo Ensaio de interpretação materialista da História do Brasil. Nesta obra já começava a questionar a tese do predomínio de relações de produção feudais na história do Brasil. Escreveu ele: “no Brasil-Colônia, a simples propriedade da terra, independente dos meios de explorar, do capital que a fecunda, nada significa. Nisto se distingue a nossa formação da Europa medieval saída da invasão dos bárbaros (…). O predomínio econômico e político dos senhores feudais resultou assim direta e unicamente da apropriação do solo, o que automaticamente gerava em relação a eles os laços de dependência dos primitivos ocupantes. Aqui, não (…). Faltou-nos este caráter econômico fundamental do feudalismo europeu” (10). Em nota de rodapé afirmou: “podemos falar de feudalismo brasileiro apenas como figura de retórica, mas absolutamente para exprimir paralelismo que não existe, entre nossa economia e a da Europa medieval” (11).
Ao negar o caráter feudal de nossa colonização, foi para o extremo oposto e acabou afirmando a predominância do capitalismo no Brasil desde os primórdios. Um fato interessante, pelo menos para um autor marxista, é ele não ter utilizado conceitos considerados chave, como modos de produção, relações de produção e formações social-econômicas. Isso foi parcialmente remediado no seu último e mais polêmico livro: A revolução brasileira, de 1966.
A não centralidade de conceitos como relações de produção fez com que fosse também imprecisa a sua noção de classe social – inclusive de burguesia e de proletariado. Para ele, a empresa agroexportadora e seus proprietários eram capitalistas. Assim como o era a superestrutura político-jurídica: o Estado. A sua preocupação excessiva de provar a existência de capitalismo no Brasil levou-o a minimizar a diferença entre trabalho escravo, trabalho servil e trabalho livre. No seu primeiro livro afirmou: “Trabalhadores escravos ou pseudolivres, ou simplesmente rendeiros, todos em linha geral se equivalem. Vivem do seu salário, diretamente de suas produções ou do sustento que lhes concede o senhor; suas condições materiais de vida, sua classificação social é praticamente a mesma” (12). Esta formulação é completamente estranha à teoria marxista das classes sociais.
Caio Prado Jr. também não distinguiu claramente os latifundiários escravistas da burguesia moderna. Isto se traduziu na sua compreensão sobre o caráter do Estado brasileiro durante o império escravista. Chegou à conclusão, incorreta, de que após as derrotas das revoltas regenciais o império havia se estabilizado “no seu natural equilíbrio: a monarquia burguesa” e “a grande burguesia nacional” havia entrado “no gozo indisputado do país” (13). Nada mais claro: se a economia durante o império foi predominantemente capitalista a superestrutura político-jurídica também devia tê-lo sido.
Vários autores, como Nelson Werneck Sodré e Carlos Nelson Coutinho, já alertaram para o fato de Prado Jr. ter confundido a existência, ou mesmo o predomínio, de relações mercantis com a própria existência do modo de produção capitalista. Isto explica ter definido como capitalista uma formação social baseada fundamentalmente no trabalho escravo. Para ele, as relações comerciais eram os fatores determinantes. Em Formação do Brasil Contemporâneo chegou a escrever: “A análise da estrutura comercial de um país revela sempre, melhor que a de qualquer um dos setores particulares da produção, o caráter de uma economia, sua natureza e organização” (14). Ele enquadrou o Brasil colonial como parte, como prolongamento, do sistema capitalista mundial em expansão através da internacionalização do comércio.
Para Caio Prado Jr., se nosso passado colonial e monárquico nunca foi feudal não teria sentido falar em “resquícios feudais” na estrutura social e econômica do Brasil republicano. Visto que o capitalismo já era uma realidade desde o século XVII e a burguesia brasileira a classe politicamente dominante, pelo menos desde a Independência, a própria ideia de revolução burguesa perderia sentido.
Ao negar a revolução burguesa, Prado Jr. negou, inclusive, a existência da “questão da terra” – ou da “questão camponesa”. Subestimou gravemente a importância da luta pela reforma agrária e acreditou que o único problema a ser enfrentado pelo trabalhador rural seria a falta dos direitos sociais e trabalhistas. Escreveu ele: “Numa revolução democrático-burguesa e antifeudal, o centro nevrálgico do impulso revolucionário se encontra na questão da posse da terra reivindicada pelos camponeses (…). Assim, portanto, havia de ser no Brasil também. E essa conclusão apriorística faz subestimar muitas vezes, até mesmo oblitera por completo, o que realmente se apresenta no campo brasileiro. A saber, a profundidade e extensão da luta reivindicatória da massa trabalhadora por melhores condições de trabalho e emprego” (15). Em outra passagem disse: “A conclusão que se há de tirar é, pois, que a reivindicação e a luta pela terra não têm no Brasil a significação revolucionária que se lhe pretende atribuir com base na simples teoria” (16). A história, neste caso, não deu razão a Caio Prado Jr. A luta pela terra viria a adquirir ainda maior dramaticidade a partir da década de 1970 e foi responsável pelo nascimento de movimentos como o MST.
Nelson Werneck Sodré e a tese feudal
No entanto, amplamente predominante até meados da década de 1960 foi a chamada tese feudal. Isto porque foi defendida ardentemente pelo maior partido da esquerda brasileira, o Partido Comunista do Brasil (PCB) até 1962 – quando um cisma deu origem ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) e ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Apesar das diferenças existentes entre a estratégia e a tática dessas duas organizações comunistas, ambas apregoavam a existência de resquícios feudais e a necessidade de serem superados pela revolução de caráter democrático-burguesa. No Brasil, à antiga tradição marxista se juntou outra, a de uma historiografia progressista, de caráter positivista, ou liberal-democrática, que encarava nossa formação econômica como feudal. Portanto, ao contrário do que muitos afirmaram, essa tradição é anterior ao VI Congresso da Internacional Comunista realizado em 1928. Embora não possamos negar a importância deste congresso na consagração (ou sacralização) dessa tese no interior do movimento comunista.
Prestes, no seu polêmico manifesto de 5 de julho de 1935, que serviu de pretexto para o fechamento da Aliança Nacional Libertadora, afirmou: “Marchamos, assim, rapidamente, à implantação de um governo popular revolucionário, em todo o Brasil, um governo do povo contra o imperialismo e o feudalismo (…)” (17). No seu informe político ao IV Congresso do PCB, ocorrido em 1954, reafirmou-se a tese feudal: “Estão, assim, nos imperialistas norte-americanos e nos restos feudais os principais inimigos do progresso do Brasil (…). A revolução brasileira em sua etapa atual é, assim, uma revolução democrática popular, de cunho anti-imperialista e agrário antifeudal. É uma revolução contra os imperialistas norte-americanos e contra os restos feudais (…)” (18). Quanto ao papel da burguesia nacional afirmou: “A burguesia nacional não é, portanto, inimiga; por determinado período pode apoiar o movimento revolucionário contra o imperialismo e contra o latifúndio e os restos feudais” (19). O outro setor da burguesia brasileira – a burguesia compradora – comporia o campo da contrarrevolução.
Coube a dois intelectuais comunistas a adaptação mais consistente dessa tese para o Brasil: Nelson Werneck Sodré e Alberto Passos Guimarães. Este último é autor de um livro emblemático, Quatro séculos de latifúndio. Sodré, por sua vez, buscou, a partir da “tese consagrada”, as especificidades da formação econômica e social brasileira. Ele parte das teses da Internacional Comunista, mas, não se prende dogmaticamente a elas e, por isso mesmo, traz contribuições originais à historiografia brasileira, especialmente a respeito do tema tratado neste livro. Ao contrário das teses predominantes em Caio Prado Jr., escreveu: “As relações que se estabelecem na produção são relações sociais: constituem objetos da História. Elas definem a sociedade sob três aspectos”:
– forma de propriedade sobre os meios de produção, que é uma relação determinante;
– situação social consequente, com a divisão da sociedade em classes;
– formas de distribuição da produção, estabelecendo os nexos entre a produção e o consumo” (20).
Segundo Sodré, a formação econômica e social brasileira era bastante complexa. No período colonial e monárquico existiram simultaneamente relações de produção comunista primitiva, escravista, feudal e capitalista. Com a abolição das relações escravistas (1888) continuaram existindo e convivendo as demais relações, tendo ocorrido uma expansão maior das relações semifeudais e capitalistas (21). Para ele, não se poderia confundir a existência, e mesmo predominância, do capital mercantil com a existência do modo de produção capitalista. O capital mercantil antecede centenas de anos ao capitalismo. E concluiu corretamente: “onde não há trabalho assalariado, não há burguesia, não há capitalismo”.
As três grandes características da nossa formação econômico-social foram: a grande propriedade, modo de produção escravista e o regime colonial. Constatou o predomínio de relações de produção escravistas nos centros econômicos mais importantes do país, pelo menos até a década de 1880. A partir do século XVII as relações de produção feudais (ou semifeudais) se expandiram nas áreas avassaladas pela crise da economia colonial escravista, como as regiões produtoras de cana-de-açúcar nordestina e de mineração. E ganhariam novas regiões com o fim da escravidão. A esse processo denominou de “regressão feudal”. O desenvolvimento do capitalismo no país era obstaculizado pela permanência de relações de produção pré-capitalista (de caráter feudal) e a dependência ao imperialismo, particularmente o norte-americano. Nesse quadro, teria sentido ainda falar em revolução democrática burguesa no Brasil.
Não há dúvida de que Werneck Sodré, apesar de seus acertos, alimentou ilusões sobre a capacidade de a chamada burguesia nacional – na qual inclui setores da grande burguesia – aderir à luta revolucionária antilatifundiária e anti-imperialista. Não se trata aqui de questionar a necessidade de se estabelecer alianças pontuais contra o imperialismo (e o latifúndio), e sim a possibilidade de construção de uma aliança estratégica com aquele setor das classes dominantes num processo verdadeiramente revolucionário. Neste caso, a história não deu razão à tese de Sodré. O golpe de 1954 e, particularmente, o de 1964 demonstraram o papel contrarrevolucionário desempenhado pela grande burguesia brasileira, inclusive a sua fração industrial.
Por fim, gostaríamos de fazer uma observação geral. Contraditoriamente, Caio Prado Jr. e Nelson Werneck Sodré acabaram presos à mesma problemática e, no fundo, a um mesmo esquema teórico. O Brasil só poderia seguir os modelos pelos quais passaram os países capitalistas centrais, que se resumiriam na fórmula: ou feudalismo ou capitalismo. Nenhum deles aventou a possibilidade de constituição de um modo de produção específico para os países latino-americanos.
Gorender e a tese do escravismo colonial
Na década de 1970 uma tese original viria introduzir novos elementos a essa discussão. Ela afirmava que o modo de produção na colônia e no império não foi nem feudal nem capitalista e sim escravista colonial (ou escravista moderno). Os principais defensores dessa ideia foram os historiadores Ciro Flamarion Cardoso e Jacob Gorender.
Nesse momento a historiografia passava a valorizar mais a dinâmica interna à própria formação econômica e social brasileira e desenvolver estudos empíricos. Conforme afirmou José Carlos Ruy, “foi se aprofundando o entendimento dessa dinâmica (interna) de tal forma que, desde então, as formulações oriundas, ou inspiradas, nas teses da Internacional Comunista puderam ser ultrapassadas, no sentido dialético do termo: incorporando a parte racional de suas contribuições, e descartando aquilo que o conhecimento dos fatos desautoriza” (22). Essas teses tradicionais, embora importantes, tenderam a encobrir as especificidades e a originalidade da história brasileira.
Flamarion e Gorender, estudando o período anterior à Abolição, chegaram à conclusão irrefutável de que existiu uma predominância de relações de produção escravistas sobre as demais e, portanto, o modo de produção existente no Brasil deveria ser definido como escravista moderno ou colonial. O paradigma europeu (feudalismo X capitalismo) finalmente podia ser rompido, captando assim a singularidade do caso brasileiro. Gorender foi o que mais desenvolveu essa tese em O Escravismo colonial.
Entre as contribuições dessa obra, ela forneceu a base teórica para uma melhor compreensão da dinâmica da luta de classes durante todo o período colonial e monárquico, especialmente a luta dos negros escravizados. Contraditoriamente, a historiografia marxista anterior – incluindo Caio Prado Jr. e Nelson Werneck Sodré – não tinha colocado como centro de suas preocupações a luta entre as classes fundamentais da sociedade brasileira. Nisto, inclusive, se distinguiram dos trabalhos de Marx e Engels que tinham a luta de classe como central para a compreensão do desenvolvimento da história de seu tempo.
O escravo pôde, assim, aparecer com um novo estatuto na historiografia e na sociologia brasileira. Não era mais um simples elemento passivo, e sim um agente importante no processo de transformação da sociedade. A esta conclusão havia chegado, ainda na década de 1950, o historiador marxista negro Clóvis Moura em Rebeliões da Senzala. A valorização da luta dos escravos, realizada por este autor, se incluía dentro de um quadro teórico ainda limitado. Acredito – e isso não é consensual – que a obra pioneira da Moura encontrará seu complemento no trabalho teórico de Gorender e Flamarion.
O escravismo moderno, predominante no Brasil, desenvolveu-se à sombra – e na sua dependência – do capital mercantil e nos marcos da expansão do modo de produção capitalista nos países da Europa ocidental e nos Estados Unidos. Aqui a escravidão se articulava de maneira dinâmica com uma “economia voltada principalmente para o mercado exterior, dependendo deste o estímulo originário ao crescimento das forças produtivas; a troca de gêneros agropecuários e/ou matérias-primas minerais por produtos manufaturados estrangeiros, com uma forte participação de bens de consumo na pauta de importações” (23).
A exemplo de Werneck Sodré, Gorender não negava a existência de outros “modos de produção” no Brasil colonial e monárquico – relações que não eram capitalistas ou escravistas –, embora fossem reconhecidamente pré-capitalistas. Esta existência está mais do que provada por inúmeras pesquisas históricas realizadas ao longo do século XX. Havia desacordo entre esses dois importantes autores marxistas quanto a defini-las ou não como feudais.
Para Gorender, o capitalismo no Brasil surgiu lentamente a partir da desagregação do modo de produção escravista moderno. Após a “revolução da Abolição” teria se aberto um período histórico intermediário, de transição, em que conviveram, de maneira articulada, elementos desses dois modos de produção. Gorender se recusou a utilizar os termos “resquícios feudais” e “regressão feudal”. Preferiu utilizar o termo impreciso “relações pré-capitalistas”. Ele não resolveria o problema da definição das relações de produção existentes em regiões onde não predominou o escravismo. Nestes casos, talvez, a tese de Sodré estivesse mais próxima da realidade.
Em O Escravismo Colonial Gorender não abordou diretamente o problema da transição econômica e político-social do escravismo para o capitalismo – dois aspectos da revolução burguesa no sentido amplo. No livro A burguesia brasileira chegou, seguindo a opinião de Prado Jr., a afirmar: “a revolução burguesa é uma categoria inaplicável à história do Brasil” (24). No entanto, entrou em contradição com sua própria construção teórica. Não por acaso, nesta mesma obra chegou a afirmar: “a Abolição foi a única revolução social jamais ocorrida na História de nosso país” (25), pois “a extinção do escravismo colonial retirou o principal obstáculo à expansão das forças produtivas modernas e das relações de produção capitalistas, isto não significa, contudo, que o modo de produção capitalista se afirmou de imediato como dominante na formação social emergente” (26).
Em Escravidão Reabilitada, escrito alguns anos depois, afirmou: “A revolução abolicionista fez as vezes da revolução burguesa no Brasil. De maneira taxativa, cabe afirmar que a revolução abolicionista foi a revolução burguesa no Brasil” (27). Eis de volta o problema da revolução burguesa, que ele havia negado categoricamente. Inaplicável ao Brasil era a proposta de revolução burguesa no pós-1950 quando as relações de produção capitalistas passaram a predominar e a burguesia brasileira já havia se tornado classe politicamente dominante.
A Via Prussiana de desenvolvimento capitalista no Brasil
Mas, afinal, quais as particularidades dessa revolução burguesa brasileira? O capitalismo no Brasil é um capitalismo tardio. Aqui o processo de revolução burguesa, num sentido amplo, coincidiu com o tempo histórico em que a burguesia dos países capitalistas centrais havia deixado de ser revolucionária. Assim a burguesia nascente evitou envolver as massas populares, especialmente os camponeses, nos movimentos políticos e revolucionários. Essa revolução desdobrou-se em inúmeros episódios, que assinalaram seu avanço “lento, gradual e seguro”. No Brasil, o fim do tráfico negreiro (1850), a Abolição da escravidão (1888), a Proclamação da República (1889) e a derrubada da República Velha (1930) foram marcos dessa revolução burguesa a “fogo lento”.
O processo de revolução burguesa no Brasil, em geral, foi marcado pela passagem do predomínio de relações de produção escravistas, ou feudais, para o predomínio de relações de produção propriamente capitalistas. Fenômeno marcado pela alteração no nível e na forma de desenvolvimento das forças produtivas, consolidação de novas classes fundamentais, por uma nova configuração do poder político e constituição (ou reformulação) dos instrumentos de dominação ideológica e do próprio conteúdo da ideologia dominante.
Ele foi longo, não se deu de uma única vez e nem através de uma ruptura brusca. Existiu todo um período de transição da década de 1880 até a década de 1950 – tal processo, para alguns, ainda está inconcluso. Esse processo teve na Independência (1822), na Abolição da escravidão (1888), na proclamação da República (1989) e na Revolução de 1930 seus marcos decisivos. A construção do Estado burguês no Brasil – ou seja, a revolução política burguesa estrito senso – fez parte desse longo processo, mas teve suas especificidades e ritmos próprios.
Até o início da década de 1930 o país esteve sob domínio semiabsoluto das oligarquias latifundiárias e do capital mercantil. Ele ocupava um lugar bem determinado na divisão internacional do trabalho imposta pelo colonialismo e depois pelo imperialismo: como produtor de matérias-primas e alimentos (açúcar, café, algodão, cacau, borracha etc.) para o mercado mundial, e como importador de artigos industrializados, com maior valor agregado. Essa aliança entre a oligarquia latifundiária – pré-capitalista – e o grande capital mercantil dominou a economia e a política brasileira, ajudando a configurar a nossa sociedade nos primeiros séculos de nossa existência. A vitória plena do capitalismo deveria passar pelo deslocamento desses setores do centro do poder político.
Outra caracteristica do processo de revolução burguesa no Brasil foi a manutenção, após a Revolução de 1930, da estrutura agrária arcaica assentada no latifúndio. Os latifundiários abriram mão da participação no núcleo duro do poder político, em troca o Estado garantiu a manutenção da propriedade monopolizada da terra e estabeleceu um firme compromisso de que direitos sociais e trabalhistas não seriam estendidos às massas do campo que, até a década de 1950, constituíram a maior parte da população brasileira. Portanto, o preço pago pelo desenvolvimento industrial capitalista foi a manutenção da maioria do povo brasileiro na condição de não-cidadãos, excluídos dos principais direitos sociais e trabalhistas, condenados ao analfabetismo, à miséria e à dependência pessoal em relação aos senhores de terra.
Como já vimos, a esse fenômeno Lênin e Lukács deram o nome de “via prussiana” e Gramsci de “revolução passiva”. Ao contrário das revoluções burguesas clássicas, como a francesa, nas quais se estabeleceu, ainda que inicialmente, uma aliança com as classes populares, especialmente os camponeses – e, por isso mesmo, elas se revestiram de uma forma e um conteúdo mais radicais – a “via prussiana” se assentou numa aliança da burguesia com o latifúndio, preservando a estrutura agrária arcaica anterior. A industrialização avançou mantendo as estruturas sociais conservadoras, a opressão camponesa e a dependência externa.
O debate em torno da via prussiana no Brasil começou no final da década de 1950. Uma das primeiras referências apareceu nos debates preparatórios ao V Congresso do PCB em 1960. O pioneiro na introdução do tema foi o líder comunista João Amazonas. Em um de seus artigos escreveu: “O capitalismo, seguindo o caminho prussiano, pôde se desenvolver no campo, conservando o latifúndio. Pôde também o capitalismo crescer, subsistindo a dependência do país ao imperialismo (…). Não é o crescimento do capitalismo que leva à independência e às transformações democráticas (…). O desenvolvimento do capitalismo e a participação da burguesia no poder não conduzem implicitamente à democratização do país. A liberdade não é inerente ao capitalismo” (28).
A tese da “via prussiana” foi re-introduzida por Carlos Nelson Coutinho no início da década de 1970. Ele escreveu: “O caminho do povo brasileiro para o progresso social – um caminho lento e irregular – ocorreu sempre no quadro de uma conciliação com o atraso, seguindo aquilo que Lênin chamou de ‘via prussiana’”. Em artigo posterior escreveu: “todas as grandes alternativas concretas vividas pelo nosso País, direta ou indiretamente ligadas àquela transição (Independência, Abolição, República, modificação no bloco no poder em 1930 e 1937, passagem para um novo patamar de acumulação em 1964), encontram uma resposta ‘à prussiana’ (…). Portanto, a transição do Brasil para o capitalismo (…) se processou também segundo o modelo de ‘modernização conservadora’ prussiana” (29).
A “via prussiana” deu um forte teor conservador à transição capitalista no Brasil. Impedindo a realização do que, em tese, seria uma das principais tarefas de uma revolução democrática burguesa: a reforma agrária antilatifundiária. O reflexo superestrutural dessa política de conciliação com o atraso foi a dificuldade de implantação de uma democracia estável e ampliada. Um dos exemplos mais evidentes disso foi o longo período de ilegalidade e clandestinidade a que foi obrigado viver o Partido Comunista do Brasil e a falta de liberdade sindical com a qual os trabalhadores da cidade e do campo conviveram durante todo o período de 1930 a 1985.
* Esta é a segunda parte do texto elaborado para mesa “História e Revolução” integrante do Simpósio Internacional “Os Rumos da História”, promovido pelo Departamento de História da FFLCH-USP em 2004. Publicado no livro “Marxismo, história e revolução brasileira: encontros e desencontros”
* Augusto C. Buonicore é historiador, presidente do Conselho Curador da Fundação Maurício Grabois. E autor dos livros Marxismo, história e a revolução brasileira: encontros e desencontros, Meu Verbo é Lutar: a vida e o pensamento de João Amazonas e Linhas Vermelhas: marxismo e os dilemas da revolução. Todos publicados pela Editora Anita Garibaldi.
BIBLIOGRAFIA
BRANDÃO, Octávio. Agrarismo e industrialismo, 1926 (o livro saiu com o pseudônimo de Fritz Mayer).
COUTINHO, Carlos Nelson. Cultura e sociedade no Brasil, Oficina de Livros, s/d.
FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil, Guanabara, RJ, 1987.
GORENDER, Jacob. O escravismo colonial, Ática, SP, 1980.
________________. A escravidão reabilitada, Ática, SP, 1990.
________________. A burguesia brasileira, Brasiliense, SP, 1982.
HOLLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil, José Olympio, RJ, 1983.
IANNI, Octávio. O ciclo da revolução burguesa, Vozes, RJ, 1984.
LAPA, José Roberto Amaral (org.). Modos de produção e realidade brasileira, Vozes, Petrópolis, 1980.
PRADO Jr., Caio. Evolução Política do Brasil, Brasiliense, SP, 1980.
_______________. História Econômica do Brasil, Brasiliense, SP, 1982.
_______________. A revolução brasileira, Brasiliense, SP, 1987.
_______________. Formação do Brasil Contemporâneo, Brasiliense, 2000.
QUARTIM DE MORAES, João (org.). História do marxismo no Brasil, Vol. 1, Paz e Terra, SP, 1991.
_______________________. “Nelson Werneck Sodré: a fundação marxista do programa nacional-democrático”, in SILVA, Marcos. Nelson Werneck Sodré na historiografia brasileira, Edusc, SP, 2001.
RUY, José Carlos. “Visões do Brasil” – in Princípios, n. 52 a 59, Anita Garibaldi, SP, 1999/2000.
SAES, Décio. A formação do Estado burguês no Brasil (1888-1891), Paz e Terra, SP, 1985.
__________. Estado e democracia: Ensaios teóricos, IFCH/Unicamp, 1994.
SODRÉ, Nelson Werneck. Introdução à revolução brasileira, Civilização Brasileira, RJ. 1967.
____________________. Formação histórica do Brasil, Civilização Brasileira, RJ, 1979.
____________________. A história da burguesia brasileira, Vozes, RJ, 1983.
____________________. Capitalismo e revolução burguesa no Brasil, Graphia, RJ, 1997.
Notas
(1) HOLLANDA, S. B. de. Raízes do Brasil, p. 135.
(2) PRADO JR., C. A revolução brasileira, p. 11.
(3) SODRÉ, N. W. Capitalismo e revolução burguesa no Brasil, p. 87.
(4) FERNANDES, F. A Revolução burguesa no Brasil, p. 201.
(5) QUARTIM DE MORAES, História do marxismo no Brasil, vol. 1, p. 79.
(6) BRANDÃO, O. Agrarismo e industrialismo, p. 9.
(7) Idem, p. 58-59.
(8) Idem, p. 85.
(9) Idem, p. 67.
(10) PRADO JR., C. Evolução política do Brasil, p.18.
(11) Idem.
(12) Idem, p. 28.
(13) Idem, p. 79.
(14) PRADO JR., C. Formação do Brasil contemporâneo, p. 266.
(15) Idem, p. 53.
(16) Idem, 139.
(17) PRESTES, in CARONE, E. PCB, vol.1, p. 180.
(18) PRESTES, L. C. “IV Congresso do PC do Brasil”, in Problemas, n. 64, p. 57.
(19) Idem, p. 61.
(20) SODRÉ, N. W. Formação histórica do Brasil, p. 3-4.
(21) Idem.
(22) RUY, J. C. “Feudalismo versus capitalismo”, in Princípios, n. 56.
(23) GORENDER, J. Escravismo colonial.
(24) GORENDER, J. A burguesia brasileira, p. 112.
(25) Idem, p. 21.
(26) Idem, p. 25.
(27) GORENDER, J. Escravidão reabilitada, p. 188.
(28) AMAZONAS, João. “Uma linha confusa e de direita”, in Novos Rumos, 10 a 16 de junho/1960.
(29) COUTINHO, C. N. Cultura e sociedade no Brasil, p. 43.