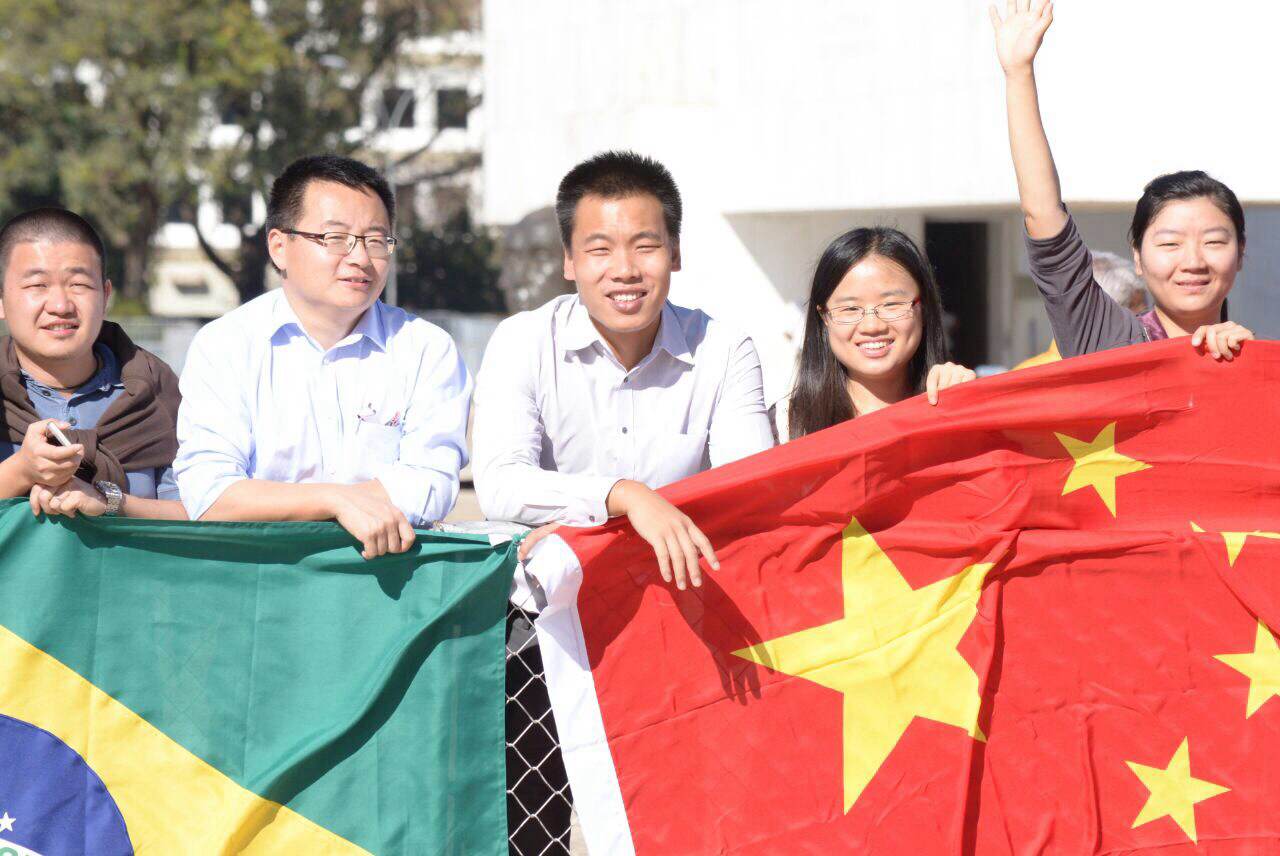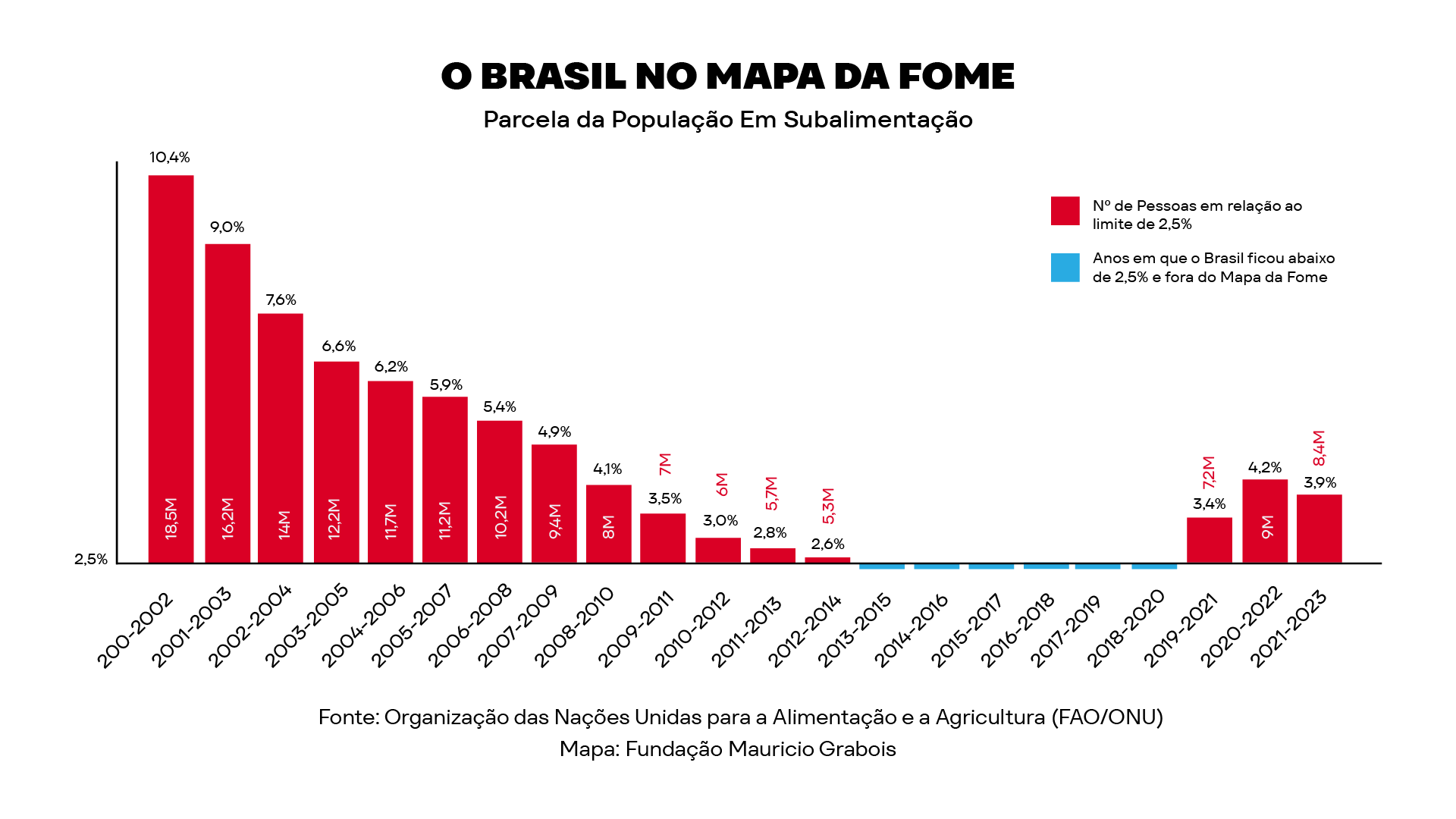1. Observação preliminar
Existe um rico debate no campo do marxismo brasileiro sobre as particularidades da nossa formação econômica e social. Isso tem impacto direto sobre nossa compreensão da própria formação e das particularidades do Estado no Brasil. Faremos uma descrição brevíssima e, portanto, limitada das três principais correntes.
O grande historiador Nelson W. Sodré, grosso modo, define o modo de produção predominante no pré-1930 como semifeudal – assentado no latifúndio e nas relações sociais pré-capitalistas. Para ele, a Revolução de 1930 foi o marco fundador da sociedade burguesa no Brasil, mas sem romper definitivamente com os resquícios feudais. Portanto, a revolução democrática burguesa (antilatifundiária, anti-imperialista) continuava na ordem-do-dia. Dentro dessa visão, o Estado brasileiro só poderia ser um Estado com características semifeudais (pré-burguesas).
O historiador Caio Prado Jr., pelo contrário, definiu o modo de produção no Brasil, desde as suas origens, como capitalista –, pois a economia brasileira se inseria nos marcos da circulação capitalista de mercadorias e capitais. Portanto, o Estado brasileiro sempre foi capitalista. Como conclusão lógica, não teria lugar para se falar de uma revolução burguesa no Brasil. Isto levou a uma subestimação das tarefas democráticas, especialmente a reforma agrária antilatifundiária.
A terceira vertente é representada pelo historiador Jacob Gorender. Para este, o modo de produção no Brasil da colônia até 1888 foi escravista colonial. O professor Décio Saes, seguindo as indicações de Jacob Gorender, afirma ter sido o Estado nacional brasileiro, de 1822 a 1888, escravista moderno, e ter-se transformado em Estado burguês após a Proclamação da República e a promulgação da Constituição de 1891. Para ele, a Revolução de 1930 também foi um dos momentos importantes para a consolidação do Estado burguês moderno no país. Esta posição, com algumas nuanças, foi defendida por José Carlos Ruy em vários artigos publicados na revista Princípios, sob o título “Visões do Brasil”.
Toda esta longa introdução, ainda limitada e insuficiente, é para justificar a opção por uma das explicações sobre a gênese e as particularidades do Estado capitalista no Brasil: aquela, para a qual o Estado brasileiro antes de 1889 não poderia ser considerado, estrito senso, como capitalista. Ele foi, fundamentalmente, um Estado pré-capitalista – escravista moderno – que, em grande parte, obstaculizava o desenvolvimento do modo de produção capitalista no Brasil.
O Estado capitalista moderno, por um lado, só pôde ser implantado após a Abolição da escravidão e a Proclamação da República. A Revolução de 1930, por outro, foi um dos marcos fundamentais na consolidação desse Estado e para a construção das bases de um capitalismo nacional, embora dependente. Os anos 1888-1889 e 1930 são decisivos para compreendermos o processo de constituição do Estado capitalista no Brasil e suas limitações.
2. Estado e revolução burguesa no Brasil
O processo de revolução burguesa no Brasil, em geral, foi marcado pela passagem do predomínio de relações de produção escravistas, ou feudais, para o predomínio de relações de produção propriamente capitalistas e, consequentemente, pela alteração no nível e na forma de desenvolvimento das forças produtivas, pela consolidação de novas classes fundamentais, por uma nova configuração do poder político e pela constituição ou reformulação dos instrumentos de dominação ideológica e do próprio conteúdo da ideologia dominante.
O modo de produção, em certo sentido, é uma abstração. Ele não existe em estado puro. Nas formações sociais concretas articulam-se diversos “modos de produção”. Ou melhor, convivem lado a lado relações de produção diversificadas. O próprio socialismo conviveu um longo período com relações sociais de produção díspares e em disputa. Quando dizemos o modo de produção como capitalista estamos apenas afirmando que as relações de produção dominantes são capitalistas e as demais subordinadas a ela.
O processo de revolução burguesa no Brasil foi longo. Ele não se deu de uma única vez e nem através de uma ruptura brusca. Existe todo um período de transição – da década de 1880 até a década de 1930 –; para muitos, um processo ainda inconcluso. Contudo, esse processo tem na Abolição da escravidão (1888) e na Proclamação da República (1989) marcos decisivos. A construção do Estado burguês no Brasil – ou seja, revolução política burguesa, estrito senso – faz parte desse longo processo, mas tem suas especificidades e seu ritmo próprio.
A formação do Estado nacional brasileiro (escravista) teve na proclamação da Independência em 1822 seu momento decisivo, mas ele só se concluiu em 1831, quando da abdicação e o exílio de D. Pedro I. Afirmou Caio Prado Jr.: “O Primeiro Reinado não passara de um período de transição (…). Com a abdicação de D. Pedro I chega a revolução da independência ao termo natural de sua evolução: a consolidação do Estado Nacional”.
No entanto, ao contrário de Caio Prado Jr., acreditamos que o Estado nacional brasileiro do período pós-colonial – o Estado imperial (1822-1889) – tenha sido fundamentalmente um tipo de Estado escravista moderno. Tese defendida por Décio Saes.
3. O que é um Estado escravista moderno?
O Estado escravista moderno no Brasil foi um aparelho especial a serviço da conservação e reprodução das relações de produção escravistas, do latifúndio e da monocultura agroexportadora. Foi o reflexo superestrutural da predominância de relações escravistas na formação social brasileira no século XIX. Ele – como todo Estado pré-capitalista – proibia o acesso de membros da classe explorada fundamental, o escravo, às funções públicas estatais (exceto as tarefas serviçais).
O direito escravista conferia tratamento jurídico desigual aos socialmente desiguais. Ele dividia os homens em duas categorias distintas: aqueles dotados de vontade subjetiva e os carentes de vontade subjetiva, ou seja, distinguia entre pessoas e coisas. Durante séculos conferiu ao proprietário de escravo o direito privado de castigar fisicamente (e até mesmo matar seu escravo-propriedade). Mas, o escravo não era uma coisa e nenhuma lei do mundo podia transformar homens em coisas. A luta de classes impôs limites nesta situação iníqua.
Décio Saes apontou o fato curioso de a palavra escravo não ter sido citada no texto constitucional do império (1824) e mesmo na Consolidação das Leis Civis (1855) todos os artigos referentes à escravidão terem sido colocados em rodapés, formando, assim, um verdadeiro “Código Negro” à parte. Contraditoriamente, isso seria uma demonstração do caráter de classe da legislação imperial e ao mesmo tempo um indício inequívoco da situação defensiva em que se encontrava a ideologia escravista no início do século XIX. Um século fortemente marcado pela ideologia liberal.
Já o Código Criminal (1830) e a Lei Processual (1835) estabeleciam pesadas penas aos delitos de insurreição e atentados contra a vida dos proprietários, promovidos por escravos. Entre as penas se incluía a execução sumária. A mesma severidade não atingia o senhor que mutilasse e matasse um escravo, um agregado ou mesmo sua própria esposa e filhos. As leis brasileiras permitiam, inclusive, a aplicação de castigos físicos privados, diga-se tortura – numa espécie de privatização da justiça. Apenas a partir de 1865 foram proibidos os “ferros” e o uso de chicote nos trabalhos no eito e, em 1886, qualquer castigo corporal privado. Isto ocorreu apenas dois anos antes da Abolição e no auge do movimento abolicionista.
O Estado nacional brasileiro que nasceu após a Independência e, particularmente, com a Constituição outorgada de 1824 refletiu a dominação de classe existente. Um artigo da Constituição que estava sendo elaborada pelos deputados brasileiros – antes do fechamento do parlamento – refletia bem a ideologia e o programa das classes dominantes brasileiras. Ele afirmava: “A Constituição reconhece os contratos entre os senhores e escravos; o governo vigiará sua manutenção”. Esta seria uma tentativa esdrúxula de cobrir o escravismo com o manto da ideologia liberal. Pela Constituição, por exemplo, os escravos não eram nem considerados brasileiros.
4. Legislação limitando a extensão do escravismo e abolindo a escravidão
A partir de 1831 deveria ser proibido o comércio intercontinental de escravos com o Brasil. Esta lei foi fruto de uma pressão inglesa visando a eliminar o tráfico negreiro internacional. Mas, a pressão interna dos grandes comerciantes e latifundiários escravistas impediu que ela fosse aplicada e, por isso mesmo, foi considerada apenas uma lei “para inglês ver”. Apenas em 1850, diante da agressividade cada vez maior da marinha inglesa contra o “comércio infame”, foi aprovada a Lei Euzébio de Queirós que proibiu definitivamente a entrada de escravos africanos no Brasil.
Um decreto de 1864 emancipou os africanos desembarcados no país após a lei de 1831. Trinta e três anos depois da primeira lei contra o tráfico estimava-se existirem ainda cerca de 500 mil pessoas escravizadas ilegalmente. Mais uma vez a lei ficou no papel pela impossibilidade de se provar a situação real da maioria desses negros ainda escravizados. Este teria sido um dos temas sobre o qual se travou uma acirrada luta jurídica e política entre abolicionistas e escravistas na década de 1880. Nesta batalha se destacou o eminente advogado abolicionista negro Luís Gama.
Diante do crescimento da luta abolicionista e do protesto internacional, o parlamento imperial aprovou, em 1871, a Lei do Ventre Livre que deu liberdade a todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Mas, o proprietário poderia ainda manter o “liberto” sob sua guarda até os 21 anos de idade – ou seja, até 1891. A lei serviu para desorganizar momentaneamente o movimento abolicionista, afastando dele os elementos mais conciliadores.
A década de 80 do século XIX conheceu um novo ascenso da luta pela libertação dos escravos. O movimento abolicionista cresceu e mudou de qualidade. Fortaleceu-se a ala radical. Uma das respostas do governo imperial foi a aprovação da Lei do Sexagenário em 1885. Ela libertava os escravos com mais de 60 anos, mas obrigava os velhos libertos a prestar serviços compulsórios por mais três longos anos, ou seja, até 1888. Essa lei não conteve o ímpeto dos abolicionistas. Ninguém aceitava mais as medidas protelatórias do império visando a retardar a Abolição.
Mesmo com a promulgação dessas leis, aparentemente emancipacionistas, a perseguição aos abolicionistas radicais prosseguiu e ampliou-se. Houve um endurecimento da legislação antiabolicionista e aumentaram os atos de terrorismo praticados por bandos ligados aos latifundiários escravistas. O imperador destituiu os presidentes da província de Ceará e Amazonas simplesmente por terem permitido a Abolição regional da escravidão, puniu militares abolicionistas, como Sena Madureira.
A Abolição da escravidão veio apenas em 13 de maio de 1888, através da lei Áurea. Na ocasião o Brasil contava ainda com uma população de 723 mil escravos. Em Minas Gerais existiam 192 mil e em São Paulo 107 mil deles. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão.
A luta de classes teve papel fundamental para a desagregação desse modo de produção. Nos últimos anos da escravidão se compôs uma ampla frente abolicionista envolvendo os escravos, a pequena-burguesia urbana, a jovem burguesia industrial e o proletariado – e setores da burocracia de Estado. Houve uma articulação de fugas em massa de escravos, apoiadas pelos abolicionistas, e uma grande campanha realizada na imprensa e no parlamento. A libertação dos escravos, portanto, foi fruto de uma grande luta popular e não de uma dádiva da família imperial; e, por isso mesmo, deve ser comemorada.
5. O “bloco no poder” durante a monarquia escravista
No Segundo Império o bloco no poder era composto pelo conjunto das frações de classe dos grandes proprietários agrários – latifundiários – e comerciantes de escravos; dele estavam excluídos os escravos, os camponeses, os trabalhadores livres manuais e as classes médias urbanas. Num primeiro momento, até 1850, os comerciantes de escravos detinham grande força nesse bloco – muitos o consideravam como fração hegemônica. No entanto, a fração hegemônica no final do império foi a dos grandes latifundiários escravistas do Nordeste brasileiro, vinculados à decadente produção de cana-de-açúcar, e do Vale do Paraíba. Os grandes proprietários escravistas do Oeste de São Paulo, ligados à moderna produção de café, estavam subrrepresentados no bloco do poder imperial. Isto ocorreu mesmo no final da monarquia, quando já eram os principais sustentadores da economia brasileira. Este fato os afastou da monarquia e os aproximou da República.
6. A Centralização política e eleições
A Constituição imperial, outorgada em 1824, atribuiu um caráter autoritário e centralizado ao Estado nacional brasileiro. Ela criou, ao lado dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário), um quarto poder: o moderador. Este dava ao imperador poderes semiabsolutos.
Não havia separação dos três poderes, mas sim uma ampla ascendência (legalmente estabelecida) do poder moderador sobre os demais – estabelecendo um verdadeiro regime semiabsolutista. A centralização política e administrativa foi a melhor forma de os senhores escravistas defenderem seus interesses comuns: manter a escravidão e o latifúndio.
O imperador poderia, inclusive, dissolver a Câmara dos Deputados, “caso estivesse ameaçada a sobrevivência do Estado”. O senado também era escolhido por ele a partir de uma lista tríplice, elaborada pelas assembleias provinciais, e o mandato era vitalício. Segundo a Constituição, a nomeação e a remoção dos presidentes das províncias cabia apenas ao imperador. A ele cabia soberanamente prover todos os cargos públicos, como juízes e delegados.
Era prerrogativa exclusiva do monarca indicar o deputado que seria o chefe do gabinete ministerial que, por sua vez, indicaria o ministério. Durante a monarquia bragantina houve 48 gabinetes ministeriais – cerca de um por ano. Neles se revezavam liberais e conservadores, os dois grandes partidos escravistas do império.
Quando se mudava um gabinete ocorria o que se denominava “derrubadas”. Além do “primeiro ministro” (e seu ministério), caíam os presidentes das províncias, os chefes de polícia, os comandantes militares, os juízes e demais funcionários públicos. Era uma verdadeira revolução política, que abalava a administração do império. Não havia estabilidade para as funções públicas – excluindo, é claro, para o cargo de imperador, senador e conselheiro de Estado – e nem critérios objetivos de ascensão na carreira. Não havia, estrito senso, o burocratismo típico dos Estados capitalistas desenvolvidos.
Durante todo o período imperial o direito ao voto foi vinculado a algum tipo de censo, baseado na propriedade da terra (voto censitário). Não existia o sufrágio universal. Estavam excluídos os escravos, os índios, os trabalhadores não-proprietários, as mulheres etc. Até 1881 os não católicos também não podiam votar.
O patrimonialismo foi outra das características do Estado monárquico escravista brasileiro. Durante a maior parte da sua história não houve uma clara separação entre o público e o privado. O poder político – e suas instituições – se confundia com o patrimônio do senhor.
Ao lado do Exército regular, sempre desprestigiado, existia um corpo militar oligárquico chamado Guarda Nacional. No início seus comandantes eram eleitos diretamente pelos proprietários de terra e depois passaram a ser indicados pelo próprio imperador. O armamento e o uniforme eram providos pelos escravistas. O público novamente se fundia com o privado.
Por fim, no Brasil imperial, a Igreja era vinculada ao Estado. O Padroado dava ao imperador o poder de indicar nomes para preenchimento dos cargos de bispo. Em troca, os membros do clero recebiam proventos do Estado, transformando-se em simples funcionários públicos. Tal Beneplácito obrigava as bulas papais a passar pela sanção do imperador antes de ter validade no país. Por outro lado, não havia batismo, casamento e funeral públicos, apenas eram reconhecidos os realizados pela igreja católica. Esta acabou sendo um departamento do Estado escravista e seu principal aparelho ideológico. A igreja se manteve fiel ao escravismo até o fim e, apesar de suas constantes crises com a coroa, jamais apoiou o movimento republicano.
A política econômica do Estado imperial escravista não era apenas não industrializante, mas uma política anti-industrialista. A direção do Estado conscientemente buscava sabotar a formação de uma economia de base capitalista. O historiador Jorge Caldeira, autor de uma famosa biografia de Mauá, escreveu no primeiro número da revista Bonifácio: “Ao longo do século XIX, embora abolida a ilegalidade, foram mantidas todas as espécies de restrições à formação de empresas. Mesmo em pleno segundo reinado, para se formar uma associação de capitais num negócio era preciso autorização pessoal do imperador, num processo que demorava alguns anos – e aos quais muito poucos tinham acesso. Não à toa, apenas uma dúzia dessas autorizações foi concedida até 1870”.
7. A Abolição, a Proclamação da República e a formação do Estado burguês
A Abolição da escravidão (1888), a Proclamação da República (1889) e a Constituição de 1891, segundo Décio Saes, transformaram “o Estado escravista moderno em Estado burguês, sem que se tenha estabelecido previamente a dominância de relações de produção capitalistas. Na verdade, tal revolução criou as condições necessárias – porém, não suficientes – ao estabelecimento (…) do modo de produção capitalista; (…), porém, não imediatamente após”.
Depois da Abolição e da Proclamação da República o Direito mudou de conteúdo e passou a tratar de maneira igual os diferentes – todos passaram a ser possuidores de vontade subjetiva. Todos passaram a ter direito ao acesso às funções públicas que, por sua vez, passaram a se reger pelos critérios formais de capacidade e competência. Criaram-se as condições para a formação de uma burocracia pública mais estável. O público, formalmente, foi se separando do privado.
A República (e sua Constituição) consolidou o desmantelamento da monarquia semiabsolutista: extinguiu o poder moderador, o Conselho de Estado, o Senado vitalício e a guarda nacional. Aboliu o regime eleitoral censitário e estabeleceu eleições diretas para presidente da República, para os presidentes das províncias (ou estados), para o parlamento nacional e para as assembleias estaduais. Separou a Igreja do Estado e constituiu um Estado laico (o que não eliminou a perseguição às religiões afro-brasileiras).
A Constituição de 1891 implantou o presidencialismo e o federalismo mitigado, que dava maior liberdade aos estados. Estes, agora poderiam eleger seus presidentes (ou governadores). Passaram a ter autonomia financeira, tributária e de contratação de funcionários civis. Poderiam, inclusive, ter agrupamento armado própria – a força pública. Mas, ao contrário do que acontecia nos EUA, existia uma maior limitação na capacidade legislativa dos estados.
O Brasil conheceu no final da década de 1880 e início de 1890 transformações políticas importantíssimas. Este período representou um marco no processo de revolução política burguesa. Abriu caminho para que a revolução burguesa, num sentido amplo, continuasse o seu caminho e as relações de produção capitalistas pudessem se impor sobre o conjunto da economia – o que só ocorreria muitas décadas depois. A revolução política burguesa antecedeu às transformações econômicas e à própria hegemonia política do setor industrial sobre o Estado. Existiu uma natural defasagem entre o ritmo das transformações políticas e o das transformações econômicas.
8. A República da Espada (1889-1894)
Entre 1889 e 1894 as classes médias urbanas – na forma de uma semiditadura militar (Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto) – se tornaram classe reinante [1]. O primeiro ministério refletiu as condições particulares em que se deu a Proclamação da República. Vários ministros representavam as classes médias e o republicanismo mais ou menos radical: como Ruy Barbosa e Benjamin Constant. Apenas dois eram representantes da oligarquia agroexportadora paulista: Campos Salles e Prudente de Moraes.
Ou seja, nos primeiros anos da República, os grandes fazendeiros paulistas e os setores ligados à produção e comercialização do café participavam do Bloco no Poder, mas não como forças hegemônicas. Do novo bloco participavam também a jovem burguesia industrial e os setores agrários vinculados às províncias e que no passado haviam dado sustentação ao império. Estava excluído do Bloco no Poder o conjunto das classes exploradas fundamentais: operários e camponeses.
Este foi um período de grandes lutas pela manutenção da República e pela conquista da hegemonia política na direção do Estado. O marechal Deodoro se elegeu, contra Prudente de Moraes, graças à pressão das forças armadas. Em pouco tempo destituiu o primeiro ministério, fechou o Congresso e acabou tendo que renunciar. Seu sucessor, o marechal Floriano Peixoto, enfrentou a Revolução Federalista no Sul, uma revolta da armada e travou uma acirrada luta política contra a oligarquia paulista.
Os dois primeiros presidentes militares adotaram políticas econômicas que favoreceram a industrialização. Ruy Barbosa, o primeiro-ministro da Fazenda da República, estabeleceu uma política emissionista visando a fortalecer o mercado interno e a nascente indústria. No entanto, a principal beneficiada foi a burguesia bancária brasileira que tinha uma grande influência política. Alguns autores chegam mesmo a afirmar ter sido ela que, de fato, deteve a hegemonia nesses primeiros anos republicanos.
A política econômica de Ruy Barbosa deu alguns resultados positivos, mas acabou gerando uma vertiginosa espiral inflacionária e uma crise financeira, das quais se utilizaram amplamente as forças agraristas. Durante toda a Primeira República, o protecionismo e o industrialismo foram associados a carestia de vida. Essa “ideologia” conservadora serviu para soldar uma sólida aliança entre as oligarquias agrárias e setores populares, especialmente de classe média, contra os projetos de industrialização do Brasil.
9. A hegemonia das oligarquias agroexportadoras cafeeiras
A partir de 1894, com a eleição de Prudente de Moraes, a oligarquia paulista (fazendeiros, burguesia comercial e bancária ligadas ao financiamento, produção e comercialização do café) tornou-se força hegemônica no Bloco de Poder, isolando as classes médias e subordinando as oligarquias regionais ligadas à produção para o mercado interno. Em 1898 assumiu Campos Salles, o arquiteto da República oligárquica, posteriormente denominada pela historiografia de República Velha (1889-1930).
No seu governo a nova hegemonia se consolidou com o apoio de setores das oligarquias regionais. Estabeleceram-se a “Política dos governadores” e a “Política do Café com Leite”. Através da primeira, os governadores apoiariam integralmente a ação do presidente da República e este, por sua vez, apoiaria o grupo dominante no Estado – impedindo que forças de oposição pudessem chegar ao poder.
Esse acordo propiciou a montagem de um grande esquema de coação e de fraude nas eleições. Os membros das mesas de votação e de apuração eram indicados pelos coronéis locais e não havia título eleitoral. O voto era aberto e isto propiciava o controle pelas autoridades locais e o suborno sobre os eleitores. Nestas eleições, sem fiscalização, até os mortos votavam e no “bico de pena” os resultados eram alterados e enviados ao parlamento.
Mesmo os candidatos oposicionistas que escapavam das fraudes nas mesas de votação e de apuração poderiam ter a sua vitória não homologada pela comissão de reconhecimento dos mandatos do Congresso Nacional. Esse processo era chamado de “degola”. Não havia justiça eleitoral e todas as pendências eram também decididas por uma comissão de deputados e senadores, em geral, ligados ao partido dominante – o Partido Republicano Paulista (PRP).
A “Política do Café com Leite” estabeleceu um acordo permanente entre os governos oligárquicos dos dois principais estados brasileiros (São Paulo e Minas Gerais), pelo qual os candidatos à presidência da República deveriam, necessariamente, sair do consenso dos dois governos. Mesmo um presidente não nascido em nenhum desses estados, como Epitácio Pessoa (PB), só poderia se eleger através desse acordo.
Não existiram partidos nacionais durante a República Velha. Existiam apenas partidos oligárquicos regionais, sendo o mais importante o Partido Republicano Paulista (PRP). No início da República existiu ainda a experiência efêmera do Partido Republicano Federal. O primeiro com pretensões nacionais foi o Partido Comunista do Brasil (PCB), fundado em março de 1922.
Nesse período houve um crescimento da luta e da organização da classe operária. Os trabalhadores exigiam melhores salários e condições de trabalho. Lutavam também pela implantação de uma legislação social e trabalhista que lhes fosse favorável. A resposta do governo foi uma dura repressão, na qual não faltaram agressões, prisões, deportações… e assassinatos. Na República Velha a questão social era considerada um caso de polícia. Essa política antioperária correspondia plenamente aos interesses da jovem burguesia industrial. Se o liberalismo oligárquico (e anti-industrialista) era um obstáculo ao seu pleno desenvolvimento enquanto classe e, por isso mesmo, objeto de severas críticas, as políticas repressivas e antioperárias do Estado lhe eram benéficas e recebiam o seu apoio irrestrito.
10. As bases da hegemonia da oligarquia paulista
A ideologia dominante no período reafirmava a vocação agrária do Brasil e denunciava os projetos industrialistas como antagônicos com os interesses nacionais. Os setores ligados à economia agroexportadora cafeeira construíram a sua hegemonia político-ideológica a partir de dados da realidade: no último ano da República Velha (1929) mais de 70% dos lucros provenientes do total da exportação provinham do café. Portanto, o café garantia a estabilidade de nossa balança comercial, o que, por sua vez, criava melhores condições para a importação dos produtos necessários à população. O imposto sobre importação era a principal fonte de receita do Estado. Por isso mesmo a consigna da oligarquia paulista foi: O Brasil é o café e o café é o Brasil.
Nesta situação era fácil convencer a “opinião pública” de que os interesses dos grandes produtores, financiadores e exportadores de Café se confundiam com os interesses do Brasil. Aí está a base de sua hegemonia política e ideológica. Ninguém questionava a prioridade dada ao setor cafeeiro. Os mais radicais criticavam apenas o abandono do Estado em relação aos outros setores da economia, sem questionar a primazia dada ao café nas políticas governamentais.
Alguns autores, com razão, questionam o uso indiscriminado das expressões oligarquia paulista ou oligarquias regionais. Elas podem dar uma falsa ideia de homogeneidade entre as várias classes ou frações das classes dominantes nas diversas regiões do país. É sabido ter existido, no caso do estado de São Paulo, um conflito latente entre os interesses dos fazendeiros, dos financiadores da produção e dos proprietários de casas de exportação. Em outras palavras: existiu uma luta entre a burguesia cafeeira e os fazendeiros (os homens da lavoura).
A burguesia cafeeira possuía fazendas de café, mas era também proprietária de bancos, fábricas e firmas exportadoras. Nestes últimos negócios ela concentrava a principal fonte de sua riqueza e poder. Por isso eram vistos com desconfiança por aqueles que se dedicavam exclusivamente ao plantio do café.
Mas, apesar disso, acreditamos que se possa falar em oligarquia paulista tendo em vista os elementos de unidade que a soldavam; entre eles, a defesa da política estatal favorável à economia agroexportadora. Esta política atendia a todos esses setores dominantes, embora de maneira diferenciada e amplamente favorável à fração exportadora da burguesia. A unidade de interesse impediu uma cisão definitiva e a constituição de partidos distintos dessas classes e frações. No fundamental, elas se unificaram em torno dos candidatos oficiais do PRP. Essa situação perdurou até a década de 1920, quando surgiu o Partido Democrático.
A vinculação orgânica de grande parte dos industriais ao setor agrário-exportador paulista explica a relação amistosa da fração mais dinâmica da burguesia industrial brasileira, localizada em São Paulo, com os sucessivos governos da República Velha e também a sua apatia em relação à Revolução de 1930, e depois a sua adesão ao levante contrarrevolucionário de 1932. Os conflitos entre a indústria e a política econômica da oligarquia foram comuns, mas estes não eram de natureza antagônica que impusessem a necessidade de uma solução de tipo revolucionária.
Por fim, é bom frisarmos as lutas entre oligarquias regionais no Brasil como a maneira com que se expressaram as lutas de classes entre as diversas frações das classes dominantes. Uma batalha entre os interesses dos setores voltados à produção agrícola e pecuária destinada ao mercado interno e os setores ligados à produção agrícola destinada à exportação. No início do século XX, após a crise da produção canavieira no Nordeste, da borracha no Norte e o declínio da produção de café no Rio e em Minas, São Paulo passou a ser o estado onde se concentrava a quase totalidade dos interesses agrário-exportadores.
11. As dissidências oligárquicas e a oposição popular
Por vezes setores das oligarquias estaduais não-hegemônicas, ligados à produção destinada ao mercado interno, e as classes médias urbanas procuraram intervir nas disputas eleitorais com candidatos próprios – sem muito sucesso. Ocorreram duas principais tentativas: o Movimento de Reação Republicana (1922), encabeçado por Nilo Peçanha, contra o governista Arthur Bernardes; e a Campanha da Aliança Liberal em 1930.
O Clube Militar atacou a candidatura de Bernardes, considerado inimigo das Forças Armadas. Bernardes ganhou a eleição utilizando amplamente a coação e a fraude (como era comum naquele tempo). Em resposta eclodiu a Revolta do Forte de Copacabana contra a sua posse – surgindo, assim, o Movimento Tenentista. Dois anos depois (1924) ocorreram novas revoltas militares em São Paulo, Rio Grande do Sul e outros estados do Norte e Nordeste. O levante de São Paulo foi derrotado e os revoltosos se retiraram para o interior. Os dois grupos (paulista e gaúcho) se uniram e formaram a Coluna Miguel Costa-Prestes – nome dos dois principais comandantes. A Coluna cruzou o país até 1927, quando se refugiou na Bolívia.
As oligarquias gaúchas mais se colocaram contra o governo central. O centro da crítica foi a política protecionista estabelecida em relação ao café. Tudo era voltado para favorecer a economia agroexportadora que tinha como centro São Paulo. As oligarquias agrárias ligadas à produção para o mercado interno se queixavam do completo descaso governamental em relação às demais regiões do país e a outros setores da própria economia agrária.
12. A crise da oligarquia cafeeira e a Revolução de 1930
A crise econômica mundial de 1929 abalou a economia agrário-exportadora brasileira, assentada no café, e agravou os conflitos políticos que vinham desde 1922. A sucessão presidencial foi o estopim da crise final do regime. Os paulistas romperam o acordo com os mineiros e indicaram Júlio Prestes, presidente de São Paulo, em detrimento de Antônio Carlos, presidente de Minas Gerais. As dissidências oligárquicas de Minas e do Rio Grande do Sul – com o apoio dos tenentes – lançaram a candidatura de Getúlio Vargas, presidente do Rio Grande do Sul. O vice-presidente oposicionista era João Pessoa, presidente da Paraíba. A campanha ganhou caráter popular e se radicalizou, contra a vontade dos seus principais organizadores.
Vargas perdeu a eleição e os líderes oligárquicos regionais se apressaram em buscar um acordo com as forças vitoriosas. O candidato derrotado, inclusive, se comprometeu em reconhecer o resultado eleitoral nacional se o governo não degolasse os deputados gaúchos ligados a ele. E assim foi feito. Washington Luís poupou os gaúchos, mas se voltou contra os oposicionistas de outros estados – como era comum até aquele momento. Os governistas degolaram toda a bancada da Paraíba e 14 deputados de Minas Gerais. Mesmo assim, Antônio Carlos e João Pessoa não se moveram. As cartas ainda pareciam estar com o antigo regime.
A situação se modificou bruscamente quando, em 26 de julho, foi assassinado João Pessoa. O caudilho Borges de Medeiros do Rio Grande do Sul, pressionado pelos tenentes, resolveu se sublevar contra Washington Luís. Os setores oligárquicos buscaram tomar a frente do movimento revolucionário em curso. Antônio Carlos afirmou: “Façamos a revolução antes que o povo a faça”. O levante se iniciou em 3 de outubro e no dia 3 de novembro Vargas tomou posse como presidente provisório.
O Congresso foi suspenso e os governadores substituídos por interventores federais, em geral tenentes. Nos estados, particularmente em São Paulo, a massa popular se voltou contra os símbolos do regime deposto, empastelando jornais e sedes do Partido Republicano Paulista. O Partido Comunista, os anarquistas e a esquerda tenentista, dirigida por Prestes, não participaram do movimento de 1930. Por isso foi pequena a intervenção da classe operária na crise política que se abriu.
Após 1930 houve uma relativa democratização da sociedade brasileira. Criou-se a Justiça Eleitoral. O Código Eleitoral de 1932 estabeleceu o voto secreto, estendeu o direito de voto às mulheres e aos maiores de 18 anos. Foi criada também a polêmica figura do deputado classista, eleito pelos sindicatos oficiais reconhecidos por Vargas no pós-1930. Entre 1930 e 1945 ocorreu um avanço significativo no que diz respeito aos direitos sociais e trabalhistas.
13. Comunistas e burgueses diante do movimento de 1930
Os comunistas e a esquerda do tenentismo não apoiaram o movimento armado de 1930. Prestes, o principal dirigente do tenentismo revolucionário, num manifesto destinado à classe operária se posicionou “contra os golpes fascistas, conspirações militares, complôs de chefes (…) tramados à revelia das massas e ao serviço do imperialismo!”.
Em janeiro de 1931, os comunistas, por sua vez, afirmaram: “Faz-se necessário mostrar o verdadeiro significado desta ‘revolução’ que abalou a República brasileira. O movimento dirigido pela Aliança Liberal está longe de ser um movimento democrático, progressista. Sua vitória é uma vitória da reação, dirigida contra o proletariado das cidades e do campo, contra as massas camponesas e contra a pequena-burguesia empobrecida”. Tudo se reduzia a um conflito entre os interesses do imperialismo inglês e norte-americano. O primeiro apoiando a oligarquia paulista e o segundo os grupos dissidentes. Tal erro de avaliação colocou os comunistas fora do curso real dos acontecimentos e contribuiu para uma solução menos favorável ao povo brasileiro, que eles pretendiam representar.
Mas, afinal, o que foi a Revolução de 1930? E qual Estado foi construído a partir dela? E o papel de Vargas? Existiu durante anos uma visão da Revolução de 1930 como uma revolução burguesa e, por isso mesmo, teria tido na burguesia industrial o seu principal protagonista. O historiador marxista Nelson Werneck Sodré foi um dos principais porta-vozes dessa tese, amplamente predominante nos partidos comunistas brasileiros. Esta, no entanto, começou a ser fortemente questionada na década de 1970.
O estudo já clássico de Boris Fausto, A revolução de 1930, revelou o papel contrarrevolucionário da burguesia industrial paulista entre 1930 e 1932. Ele comprovou que a Revolução de 1930 não foi obra da burguesia industrial; pelo contrário, aquela se deu apesar desta. Nenhum dos dirigentes industriais paulistas ou cariocas esteve à frente desse movimento.
Em 1930, as principais associações industriais de São Paulo lançaram um manifesto público de apoio à candidatura governista de Júlio Prestes, do Partido Republicano Paulista (PRP). Afirmava o documento, referindo-se aos industriais paulistas: “Assim no cumprimento de um dever cívico, cogitam de formar, com elementos seus, um grande corpo eleitoral, cuja organização ficará a cargo do Centro das Indústrias de São Paulo, com a coadjuvação dos outros centros que vão tomar parte deste movimento (…). Para os industriais, a vitória da chapa nacional Júlio Prestes-Vital Soares representa a integral execução do programa financeiro do atual governo da República”.
Mesmo quando a rebelião militar já havia se iniciado, o Centro das Indústrias de São Paulo enviou telegrama de solidariedade ao governo estadual que caía com o regime. O primeiro interventor federal em São Paulo, o tenente João Alberto, não sofreu apenas oposição das oligarquias derrubadas, mas também dos industriais paulistas. Eles se rebelaram principalmente contra as promessas feitas aos operários, como a redução da jornada para 40 horas semanais e um aumento geral de 5% nos salários.
Os industriais de São Paulo, através da direção de suas associações, engrossaram a Frente Única Paulista. Quando eclodiu o levante de São Paulo de 1932 as mesmas entidades patronais (industriais e comerciais) assinaram manifesto dando apoio ao movimento para derrubar Vargas. Uma das figuras mais ativas dessa verdadeira contrarrevolução oligárquica foi Roberto Simonsen, presidente da Fiesp, que presidiu o serviço de mobilização industrial – peça-chave no esforço de guerra da oligarquia paulista. Para outro grande líder industrial, Otávio Pupo Nogueira, Simonsen era o homem “a quem os paulistas devem muitos dos trabalhos da retaguarda da Campanha Constitucionalista”.
Os fatos comprovam que Vargas não se constituiu, pelo menos nos primeiros anos da década de 1930, no “maior dirigente da burguesia brasileira”, como acreditava Werneck Sodré. A burguesia industrial não se reconheceu na Aliança Liberal e nem mesmo no governo Vargas. Embora este, contraditoriamente, tenha se tornado “um intérprete sagaz de suas necessidades e de seus anseios” de longo prazo. O Estado brasileiro no pós-1930, sob a direção de Vargas, realizou o projeto burguês apesar da burguesia e muitas vezes contra ela.
Mas, quais as particularidades desse Estado industrialista brasileiro? Como a burocracia de Estado pôde se constituir em vanguarda do processo de desenvolvimento capitalista no Brasil?
14. O Movimento de 1930 e o Bloco no Poder na Era Vargas
As condições históricas particulares em que se deu a Revolução de 1930 levaram ao surgimento de um Estado, cuja composição política interligou as oligarquias agrárias dissidentes – ligadas ao mercado interno, à nascente burguesia industrial – às classes médias urbanas, representadas pelo tenentismo e mesmo setores da oligarquia agroexportadora.
A nova correlação de forças acabou excluindo a possibilidade de uma hegemonia política plena de uma das classes sociais integrantes do Bloco no Poder. A oligarquia agroexportadora paulista, que ainda dominava economicamente, havia sido deslocada da posição dominante (hegemônica) no Bloco de Poder e as oligarquias agrárias regionais, voltadas para o mercado interno, não podiam substituí-la a contento – o café continuava a ser o produto mais importante da economia brasileira. A burguesia industrial era, relativamente, fraca e ainda muito ligada aos interesses agrário-exportadores. As classes médias urbanas poderiam, até certo ponto, exercer provisoriamente o papel de classe reinante, mas não poderiam cumprir a função de classe dominante por suas limitações estruturais. Surgiu então uma crise de hegemonia, típica de momentos de crise aguda.
O equilíbrio instável de forças entre as diversas frações das classes proprietárias possibilitou uma autonomia maior da burocracia estatal (civil e militar), permitindo-lhe aplicar uma política industrialista que, por sua vez, refletiria na correlação de forças dentro do próprio bloco no poder. A postura industrialista da burocracia estatal (especialmente militar), apoiada pela burguesia industrial e pelas classes médias urbanas, tinha por pano de fundo a crise profunda vivida pelo capitalismo agromercantil após 1929 e o afastamento do núcleo duro do poder dos setores agraristas. A falência do modelo anterior exigiu a construção de uma nova alternativa para o Brasil.
A política de desenvolvimento implementada pela burocracia estatal (industrialização mais incorporação/subordinação das massas populares) não coincidia inteiramente com os interesses de nenhuma das classes e frações de classes participantes do bloco no poder – ou melhor, coincidia apenas com os interesses de parcelas das classes médias urbanas. Existia uma afinidade de interesses quanto ao processo de industrialização e expansão da própria máquina estatal (e do emprego público). No entanto, em médio e longo prazos, os aspectos industrializantes dessa política beneficiaram mais diretamente a fração industrial da burguesia brasileira. Apenas nesse sentido podemos falar da Revolução de 1930 como revolução burguesa.
No período de 1930 a 1964 houve, no interior do bloco político dominante, um deslocamento progressivo num sentido favorável às forças industrialistas. No entanto, podemos constatar, em conjunturas de crise (ou radicalização) do “populismo”, rompendo com a tendência geral, um recuo das forças industrialistas no interior do Bloco no Poder. Recuos como esse se deveram, geralmente, a um abandono “voluntário” das posições assumidas pela burguesia industrial (e setores das classes médias) dentro do Estado diante do avanço e da radicalização das lutas operárias e populares.
O recuo tendeu a desequilibrar a correlação de forças dentro do Bloco no Poder, favorecendo as posições das forças anti-industrialistas. Esses momentos foram raros (Dutra, Café Filho/Carlos Luz) e não suficientes para mudar a tendência geral predominante até recentemente.
15. Direitos sociais e incorporação dos trabalhadores urbanos
Um dos maiores acontecimentos do pós-1930 foi a tentativa de incorporação, de maneira subordinada, das massas populares urbanas ao Estado e à constituição de uma base social (popular) de apoio ao projeto de desenvolvimento industrial engendrado pela burocracia estatal. O equilíbrio instável do novo Bloco no Poder fez com que a burocracia de Estado buscasse a sua própria base social de apoio que só poderia ser encontrada nos setores sociais constituídos a partir do processo de urbanização e de crescimento industrial, ou seja, nas chamadas massas urbanas (baixas classes médias e classe operária).
O governo Vargas estabeleceu uma política assentada simultaneamente na integração, na manipulação e na repressão aos trabalhadores. Os meios privilegiados nesse processo de integração/manipulação/repressão foram a legislação trabalhista e a estrutura sindical oficial. O Estado travou uma luta feroz contra a influência anarquista e comunista nos meios sindicais. Derrotar essas correntes combativas foi condição essencial para a implantação do novo modelo sindical restritivo.
Contraditoriamente, na forma em que se dá a integração/rejeição da classe operária ao Estado é que devem ser procuradas as raízes mais profundas das crises políticas na República do pós-1930. Esclareço: a própria pressão através do sindicalismo oficial obrigou, em certas conjunturas, o Estado a ultrapassar a linha demarcatória imposta pelo “pacto de governabilidade”, sobre a qual se mantinha equilibrado o “condomínio do poder”. Esta linha demarcatória era a “política da ordem”, ou seja, a garantia de que a ordem capitalista não seria jamais ameaçada. A incapacidade dos governos denominados populistas de conter a ascensão política das massas, em especial da classe operária, leva-os a enfrentar uma crise insolúvel que ocasionou a sua derrota em 1964.
16. A Reação oligárquica e a oposição popular
O novo regime sofreu, de um lado, uma forte oposição da oligarquia agroexportadora paulista. O auge desse processo foi o levante de São Paulo de 1932, mas não se esgotou aí. Outro momento da disputa em relação ao projeto nacional se deu durante a eleição e os debates da Assembleia Nacional Constituinte de 1934. De outro, o governo Vargas sofreu uma acirrada oposição democrática e popular – encabeçada pelo PC do Brasil –, que teve na formação da Aliança Nacional Libertadora (ANL) um dos seus momentos mais importante.
Os objetivos dos dois movimentos oposicionistas eram bastante distintos. As elites paulistas queriam a volta da situação anterior e denunciavam a “bolchevização” do país pelos tenentes. A ANL queria um governo que aplicasse um programa radical: democrático, anti-imperialista e antilatifundiário. O governo Vargas não se propunha seguir nenhum desses dois caminhos.
A Constituição de 1934 acabou sendo um texto contraditório, mas predominava certo espírito liberal. Esse espírito se traduziu nos artigos que tratavam dos sindicatos nos quais era estabelecido o direito ao pluralismo. O espírito da Constituição, no entanto, estava na contramão dos dramáticos acontecimentos históricos em curso no mundo, especialmente o crescimento do nazifacismo e, por isso mesmo, ela teve curta duração.
A repressão que se seguiu ao levante da ANL, ocorrido em novembro de 1935, violou flagrantemente o espírito liberal da Carta de 1934. Prisões sem mandados, torturas e assassinatos pontuaram a vida política brasileira desde então.
A Constituinte que elegeu Vargas estipulou nova eleição presidencial para o final de 1937. Todas as forças políticas se movimentaram em torno das candidaturas que surgiram. De um lado, Armando Salles de Oliveira, governador de São Paulo, ligado à oligarquia paulista; de outro, José Américo de Almeida, ex-ministro de Viação e Obras de Vargas.
O presidente que ganhou o seu poder através das armas estava agora sob a ameaça de perdê-lo para seus adversários, através das urnas. Portanto, precisava impedir a realização da eleição e implantar a sua própria ditadura. Para isso, forjou, com os integralistas, o fantasioso Plano Cohen, através do qual os comunistas realizariam um novo levante armado, tomariam o poder e instaurariam a sua ditadura.
O golpe de 7 de novembro de 1937 ocorreu no sentido de terminar com as disputas políticas que ameaçavam o novo regime; e implantar uma ditadura civil-militar, que viria a ser denominada de Estado Novo. Todas as frações das classes proprietárias apoiaram o golpe, diante do medo da ameaça comunista.
O Estado Novo fechou o Parlamento, acabou com as eleições para os governos de estado e prefeituras (para os quais indicou interventores). Acabou, inclusive, com as bandeiras e os símbolos estaduais. Houve um processo de centralização política e econômica. Foram restituídos a unicidade e o enquadramento sindical e proibidas as greves. Criou-se o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e implantou-se uma férrea censura à imprensa e à cultura em geral. Foram dissolvidos todos os partidos políticos, inclusive o Integralista. Em 1937 foi outorgada uma nova Constituição de cunho fascista. Vargas afirmou: “Hoje o governo não tem mais intermediário entre ele e o povo”.
Entre 1937 e 1945, ao lado da repressão, houve uma radicalização da política industrialista e um reforço da participação da burguesia industrial no interior do Estado. Esta foi a maior beneficiária da política econômica do Estado Novo e da repressão ao movimento operário independente e ao Partido Comunista do Brasil.
Foram criadas a Companhia Siderúrgica Nacional (1941), a Companhia Vale do Rio Doce (1942) e a Fábrica Nacional de Motores (FNM). Proliferaram os órgãos consultivos, de assistência técnica, incentivadores do desenvolvimento econômico. (Exemplo: o conselho do Petróleo, de águas e energia elétrica; de Minas e Metalurgia e a Comissão de Planejamento Econômico).
De 1933 a 1940 a taxa média anual de crescimento do setor industrial de transformação foi de 11%. Em 1919 a indústria representava 21% da composição do produto físico nacional e em 1939 este já era da ordem de 43%. Isto foi acompanhado pelo fortalecimento da burguesia industrial brasileira que adquiriu uma autonomia política maior em relação à oligarquia agrária e, em certos momentos, chegou a entrar em conflito aberto com ela em torno dos rumos da política econômica e financeira do governo.
As suspeitas e rejeição da burguesia industrial em relação ao governo Vargas foram diminuindo ao longo da década de 1930. Nesse período projetaram-se os representantes dessa fração da burguesia, como Horácio Lafer, Edvaldo Lodi, Guilherme Guinle e o próprio Roberto Simonsen. A ideologia desse setor poderia ser definida como protecionista e nacionalista. Ou seja, a sua ideologia foi abertamente antiliberal. O liberalismo passou a ser a ideologia oficial dos setores entreguistas ligados à importação e à exportação – a esses Mao Tsetung chamou de burguesia compradora. A revolução burguesa finalmente triunfava no Brasil.
A principal característica do processo de revolução burguesa no Brasil foi a manutenção do latifúndio. Como já afirmamos em capítulo anterior: “os latifundiários abriram mão da participação no núcleo duro do poder político, em troca o Estado garantiu a manutenção da propriedade monopolizada da terra e estabeleceu um firme compromisso de que direitos sociais e trabalhistas não seriam estendidos às massas do campo que, até a década de 1950, constituíam a maior parte da população brasileira. Portanto, o preço pago pelo desenvolvimento industrial capitalista foi a manutenção da maioria do povo brasileiro na condição de não-cidadãos”.
Esse processo, em grande parte, explica a adesão dos grandes latifundiários do Sul e do Nordeste ao projeto de desenvolvimento engendrado na era Vargas. A expressão política dessa classe foi o Partido Social Democrático (PSD), criado por Vargas em 1945. Em 1950, mesmo tendo candidato próprio – Cristiano Machado –, ele se dividiu e a maioria de suas lideranças regionais apoiou Vargas – fenômeno chamado de “cristianização”. O PSD sustentou o governo de Getúlio, apoiou a candidatura (e o governo) Juscelino/Jango e depois a candidatura Lott/Jango. Apenas rompeu com a tradição varguista, representada por Jango, às vésperas do golpe de 1964. O rompimento se deu justamente quando a reforma agrária havia entrado na agenda de reformas do capitalismo brasileiro, apresentada por Jango.
* Capítulo do livro “Marxismo, história e revolução brasileira: encontros e desencontros”, publicado pela editora Anita Garibaldi.
** Augusto C. Buonicore é historiador, presidente do Conselho Curador da Fundação Maurício Grabois. E autor dos livros Marxismo, história e a revolução brasileira: encontros e desencontros, Meu Verbo é Lutar: a vida e o pensamento de João Amazonas e Linhas Vermelhas: marxismo e os dilemas da revolução. Todos publicados pela Editora Anita Garibaldi.
BIBLIOGRAFIA
BASBAUM, Leôncio. História sincera da República, vol. 2. SP, Alfa-Ômega, 1981.
BOITO JR., Armando. O golpe de 1954: A burguesia contra o populismo, SP, Brasiliense. 1984.
CARONE, Edgard. A Primeira República. SP/RJ, Difel. 1976.
_______________. A República Velha I – (Instituições e classes). SP/RJ, Difel. 1978.
_______________. A República Velha II – (Evolução política). SP/RJ, Difel. 1983.
COUTINHO, Carlos Nelson. Cultura e sociedade no Brasil – Ensaios sobre ideias e formas, Oficina de Livros. Belo Horizonte. 1990.
ENGELS, F. A Origem da família, da propriedade privada e do Estado. SP, Global. 1984.
FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930. SP, Brasiliense. 1986.
GORENDER, Jacob. A burguesia brasileira. SP, Brasiliense. 1981.
________________. A Escravidão reabilitada. SP, Ática. 1990.
________________. O Escravismo Colonial. 4ª edição revista e ampliada. SP, Ática. 1985.
GRAMSCI, A. Maquiavel, a política e o Estado moderno. 3ª edição. RJ, Civilização Brasileira. 1978.
LÊNIN, V. I. O Estado e a Revolução. O que ensina o marxismo sobre o Estado e o papel do proletariado na Revolução. SP, Hucitec. 1987.
MARX, K. “A Guerra Civil na França”. In MARX, K. e ENGELS, F. Obras Escolhidas. vol. 2. SP, Alfa-Ômega. s/d, p. 39-103.
PERISSINOTTO, Renato M. Classes dominantes e hegemonia na República Velha. Campinas, Ed. Unicamp. 1994.
POULANTZAS, Nicos. Poder Político de Classes Sociais. SP, Martins Fontes. 1986.
PRADO JR., Caio. Evolução Política do Brasil e outros estudos. 2ª edição, SP, Brasiliense. 1957.
RUY, José Carlos. “Visões do Brasil”. In: Princípios, n. 52 a 59. SP, Anita Garibaldi. 1999-2000.
SAES, Décio. Classe média e sistema político no Brasil, SP, T. A. Queirós. 1984.
___________. A formação do Estado burguês no Brasil (1888-1891). RJ/SP, Paz e Terra. 1985.
___________. “Conceito do Estado Burguês”. In Estado e Democracia: Ensaios Teóricos. Campinas, IFCH/Unicamp, 1994, (Coleção Trajetória 1).
___________. Estado e Democracia: Ensaios teóricos, Campinas, IFCH/Unicamp, 1994, (Coleção Trajetória 1).
SILVA, Sérgio. Expansão cafeeira e origem da indústria no Brasil. SP, Alfa-Ômega. 1976.
SODRÉ, Nelson W. A história da burguesia brasileira, RJ, Vozes. 1983.
_______________. Capitalismo e revolução burguesa no Brasil. RJ, Graphia. 1997.
_______________. Introdução à revolução brasileira. RJ, Civilização Brasileira. 1967.
VIZENTINI, Paulo G. F. Os liberais e a crise da República Velha. SP, Brasiliense. 1983.
WEFFORT, Francisco. O populismo na política brasileira. SP, Paz e Terra. 1980.