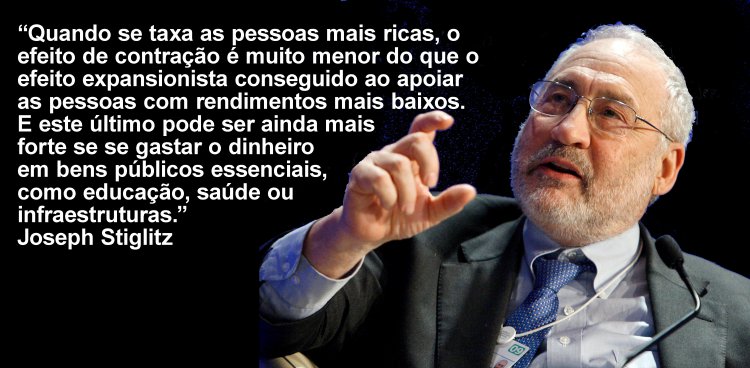Joseph Stiglitz não gosta do termo “populismo”. Não é que o economista americano não esteja preocupado com a erosão do centro político dos dois lados do Atlântico e com a ascensão de facções com respostas ilusórias e simplistas para problemas complexos. O problema, diz, é que “a palavra ‘populismo’ mistura muitas coisas diferentes”. E desenvolve: “Poder-se-á chamar populista a um candidato que diz preocupar-se com os 90% de pessoas que um dado governo deixou para trás. Isso não é merecedor de crítica. O populismo até pode ser um remédio contra o elitismo.” Prefere o termo demagogia. E insurge-se contra ela, venha de onde vier.
Respostas fáceis e ineficazes são, na opinião do Prêmio Nobel da Economia de 2001, números “surgidos do nada”, como o limite de 3% de déficit na União Europeia. “Tenho uma opinião crítica sobre esse limite, que não resulta da teoria nem de indícios econômicos, mas também sobre qualquer outro. O importante é para onde vai o dinheiro. Se for para investimento, reforça-se a economia.” É por isso que aplaude os esforços do Governo português, afirmando que devia ser “premiado”, em vez de ameaçado de sanções pela Comissão Europeia. “Temos de ter uma atitude pragmática. Deviam recompensar Portugal por estar a experimentar novas políticas para recompor a economia e criar um quadro macroeconômico mais forte. Quem falhou, de forma clara, foi a troika”, garante.
Esse falhanço pode sair caro à Europa, alerta Stiglitz, que falou com o Expresso em Barcelona. Aos 73 anos, o homem que já foi vice-presidente do Banco Mundial e conselheiro do Presidente americano Bill Clinton (entre inúmeros dirigentes globais) foi à cidade espanhola para inaugurar o ano letivo da Escola Europeia de Humanidades e apresentar o seu mais recente livro, “O Euro” (Bertrand). A obra, com o subtítulo “Como uma moeda comum ameaça o futuro da Europa”, analisa as debilidades que ficaram a nu com a crise global de 2008 e propõe caminhos para reformar a zona euro.
A atuação das instituições europeias nos anos da austeridade merece chumbo severo ao também professor da Universidade de Columbia. “Vemos governos a serem castigados pelos erros dos governos que os antecederam. Isso é mau, porque aumenta a probabilidade de regresso ao poder de quem cometeu esses mesmos erros. Foi o que aconteceu na Grécia: ao castigar os socialistas [PASOK], favoreceu-se a direita [Nova Democracia], que governara mal.” Stiglitz desconfia mesmo que haja, em Bruxelas, a vontade de impor uma ideia particular da Europa, da sociedade, da economia. “Houve, até, uma entrevista em que o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, sugeria que o Estado-providência não era compatível com uma boa política económica. Ora, a Suécia e a Noruega já demonstraram que é.”
União pelo medo não serve
Em relação à ‘geringonça’, e mesmo sem ter “conhecimento detalhado” sobre as medidas de António Costa, parece-lhe que o Governo faz bem em “manter um Orçamento equilibrado e respeitar os limites do déficit ao mesmo tempo que aumenta certos gastos, indo buscar dinheiro aos impostos dos mais ricos”. Para Stiglitz, “é exatamente a política a adotar”. É que, explica, “aumentar os impostos ao mesmo tempo que se aumenta a despesa tem, regra geral, o efeito de fazer subir o PIB”. Acredita, portanto, nos “multiplicadores” tão defendidos pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.
Atribui as reticências que isto gera a preconceito político e à “escassa experiência” deste tipo de políticas, mas insiste: “Quando se taxa as pessoas mais ricas, o efeito de contração é muito menor do que o efeito expansionista conseguido ao apoiar as pessoas com rendimentos mais baixos. E este último pode ser ainda mais forte se se gastar o dinheiro em bens públicos essenciais, como educação, saúde ou infraestruturas”.
Revolta-o que as “ameaças inaceitáveis” dirigidas a países como Portugal, Espanha ou Grécia não se verifiquem em relação à França — “por ser a França”, como admitiu o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker — ou, por outros motivos, à Polónia ou à Hungria, cujos dirigentes colocam em causa princípios como a separação de poderes ou a liberdade de imprensa. “Já ultrapassaram a linha do admissível. No mínimo devia haver um inquérito. Bruxelas devia dizer-lhes: quando entraram para a UE, comprometeram-se com determinados valores”, indigna-se.
Estes dois pesos e duas medidas, aplicados por burocratas não-eleitos, foram, reconhece Stiglitz, uma das causas que levaram os britânicos a votar pela saída da UE no passado mês de junho. “Não me descansou nada a primeira reação de Juncker, a dizer que a Europa tem de ser dura para evitar que outros países saiam. É a antítese do que devia ter dito! Não o ouvi dizer que temos de ‘vender’ melhor a UE aos cidadãos, que temos de garantir que funciona para todos. Deseja manter a UE unida através do medo. Ora, se ela só se mantiver unida por medo das consequências de uma saída, não lhe auguro grande futuro”, diz o economista.
É do interesse da Europa, garante, “procurar o mais alto grau de integração possível” com o Reino Unido após a saída deste, agendada para março de 2019, o mais tardar. Recorre ao seu país para ilustrar o que pensa: “Os Estados Unidos e o Canadá têm muito boas relações económicas sem moeda comum, migração livre e mercado único. Ninguém propõe isso. Pode haver prosperidade e parceria comercial sem esses instrumentos.” O maior custo do ‘Brexit’, alvitra, será político e simbólico, além do precedente que estabelece. “Se o euro continuar a funcionar tão mal, vão crescer os sentimentos contra a UE. O Reino Unido não está na zona euro, mas a mensagem é a mesma: quando nos disseram que não havia alternativa, estavam errados.”
É por isso que Stiglitz aconselha a UE a usar mais a cenoura do que o chicote, que, aliás, pode nem ter grande força. “O custo de sair do mercado único não é dramático se se mantiverem boas relações económicas. No pior cenário, se o Reino Unido ficar sujeito às tarifas que vigoram na Organização Mundial do Comércio, falamos de uma média de 5%. A desvalorização da libra já é maior do que isso, o que mostra como os mecanismos cambiais são relevantes.” Admite que haja mais inquietação na banca, mas não duvida da continuidade de Londres como praça financeira, até porque “muitos bancos americanos na Europa já funcionam sem passaporte [licença para operar em todos os Estados-membros se estiverem licenciados num deles] e, além disso, os bancos britânicos vão continuar a ter clientes no Médio Oriente e na Commonwealth”.
Se é claro que o Reino Unido sobreviverá, então e o resto da União? Flexibilidade, recomenda o professor. “Há muitas formas e níveis diferentes de integração económica e política. A UE começou por ser uma comunidade do carvão e do aço. E tem sido suficientemente criativa para permitir diferentes graus de integração”, recorda, para exemplificar: “A Suíça faz parte do acordo de Schengen sem ser da UE. A Noruega e a Islândia também estão em Schengen e no Espaço Económico Europeu, mas não na UE. Estão sujeitos a regras, a tribunais. Esta aliança tem uma dimensão política e jurídica, não é só económica. De um vasto menu, cada país europeu escolhe algumas coisas.” O erro residiu, repete, no colete de forças da moeda única. Do lado das proezas, sublinha proezas como o programa Erasmus, que permite “que os alunos possam estudar mais facilmente noutros países da Europa”.
Acordos pelos grandes interesses
Stiglitz não inclui nos acordos comerciais que incentiva e aplaude a famigerada — e opaca e, para já, estagnada — Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, mais conhecida pela sigla inglesa TTIP. “Está a ser vendido como acordo comercial, mas é outra coisa”, garante. Critica a negociação feita à porta fechada e vê no TTIP uma versão gravada da Parceria Trans-Pacífica [TPP, na sigla inglesa]. “Nessas conversações participam as grandes empresas, mas não o cidadão comum. Nem os membros do Congresso americano conheciam a posição do país, até a WikiLeaks a revelar. Isso não é lá muito democrático”, ataca. Garante, aliás, que os benefícios comerciais foram “minúsculos”: impacto de 0,15% no PIB americano ao fim de 15 a 20 anos, segundo a avaliação do Governo, “que tende a ser otimista”; efeito nulo ou negativo, a crer em análises como a da Universidade Tufts, que Stiglitz considera “mais fiável”.
Estes grandes acordos intercontinentais não visam o livre comércio, acusa, mas sim a defesa de interesses empresariais, como o das farmacêuticas contra os medicamentos genéricos. “Não querendo travar essa guerra no Congresso, porque perderiam, travam-na à porta fechada e ganham.” O pior aspeto tanto do TPP como do TTIP, ou da também adiada parceria Canadá-UE, é a chamada resolução de conflitos entre investidores e Estados [ISDS na sigla inglesa], que permite que empresas processem governos por decisões para as quais o povo os mandatou, se afetarem os seus lucros. “Não é uma possibilidade teórica. O Canadá já perdeu muitos processos. E o mero receio de ser processado leva os governos a ceder aos grandes grupos”, alerta. Acredita, em todo o caso, que “o TTIP não vai acontecer”.
Levando a conversa para o outro lado do oceano, aplaude a abordagem da Administração Obama à crise global, “mais keynesiana” do que a europeia. “Via-se à distância”, diz, assegurando que era algo que as suas previsões anunciavam. Destaca a recapitalização dos bancos, mais conseguida na América do que por cá. “Torna-se óbvio ao olhar para o Deutsche Bank. Deve ter ativos no valor de um bilião de dólares [910 mil milhões de euros] e receia-se que uma multa de 14 mil milhões de dólares [12.740 milhões de euros], por fraudes que cometeu, o atire para o abismo!”, admira-se. Um dos maiores bancos do Velho Continente “está tão subcapitalizado que afirma poder pagar sete mil milhões [6370 milhões de euros], mas não 14 mil milhões”. “E passa-se isto na Alemanha, que é um dos países onde as coisas correm melhor!”, acrescenta.
Racismo é batalha para décadas
Dinheiro à parte, Stiglitz não foge a problemas que são tão ou mais graves no seu país. Dado que aponta Martin Luther King como inspirador na sua ação pública, é inevitável querermos saber como crê que o arauto dos direitos cívicos encararia as tensões raciais que ainda predominam nos Estados Unidos. “Ficaria triste, mas não surpreso”, responde. Observa que o racismo é muito profundo em partes da América. “Pode-se adotar leis a favor do emprego, contra a discriminação, mas não se pode acabar com o racismo por via legislativa”, diz.
Lembra, também, que a marcha que King promoveu em Washington não era só pela justiça racial, mas também pela justiça económica. “Ele percebeu que uma não existia sem a outra”, explica, para em seguida considerar que nem uma nem outra foram, ainda, alcançadas. “Um dos nossos maiores bancos, o Wells Fargo, recentemente acusado de ter criado contas fictícias, foi também multado por discriminação racial na concessão de crédito. A discriminação está impregnada nas maiores instituições dos Estados Unidos. É uma batalha para décadas.” Ainda assim, contrapõe, King “estaria contente com os avanços que houve. Elegemos um Presidente negro, coisa inimaginável no tempo dele. É algo com grande simbolismo”.
Guterres era o melhor para a ONU
Na manhã em que o Expresso falou com Stiglitz, no modernista Palau Macaya, sede da Fundação La Caixa em Barcelona, surgiu a notícia de que o Presidente da Colômbia ganhara o Nobel da Paz, apesar de o povo ter rejeitado em referendo o acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). “Acho que ele fez um trabalho extraordinário”, reagiu Stiglitz à notícia. Confessando-se “desiludido” com o resultado da consulta popular [vitória do “não” ao acordo por 50 mil votos], louva “a liderança e o empenho” de Santos.
Outra escolha feita na semana em que se deu este encontro foi a de António Guterres para futuro secretário-geral das Nações Unidas. Stiglitz vê mais do que um motivo para celebrar. A nível pessoal, e sublinhando que conhece bem o ex-primeiro-ministro português, classifica-o de “grande líder” e elogia o trabalho que fez no Alto-Comissariado da ONU para os Refugiados, considerando-o um conhecedor da organização. Isto pode ser relevante “num mundo com tantos conflitos entre a Rússia e os Estados Unidos, em que o Conselho de Segurança fica bloqueado em tantos assuntos e em que tantos problemas globais passam pela questão dos refugiados e das migrações”.
A eleição de Guterres tem, todavia, outra mais-valia. “É um êxito histórico por ter quebrado o sistema de rotação regional, em que a escolha não era baseada no mérito”, explica Stiglitz, crítico do sistema de nomeação do presidente do Banco Mundial, “onde o presidente é sempre americano”, sinal de que “a governança global não funciona”. Na ONU, ela funcionou, garante o professor. E explica porquê: “Houve um debate aberto com todos os candidatos, entrevistas, um processo transparente. No fim, ganhou o mais qualificado.”
Artigo publicado na edição do EXPRESSO de 12 de novembro de 2016