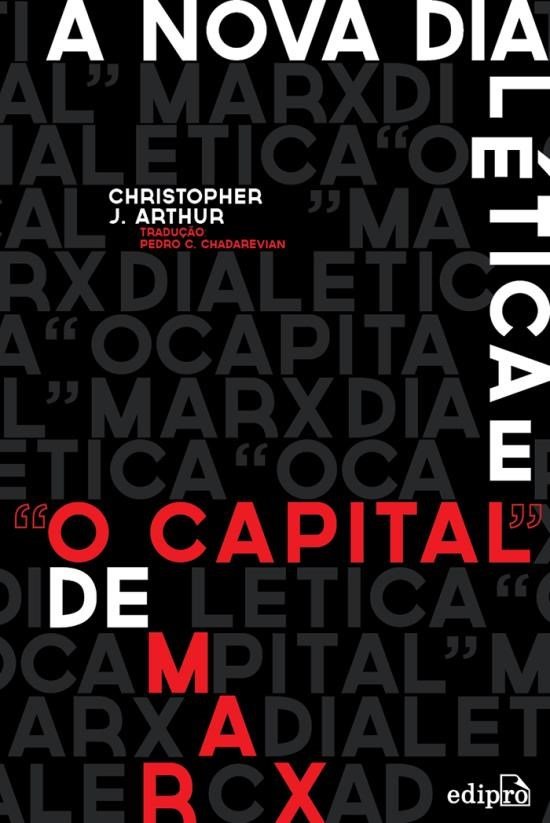O livro aborda em primeiro lugar a influência das figuras dialéticas de Hegel, porém o autor afirma que nem mesmo Marx é claro em seu status teórico, sempre permeando entre a retórica sistemática delineada por Hegel e o naturalismo que a economia política britânica o influenciou.
Neste sentido, Arthur sentiu que seria necessário reconstruir o clássico de Marx de forma que esclareça e corrija a sua estrutura lógica, eliminando os resquícios ricardianos e tornando explícito o emprego de suas influências hegeliana.
“Está claro que Marx foi influenciado em seu trabalho pelo método de Hegel de desenvolver conceitos, indo de um ao outro por meio de um princípio lógico. No entanto, qual foi exatamente a lição de que Marx aprendeu com Hegel?”, questiona Christopher J. Arthur.
Leia o artigo do professor de economia da UFMG:
* Professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. E-mail: [email protected],br.
A “nova dialética” de Christopher Arthur e O capital de Karl Marx: uma análise crítica
Introdução
Embora as conexões entre as dialéticas de Hegel e Marx sempre tenham
sido objeto de atenção, a proliferação de abordagens divergentes sobre tema no
período recente tem trazido perplexidade e consternação, acentuando a pretensa
“desconstrução do marxismo”, na expressão de Michael Ryane. Destarte, afora
as contribuições de autores independentes, como, por exemplo, Bertell Ollman,
Jacques Bidet, Moishe Postone e Norman Levine, têm-se destacado na literatura,
em primeiro lugar, aqueles que, como Erwin Marquit, George Boger, Igor Narski,
James Lawer, Ronald Rieve e Sean Sayers, se atêm à inversão marxista da dialética
hegeliana e à sua leitura materialista com base em Lênin. Já a escola de Uno-Sekine,
liderada por John Bell, Robert Albritton e Thomas Sekine, propõe uma leitura
de O capital com base nas contribuições do economista japonês Kozo Uno. Em
terceiro lugar, têm-se a “reconstrução” do texto de Marx pela Nova Dialética de
Christopher Arthur, Enrique Dussel, Geert Reuten, Mario Báez, Patrick Murray
e Tony Smith, que se propõe a “construir uma dialética sistemática de forma a
articular as relações do capitalismo, em oposição à dialética histórica que estuda
a ascensão e a queda de sistemas sociais” (Arthur, 2004, p.3-4).
Este artigo examina criticamente a Nova Dialética, em particular o livro de
Christopher Arthur, The New Dialectic and Marx’s Capital, pretendendo contribuir
para reduzir o nível de confusão existente sobre o tema, demonstrando as aparentes
insuficiências e contradições dessa “releitura” das relações entre Marx e Hegel.
Apresentando uma visão sumária da “Nova Dialética” na Seção 2, ele discute,
na seção seguinte, o caráter da abstração utilizada por seus defensores; já a questão
da economia mercantil simples é abordada na Seção 4, enquanto a dialética da
história na Seção 5. A analogia entre o capital e a Ideia Hegeliana é discutida na
Seção 6, enquanto a Seção 7 resume as principais conclusões.
A “Nova Dialética” de Christopher Arthur
O caráter sistemático da totalidade, em oposição ao materialismo histórico,
é salientado por Arthur (2004, p.64), quando assevera que tanto a Lógica de Hegel
quanto O capital de Marx “tratam um dado todo e demonstram como ele se
reproduz”, em lugar de apresentar qualquer dialética da história de sua gênese,
de modo que “o ordenamento das categorias não é de forma alguma determinado
pela recapitulação de uma cadeia histórica de causalidade”. Em contraposição, o
“método lógico-histórico”, adotado por Engels, Sweezy, Mandel e Meek, entre
outros, assevera que “a estrutura lógica do Capital é simplesmente um reflexo
correlato dos estágios históricos do desenvolvimento do sistema capitalista de
produção” (Arthur, 2004, p.17), de forma que seus capítulos introdutórios se
referem à “produção mercantil simples”. Isto, contudo, seria um erro, pois, ainda
nas palavras de Artur (idem), “desde sua primeira sentença, o objeto de O capital
de Marx é, de fato, o capitalismo” e “a ordem da apresentação de Marx não
é de uma sequência de modelos de objetos mais e mais complexos”, “mas do
desenvolvimento progressivo de formas do mesmo objeto, a saber, o capitalismo”.
Em termos da categoria central de O capital – o valor – isso significa que não
faria sentido “falar de valor e de troca governados por uma lei do valor trabalho
em uma sociedade pré-capitalista, até porque nessa sociedade imaginária não pode
haver qualquer mecanismo para fazer cumprir essa lei”. Antes pelo contrário, o
pleno desenvolvimento dessa lei pressupõe o capitalismo, em que “a forma ‘vazia’
do valor é preenchida com determinado conteúdo, sob a força da valorização”
(Arthur, 2004, p.20-21).1
Por outro lado, visto que a totalidade – o objeto da dialética – “não pode ser
compreendida imediatamente” (Arthur, 2004, p.25), a sua reconstrução tem de
começar com o seu aspecto mais imediato, abstrato e indeterminado.2
A partir desse elemento, que é “arrancado do todo” através da abstração “de outras relações
que, na realidade, a penetram e ajudam a constituir sua efetividade” (p.24), e que,
portanto, “não tem significado fora da estrutura a que pertence”,3
a reconstrução progride através do questionamento desse status, movida pela insuficiência de
cada estágio de desdobramento da categoria em termos de suas pressuposições
(p.26). Na verdade, “os conceitos do primeiro capítulo de Marx possuem apenas
um caráter abstrato e o argumento, à medida que avança, desenvolve os significados
desses conceitos, através da sua fundamentação adequada na totalidade
abrangente” (p.26). Deste modo, a exposição do sistema também significa um
movimento regressivo, de progressiva fundamentação das categorias, cujo resultado
é a totalidade ordenada.
Visto que, “como ‘valor que se autovaloriza’, [o capital] é um conceito por
demais complexo para ser introduzido imediatamente”, Marx não começa por ele,
mas pela mercadoria, que, como “valor como tal, ‘é a expressão mais abstrata do
capital e da produção nele fundamentada’ (Marx). Contudo, exatamente porque
é abstraído da totalidade capitalista, nenhuma definição acabada do valor pode
ser dada no início” (Arthur, 2004, p.25-6).
No movimento de fundamentação da mercadoria gera-se a sua duplicação em
mercadorias e dinheiro, dando “origem a uma nova forma do valor, a mais-valia,
como o objetivo da troca na forma capital” (Arthur, 2004, p.31). O movimento
deste novo conceito, que “demanda que a força de trabalho esteja disponível como
uma mercadoria” (p.32), assume, então, uma forma muito mais complexa do que a
circulação de mercadorias, além de simultaneamente criar, produzir o valor de troca
como suas próprias premissas. Deste modo, embora se comece pela mercadoria,
“o momento determinante no sistema é o capital industrial”, o qual, apesar de que,
“na derivação, tem necessariamente de aparecer como resultado, é, na realidade,
a pressuposição da categoria inicial” (idem).4
É por isso que se pode dizer que “a lei do valor não é algo que esteja na origem, quer lógica, quer histórica, é algo que vem a ser nas determinações formais da totalidade capitalista” (Arthur, 2004, p.33).
Visto serem indeterminadas as categorias iniciais, por terem sido “arrancados
do todo” através da abstração, o trabalho abstrato e o tempo de trabalho socialmente
necessário também representam categorias “necessariamente conceptualizadas
inadequadamente quando articuladas como pressuposições do valor no contexto da
circulação simples prior a qualquer discussão do processo de produção” (Arthur,
2004, p.40). Em particular, “qualquer ‘substância’ do valor, tal como o trabalho
abstrato, não pode existir antes da produção generalizada de mercadorias numa
base capitalista”, até porque como “a circulação generalizada de mercadorias
existe somente com base na produção capitalista, o valor se torna determinado
apenas com mercadorias produzidas capitalisticamente” (p.40).
De mais a mais, há de se concordar com Napoleoni, para o qual “o trabalho
não pode ser a fonte do valor, nem, a fortiori, da mais-valia” (p.49), pois, afinal, é
o capital quem incorpora as forças da produção e, portanto, produz as mercadorias.
Não há, entretanto, perfeita subsunção do trabalho ao capital, visto que “o trabalho
é sempre ‘em e contra’ o capital” (p.52) e, além disso, “a ‘subjetividade’ residual
do trabalhador (…) dá origem a uma recalcitrância de ser ‘explorado’, o que os
outros fatores não possuem” (p.53). “Essa é a razão pela qual (…) o trabalho é
correlacionado com o valor”: “o valor novo é a reificação bem sucedida do trabalho
vivo” (p.54) e, além disso, “um refluxo de valor para os trabalhadores sob a forma
de salário, o capital desvia parte do fluxo para o seu próprio reservatório de valor
acumulado” – “a exploração consiste na expropriação desse valor” (p.55). Segue-se
que a magnitude do valor “é determinada pelo ‘tempo socialmente necessário de
exploração’”, que “compreende toda a jornada de trabalho, não apenas o assim
chamado ‘tempo de trabalho excedente’” (p.55), o que significa que a “luta de
classes é ontologicamente constitutiva do capitalismo” e “o valor mede o sucesso
do capital na batalha por apropriação do trabalho para si” (p.57).
Por outro lado, as contradições da troca de mercadorias identificadas por Marx
“surgem somente porque se pressupõe que a mercadoria é portadora de valor”
(Arthur, 2004, p.71), até porque parece ser “difícil ver qualquer coisa contraditória
na persistência de relações de escambo” (p.70). Além do mais, do fato das
mercadorias serem “deficientes”, emerge a necessidade do dinheiro, forma em que
“o valor está melhor fundamentado do que nas relações mercantis simples” (idem).
Em paralelo à Ciência da lógica de Hegel, Arthur (2004, p.79) identifica o
movimento da troca de mercadorias à “Doutrina do Ser”, o desdobramento do
valor em dinheiro e mercadoria à “Doutrina da Essência” e o capital à “Doutrina
do Conceito”. Nesse sentido, a mercadoria seria o “valor na forma de ‘Ser’” (p.89),
enquanto as categorias marxistas de “permutabilidade”, “montante”5
e “valor de troca” corresponderiam às categorias hegelianas de qualidade, quantidade e
medida (p.89).
Assim, no âmbito da troca, Arthur (2004, p.90) assegura que “podemos falar
das mercadorias em termos da oposição elementar entre Ser e Nada” – “elas
têm seu ser nos circuitos da troca; mas ainda não revelam nada sobre si mesmas
que garantam seus status” (p.90). Contudo, assim como o Espírito hegeliano, o
valor seria “uma essência que é verdadeiramente real somente através de formas
específicas de sua automanifestação necessária”, ganhando “realismo em suas
formas desenvolvidas posteriores de aparecer” (p.90). Todavia, se “há de ser
conceitualmente coerente, ele tem de tem de suspender essa duplicação de suas
determinações em manifestações separadas” (p.101), até porque “o seu verdadeiro
conceito, é constituído exatamente na medida em que se põe a si mesmo como
sendo simultaneamente nem mercadorias nem dinheiro” (p.101).
Inicialmente subjetivo, “puramente formal”, esse conceito se objetiva através
do capital, que se transforma em um “‘sujeito’ individual” (Arthur, 2004, p.101-2),
assumindo a “forma absoluta” de Hegel. Conforme destaca Arthur (2004, p.105),
“para se autofundamentar, o valor tem de ser produzido por valor” e à medida
que o capital conquista a esfera da produção, ele – assim como o trabalho abstrato
e, portanto, o valor – ganha realidade.
Analítica “Nova Dialética” versus dialética hegeliano-marxista
Conforme salienta Rosdolsky (1968, p.11-14), a publicação dos Grundrisse pôs
termo à “extensa controvérsia” a respeito da conexão entre Hegel e Marx (Lawler,
1982, p.11), tornando não apenas impossível contestá-la, mas também evidente
que “uma interpretação correta e, assim, uma avaliação efetiva da teoria de Marx
têm de ser baseadas numa compreensão abrangente da dialética hegeliana e em
seu uso por Marx, especialmente em O capital” (Likitkijsomboon, 1992, p.405).
Estão corretos, pois, os defensores da Nova Dialética, quando sustentam que “em
O capital e outros escritos, Marx foi claramente influenciado pela teoria dialética
de Hegel” (Tony Smith, 1993, p.1). De fato, O capital parece claramente assumir
a forma de uma exposição sistemática, em que a totalidade – reino “portador do
princípio revolucionário da ciência”, conforme afirma Lukács (1919-22, p.41) –
assume posição central.
Segundo Marx (1873, p.16), “é mister, sem dúvida, distinguir formalmente o
método da exposição do método da pesquisa”. O primeiro representaria “manifestamente,
o método científico correto”, em que “as determinações abstratas conduzem
à reprodução do concreto pelo caminho do pensamento” (Marx, 1857-1858, v.I,
p.21). Já na pesquisa, parte-se do concreto sensível, de uma “representação caótica
do conjunto”, chegando-se, através da análise, às “determinações mais simples”
(idem), que constituem o ponto de partida da exposição (Darstellung), até porque,
“chegados a este ponto, haveria que empreender-se a viagem de retorno” (idem).
A ciência, portanto, assume uma figura circular (Gontijo, 2014, p.4 e p.19); seu
percurso é um percurso circular em si mesmo, em que o Primeiro se torne também
o Último e o Último se torne também o Primeiro” (Hegel, 1812, p.66).
A aceitação da ideia hegeliano-marxista de que a exposição sistemática segue
a ordem do desdobramento de uma categoria seminal – a mercadoria – não evita
que os “novos dialéticos” afastem-se da abstração analítica da tradição aristotélico-
-kantiana. Para Aristóteles, a abstração produz o abstrato como universal genérico,
tomando o elemento comum na multiplicidade via supressão das diferenças
específicas, ou seja, das particularidades concretas. A particularização do geral,
que significa a descida aristotélica nos galhos da Árvore Porfiriana,6
ocorre por adição de determinações específicas e nunca alcança o singular, que não pode
ser apreendido pela ciência. O mesmo ocorre com Kant, para quem o universal é
forma vazia, preenchido pela experiência, que é a fonte do conteúdo, ou seja, da
diferença específica. Hegel rejeita essa perspectiva, que abre mão do princípio da
necessidade, pois a predicação do universal aristotélico-kantiano – que é conceito
apto a ser predicado de muitos – não é gerada a partir do movimento do próprio
conceito, mas provém da experiência. Em contraposição, para Hegel (1807, p.7)
o pensamento científico existe “no elemento universal, que traz dentro de si o
particular”, que se concretiza no singular, de modo que na derivação do universal
(U) gera o particular (P) e, deste, o singular (S) (U ? P S).7
Hegel examina o estatuto epistemológico da abstração analítica no capítulo
da Ciência da Lógica referente à lógica do Ser, em que demonstra que o ser em
geral não é concreto, pois, se o fosse, seria um ser determinado e, portanto, uma
forma particular do ser. Mas, como todo ser concreto é existente, o ser em geral,
abstrato, é inexistente, é uma pura abstração. Por via de consequência, o concreto,
é ser determinado – “síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade do
diverso”, como reprisa Marx (1857-1858, v.I, p.21), parafraseando Hegel (1812,
p.99). Mostra, de mais a mais, que a lógica do Ser se resolve no Vir a Ser, desembocando
no Ser Determinado, que é ponto de partida de todo o desdobramento
que se segue, que se põe, assim, sobre o fundamento do concreto. Não é por outra
razão que, para Kösik (1963), a dialética marxista é necessariamente dialética do
concreto, e que Marx (1857-1858, v.I, p.6), na Introdução aos Grundrisse, afirma
peremptoriamente que “não existe produção em geral”, pois, como esclarece, toda
produção é concreta, tendo o conceito de produção em geral de ser abandonado
(p.8) em favor do conceito de modo de produção, produção socialmente determinada
(p.18 e p.20).8
Ao adotar a abstração analítica, a Nova Dialética cai em uma “dialética puramente
conceptual”, como acertadamente apontaram Callinicos (1998) e Saad Filho
(1997, p.117), afastando-se radicalmente, portanto, de Hegel e Marx. Pior ainda,
também cai no erro, apontado por Arthur, (2004, p.22-4), de adotar o método das
“aproximações sucessivas” de Sweezy (1956, p.39-50), que “consiste em passar
do mais abstrato” – que contém “um número relativamente pequeno de aspectos
da realidade” – “para o mais concreto”.
Conforme salientado acima, se o desenvolvimento da Lógica de Hegel se inicia
pelo ser indeterminado e abstrato, logo atinge o ser determinado – o universal
concreto – que é o fundamento de toda ciência concreta. Essa categoria é universal
porque é a unidade subjacente à multiplicidade de determinações da totalidade, as
quais resultam do seu desdobramento; por outro lado, é concreto porque é como
existente, e, como tal é síntese de múltiplas determinações, embora essas ainda
se encontrem na forma de germens não desenvolvidos, contendo, como síntese,
todas as determinações e relações dessa totalidade. Em outras palavras, a categoria
mais simples, “contém em si mesmo, de forma implícita, todas as categorias da
esfera da Lógica”, sendo, “potencialmente, cada categoria que vem depois dela”,
de modo que, partindo das categorias mais simples “o raciocínio dialético apenas
explicita as categorias posteriores”, mais desenvolvidas (Likitkijsomboon, 1992,
p.406).9
Não é sem motivo que, no Prólogo da Fenomenologia do Espírito (p.8 e
p.12), Hegel lança mão por duas vezes da imagem da semente e da árvore, sugerindo
respectivamente o ponto de partida e de chegada da exposição.10
A tese de Arthur de que o ponto de partida é abstrato, portanto, estaria correta
se se referisse à abstração do desdobramento categorial que dá origem à totalidade,
mas parece completamente incorreta quando afirma seu caráter indeterminado.11
Em vez, como quer Arthur, do desenvolvimento da Darstellung determiná-lo
“posteriormente até que seja apreendido em conexão com a totalidade concreta”,
o desenvolvimento dialético das determinações do universal concreto produz a
totalidade, à qual está organicamente conectado como sua expressão seminal.
Do mesmo modo que a semente é a síntese não desenvolvida da árvore, em lugar
de parte dela arrancada, tampouco o universal concreto como ponto de partida
é produto de uma “abstração violenta” que o tenha arrancado da totalidade,
tornando-o “necessariamente caracterizado de modo inadequado”. De fato, a sua
única inadequação consiste no seu caráter não desenvolvido, que torna necessário
seu desdobramento com destino à totalidade. Se a verdade é sistema, conforme
sustenta corretamente Arthur, o sistema como totalidade desenvolvida não está
dado pelo resultado final do desenvolvimento lógico que se inicia no universal
concreto, mas inclui o processo de desdobramento das categorias seminais do
universal concreto. Nas palavras de Hegel (1807, p.8), o verdadeiro “é o devir
de si mesmo, o círculo que pressupõe e tem por começo seu termo como sua
finalidade e que somente é real por meio de seu desenvolvimento e de seu fim”,
de forma que o resultado do processo de desenvolvimento lógico não “é o todo
real, senão que o é em união com o seu devir” (idem).
Embora efetivamente a exposição sistemática atravesse sucessivos estágios,
o desdobramento de uma categoria na próxima não resulta de sua “insuficiência”
em termos das determinações da totalidade e nem muito menos se dá por adição
de “novos elementos”. Não se trata de escalar a Árvore Porfiriana de galho em
galho como no pensamento analítico, mas de reproduzir a germinação da semente
da totalidade, cujo desdobramento é produto de suas contradições internas, em vez
de resultar do “caráter abstrato do elemento em isolamento” em relação ao “seu
significado como parte do todo”. É claro que cada nova categoria é “um conceito
superior, mais rico que o conceito precedente”, na medida em que “se enriqueceu
com a negação do conceito precedente, ou seja, com seu contrário” (Hegel, 1812,
p.50), sendo, dessa forma, “unidade de si mesmo e de seu contrário” (idem). Nas
palavras de Hegel (idem, p.51), “[a]quele por meio do qual o conceito se impele
adiante por si mesmo é o negativo”, que “é o verdadeiro elemento dialético”.12
É essa negatividade que força a Darstellung, a qual “se inicia de um começo
necessário e, procedendo através de um desdobramento necessário”, atinge “um
fechamento necessário” (Albritton, 2005, p.169).
Ressalte-se que a afirmativa de que “o resultado [do desenvolvimento lógico
de um sistema de categorias] não pode estar ‘contido’ na premissa, porque a última
é mais pobre em conteúdo do que o primeira” só “é autoevidente” como sustenta
Arthur (2004, p.83) no âmbito da lógica formal, pois na dialética do concreto ela é
absurda. Na verdade, é apenas por se aferrar ao formalismo aristotélico-kantiano,
sustentando que “todos os conceitos do primeiro capítulo de Marx possuem
somente um caráter abstrato”, que Arthur (2005, p.40), Murray (2005, p.64-8 e
p.76-88) e Reuten (2005, p.40-58) consideram o trabalho socialmente necessário
como abstrato analítico, descartando, mesmo ao custo de se desconsiderar vários
trechos de O capital, tanto a demonstração marxista de sua universalidade como
substância como de sua “materialidade” social.13
Apesar de concordar com Lukács (1919, p.23), para o qual a totalidade
sistemática “não é, de maneira alguma, dada imediatamente ao pensamento”,
pois “suas articulações têm de ser apresentadas”, Arthur (2004, p.25), da mesma
forma que outros defensores da Nova Dialética, deixa em aberto a questão do
modo de sua construção.14 Na verdade, a questão é problemática, visto que, para
“apresentar” as articulações da totalidade, é imprescindível conhecer os seus
elementos constitutivos, os quais, por sua vez, somente são inteligíveis a partir da
própria totalidade. Pergunta-se, assim, como se pode “arrancar violentamente”,
via abstração, o elemento que constitui o ponto de partida da exposição, se esse
elemento “não tem significado fora da estrutura a que ele pertence”? O que garante
que sirva como ponto de partida? É claro que não se pode recorrer ao seu caráter
“abstrato e indeterminado”, pois ele se deve ao próprio processo de abstração.
Tampouco parece adequado afirmar que representa o “aspecto mais imediato”
da totalidade, pois, se essa é plenamente concreta, é o seu conjunto de categorias
mediatas e imediatas. Como se sabe que a mercadoria é mais imediata do que a
população, a taxa de juros, os aluguéis e os salários? Aliás, conforme aponta Marx
na Introdução dos Grundrisse (p.21), esses concretos imediatos são, na verdade,
abstrações, da mesma maneira que o ser aí na Fenomenologia do Espírito. O
ser determinado a partir da sua gênese, como explicitado no segundo capítulo
da Lógica de Hegel, é, como no caso da mercadoria, abstrato, por ser universal,
mas também é concreto por ser “síntese de múltiplas determinações, unidade do
diverso”. Em compensação, o ser em geral, o elemento comum de muitos conceitos
de Aristóteles, como no caso de categorias enquanto tais, desconectadas
da sua gênese, como a população, a taxa de juros, os aluguéis e os salários, são
abstrações analíticas, cuja estrutura vazia, por ser idêntica ao nada, se encontra
desvendada no primeiro capítulo da mesma Lógica.
Em resumo, a Nova Dialética assenta-se sobre a abstração analítica, característica
do Entendimento, que, conforme criticado por Hegel (1812, p.43-4), se
opõe à Razão Dialética. Isto é suficiente para comprometer toda a sua apreciação
da exposição marxista do capitalismo a partir da mercadoria, a começar pela
proposição de que “os conceitos do primeiro capítulo de Marx possuem apenas
um caráter abstrato”, inclusive o conceito de valor, que “é totalmente inadequado
e tem de ser substancializado no seu desenvolvimento posterior”.
De mais a mais, apesar de Arthur estar em acordo com Marx quando admite
que o valor só se universaliza no capitalismo, pois só então a produção social se
torna mercantil e o valor, como capital, se torna sujeito do processo, a sua tese de
que o trabalho abstrato e o tempo de trabalho socialmente necessário são categorias
“necessariamente conceptualizadas inadequadamente” não parece se sustentar,
visto derivar-se de sua postura analítica. Tampouco se pode sustentar, a não ser
analiticamente, a tese de que o capital que extrai mais-valia (o “capital industrial”)
é “momento determinante”, conforme sustenta; ainda que seja o momento essencial
do capitalismo, o “capital industrial” somente se forma na presença de trabalho
assalariado, quando necessariamente a circulação de dinheiro, que o antecede,
desemboca no circuito do capital. Na verdade, uma vez abandonada a analítica
em favor de um enfoque efetivamente dialético, não é difícil verificar que¸ tanto
lógica quanto – como se verá na Seção 4 – historicamente, o valor antecede ao
capital, até porque, ainda segundo Marx, a própria circulação mercantil gera o valor
como substância independente (1857-58, Vol. I, p.71-2 e p.77) e a acumulação
de dinheiro como sua finalidade (1867, p.144-7), ou, utilizando a linguagem de
Hegel, o capital em si (substância), mas não o capital para si (sujeito), pois isso
pressupõe o trabalho assalariado.
A economia mercantil simples
É claro que não se deve discordar dos defensores da Nova Dialética, quando,
seguindo Morishima e Catephores (1978), sustentam que, como processo
totalizante, a “produção mercantil simples” nunca prevaleceu,15 até porque o
funcionamento da lei do valor em sua plenitude pressupõe a sociedade burguesa,
visto que, conforme sustenta Marx (1867, p.189-90), “só num modo especial de
produção, a produção capitalista”, “todos os produtos ou a maioria deles tomam
a forma de mercadorias”. Além disso, é somente no modo de produção capitalista
que o valor, de substância independente se torna sujeito, realizando, dessa
maneira, o que já está posto na circulação simples de mercadoria, que, ao gerar
o dinheiro, produz o afã de acumulá-lo (Marx, 1867, p.144), ou seja, engendra
o capital em si. 16
Dito de outro modo, o processo de desenvolvimento da circulação simples
de mercadorias dá origem à circulação do dinheiro como capital, que “tem sua
finalidade em si mesma, pois a expansão do valor só existe nesse movimento
continuamente renovado” (Marx, 1867, p.171).17 Conforme afirma Marx (1857-
58, p.186), “já na determinação simples do valor de troca e do dinheiro se en-
contra latente a antítese entre o trabalho assalariado e o capital”, de modo que “o
dinheiro como capital é uma determinação do dinheiro que vai mais além de sua
determinação simples como dinheiro. Pode-se considerá-lo como uma realização
superior, do mesmo modo que se pode dizer que o desenvolvimento do macaco
é o homem” (p.189).
Disto não se segue, contudo, que a produção mercantil e, portanto, que a lei
do valor, se tenham desenvolvido somente com o capitalismo, até porque “a troca
das mercadorias exata ou aproximadamente por seus valores supõe condições bem
mais atrasadas que a troca aos preços de produção, a qual exige determinado
nível de desenvolvimento capitalista” (Marx, 1893, p.200).18 Afinal, conforme
esclarece Marx (1867, p.190),
podem ocorrer produção e circulação de mercadorias, embora os produtos em sua
quase totalidade, se destinem à satisfação direta das próprias necessidades, não se
transformando em mercadorias, e o valor de troca esteja muito longe de dominar
o processo social em toda a sua extensão e profundidade.
Ao contrário, portanto, do que sustenta Arthur, os valores das mercadorias precedem os preços de produção não só teórica, mas historicamente. Isto é válido nas condições em que os meios de produção pertencem ao trabalhador, e esse é o caso, tanto no mundo antigo quanto no moderno, do camponês que cultiva a própria terra e do artesão [independente]. (Marx, 1893, p.201)
Tanto assim que, ainda como afirma Marx (idem), “afim de que os preços por
que se trocam as mercadorias correspondam aproximadamente aos valores”, entre
outras coisas, basta, em primeiro lugar, que “a troca das diferentes mercadorias
deixe de ser meramente fortuita ou ocasional” e, em segundo lugar, que, “se consideramos
a troca direta de mercadorias, produzam-se elas aproximadamente nas
proporções adequadas às necessidades recíprocas dos dois lados, o que vem com
a experiência mútua de venda e resulta da própria troca continuada.
Em resumo, ao contrário do que sustentam os defensores da Nova Dialética,
a construção do Livro I de O capital é ao mesmo tempo uma construção histórica porquanto que a sucessão mercadoria – dinheiro – capital, com a que começa a economia marxiana, reproduz o processo real que haveria de conduzir na Europa Ocidental à aparição do capital. Como
a pré-história do capital se caracteriza pela produção e circulação de mercadorias,
o começo lógico da análise marxiana coincide com o começo genético do objeto.
(Schmidt, 1973, p.72)
A dialética da História em Hegel e Marx
Ressalte-se que a rejeição da dialética da história, tendo remontado talvez a
Nietzsche, que rejeita qualquer evolucionismo, sentido ou mesmo compreensão
racional da história, ganhou realce com a crítica ao marxismo e ao historicismo,
encetada pela escola alemã de Leopold von Ranke, Wilhelm Dilthey e Oswald
Spengler, além de Arnold Toynbee, de Benedetto Croce, Bertrand Russell, W.
H. Walsh e Karl Popper, entre outros. “Valendo-se de argumentos kantianos,
gnosiocríticos”, também a escola austro marxista de Karl Renner, Marx Adler e
Otto Bauer, contesta não apenas “a possibilidade de uma ciência de leis causais
do desenvolvimento social”, mas também “a teoria marxista da necessidade
histórica e da inelutabilidade da revolução” (Bauer, apud Reale e Antiseri, 1986,
vol. III, p.792). Ecoando essas perspectivas, Louis Althusser (1968, p.61) assume
posição semelhante, ao asseverar que “teoricamente falando, o marxismo é, por
um mesmo movimento e em virtude da ruptura epistemológica única que o funda,
um anti-humanismo e um anti-historicismo”.
Embora fosse de se esperar que críticos de Marx, mesmo marxistas que rejeitam
a dialética hegeliana, negassem o materialismo histórico, é paradoxal que os
“novos dialéticos”, que se dizem basear na Ciência da Lógica de Hegel o façam,
até porque, como exposição do que é pensável dialeticamente, esta obra pressupõe
a história da consciência que teria chegado ao ponto em que se tornou possível
explicitar sua estrutura categorial. Em outras palavras, a lógica pensada – a Ciência
da Lógica – pressupõe a lógica vivida – a Fenomenologia do Espírito –, ou seja,
que a consciência tenha esgotado o seu caminhar histórico, o qual necessariamente,
por sua vez, obedeceria à estrutura da Lógica, sob pena de inviabilizar a
sua construção. Além disso, à exceção da tríade Ser – Nada – Devir, a dialética
da Lógica é dialética do concreto, o que significa que toda categoria a partir do
Ser Determinado (síntese do Ser e do Nada, como Devir) deve necessariamente
existir, quer na Natureza, quer na história. Não se pode rejeitar ex limine, portanto,
a dialética da história, sem resolver os paradoxos que nascem dessa postura, a
começar pela existência de uma razão dialética cuja formação histórica não tenha
sido racional e que gere categorias concretas que não estejam dispostas logicamente
no desenrolar da história. Afinal, “se não é dominada conceitualmente, a
história acaba sendo, em suma, uma ‘coleção de fatos mortos’” (Schmidt, 1973,
p.29).19 De mais a mais, se a verdade é totalidade sistemática, como quer Arthur,
o historiador marxista deve ocupar-se da totalidade (Marx, 1846, p.28-38), que
“é a totalidade do movimento ou o movimento total que será percorrido pela
humanidade concreta no curso de sua história” (Latouche, 1975, p.34).
Se, de acordo com Marx (1857-1858, v. I, p.26), “a anatomia do homem é a
chave da anatomia do macaco”, visto que “os indícios das formas superiores nas
espécies inferiores de animais somente podem ser compreendidos quando se conhece
a forma superior”, é porque, conforme esclarece Darwin, existe uma lógica
que preside ao processo evolucionário das espécies. De forma semelhante, se as
categorias que expressam as condições da economia capitalista e a compreensão
de sua organização “permitem ao mesmo tempo compreender a organização e as
relações de produção de todas as formas de sociedade do passado, sobre cujas
ruínas e elementos ela foi edificada e cujos vestígios, ainda não superados, continua
arrastando, ainda que nela meros indícios prévios desenvolveram a sua plena
significação” (idem), é porque a evolução histórica da sociedade humana também
segue um processo lógico e a historização da história ocorre em sua conexão com
o modo de produção capitalista, que é seu devir. Assim como a chave da história
da consciência está na Ciência da Lógica, a chave para se compreender a história
dos modos de produção – concebidos como a verdadeira substância da história
humana – se encontra em O capital.
É claro que, como salienta Schmidt (1973, p.91), “Marx não procede, em O
Capital, de um modo propriamente histórico, senão que, seguindo ensinamentos da
Lógica de Hegel, à ‘base e possibilidade de uma ciência sintética, de um sistema
e de um conhecimento sistemático’.”20 Sua teoria, portanto, “pretende representar
a sociedade burguesa – sem tomar em consideração sua origem histórica – como
um sistema fechado, explicável a partir de si mesmo” (p.66), até porque todos os
pressupostos históricos do capital plenamente desenvolvido se apresentam, no
capitalismo, “como resultados de sua própria realização, como realidade posta
por ele: não como condições de sua gênese, senão como resultados de sua existência”
(Marx, 1857-1858, vol. I. Cap. III, p.421). Nesse sentido, “Marx enfrenta
um ‘sistema’ no sentido rigorosamente dedutivo, e não uma tarefa historiográfica”
(Schmidt, 1973, p.67), dando razão aparente não apenas aos “novos dialéticos”,
mas, antes deles, a Adler, Bauer e Althusser, para quem O capital é uma obra
puramente teórica, em antítese à “história concreta”.
Se, pois, “para analisar as leis da economia burguesa não é necessário (…)
escrever a história real das relações de produção”, não obstante, “a correta concepção
e dedução das mesmas (…) conduz sempre às primeiras equações (…) que
apontam a um passado que jaz por detrás desse sistema” (Marx, 1857-58, Cap.
III, p.422). Nesse passado, estão a “produção de mercadorias e o comércio, forma
desenvolvida da circulação de mercadorias” que “constituem as condições histó-
ricas que dão origem ao capital” (Marx, 1867, livro I, Cap. IV, p.165), visto que
para desenvolver-se o modo capitalista de produção, é mister historicamente que o
capital mercantil exista e atinja certo grau de desenvolvimento, (1) pois é condição
prévia da concentração dos haveres monetários, e (2) porque o modo capitalista de
produção supõe produção para o comércio. (Marx, 1893, Livro III, Cap. XX, p.376)
Mais do que isto, o capital mercantil “é, na realidade, do ponto de vista histórico,
o modo independente de existência mais antigo do capital” (Marx, 1893,
Livro III, Cap. XX, p.374). Não, é claro, do capital para si, como sujeito, mas do
capital em si, como finalidade do processo de circulação mercantil, que, no comércio,
assume a forma do capital D – M – D ??D (p.376). Afinal, “[o] capital
pode e tem de formar-se no processo de circulação, antes de aprender a dominar
seus extremos, os diferentes ramos de produção, ligados pela circulação” (p.378).
De mais a mais, o comércio “desagrega as antigas relações sociais” e “aumenta
a circulação do dinheiro” (p.380). Todavia, “a riqueza existente sob a forma de
dinheiro somente pode ser trocada pelas condições objetivas do trabalho porque
e quando estas estejam separadas do trabalho mesmo” (Marx, 1857-58, Cap. III,
p.466).21
Em outras palavras, o trabalho deve ser livre – “livre nos dois sentidos, o de
dispor como pessoa livre de sua força de trabalho como sua mercadoria e o de
estar livre, inteiramente despojado de todas as coisas necessárias à materialização
de sua força de trabalho” (Marx, 1893, Livro III, Cap. XX, p.189). Ora, essa dupla
“liberdade” “é evidentemente o resultado de um desenvolvimento histórico
anterior, o produto de muitas revoluções econômicas, do desaparecimento de antigas
formações da produção social” (ibidem). Significa a “dissolução da pequena
propriedade da terra, assim como também da propriedade coletiva da terra baseada
na comuna oriental” (Marx, 1857-58, Cap. III, p.433) que sempre pressupõem
a comunidade. Na forma “oriental”, o “indivíduo é somente possuidor” (idem,
p.439) e a comunidade suprema aparece “como o proprietário superior ou como
o único proprietário, de modo que as comunidades efetivas [inferiores] aparecem
como possuidores hereditários” (idem, p.434). Na forma “clássica”, a cidade surge
“como centro já desenvolvido dos camponeses (proprietários de terra)”, de forma
que “[a] terra de cultivo aparece como território da cidade” (p.436). “A comunidade
– como estado – é, por um lado, a relação recíproca entre estes proprietários
iguais e livres, seu vínculo contra o exterior e, ao mesmo tempo, sua garantia”
(p.437). Na forma germânica, “a comunidade somente existe na relação recíproca
entre os proprietários individuais da terra” (p.444). Como em Roma, há “o ager
publicus, a terra comunitária ou terra do povo, diferenciada da propriedade dos
indivíduos” (p.442), na forma de terra de caça, pradarias, reservatórios de lenha,
etc., “como um complemento comunitário das residências individuais da tribo e
das apropriações individuais do solo” (p.444). “A propriedade do indivíduo não
aparece mediada pela comunidade, senão que a existência da comunidade e da
propriedade comunitária aparecem como mediadas, isto é, como relação recíproca
de sujeitos autônomos” (p.443).
Mas “a produção mesma, o progresso da população (…) suprimem gradual e
necessariamente” as condições de reprodução dessa sociedade de livres proprietários
ou possuidores de terra, “as destroem em vez de reproduzi-las, etc. e desse
modo se desintegra a entidade comunitária junto com as relações de propriedade
em que estava baseada” (p.446). Ou seja, a reprodução “é necessariamente nova
produção e destruição da forma antiga” (p.454). O aumento da população, por
exemplo, além de transformar a aldeia em cidade, ampliando a divisão de trabalho
entre ela e o campo, requer nova colonização, o que traz a guerra e, com ela,
escravos e a ampliação do ager publicus. Na verdade, todas essas formas primitivas
de propriedade “contêm em si a escravidão como possibilidade e, por isso,
como sua própria abolição” (p.462). Também a relação senhorial e a relação de
servidão surgem da “apropriação dos instrumentos de produção e constituem um
fermento necessário do desenvolvimento e da decadência de todas as relações de
propriedade e de produção originárias” (p.462).
Mas na servidão, uma vez que o produtor imediato “possui (…) os próprios
meios de produção, os meios materiais necessários para realizar o próprio trabalho
e produzir os meios de subsistência” (Marx, 1893, Livro III, Cap. XLV, p.906),
pode haver “desenvolvimento autônomo do patrimônio e, relativamente falando,
de riqueza entre sujeitos à corveia e servos” (p.909). Como resultado da tradição,
que “a lei por fim consagra expressamente” (idem), o tempo de sobretrabalho do
produtor direto fixa-se, tornando-se magnitude constante, regulada pelo direito consuetudinário ou escrito. Mas a produtividade dos dias restantes da semana à disposição do produtor imediato é
magnitude variável, que se desenvolve com a experiência, ao mesmo tempo em
que as novas necessidades que passa a conhecer, a expansão do mercado para os
produtos dele, a segurança crescente com que usa essa parte da força de trabalho
incitam-no a distendê-la mais. Não se deve esquecer aí que o emprego dessa força
de trabalho não se limita à agricultura, mas abrange também a indústria doméstica
rural. Existe aí a possibilidade de certo desenvolvimento econômico dependendo
naturalmente de circunstâncias favoráveis, de caracteres étnicos congênitos
etc. (p.910)
Como resultado, “enquanto a exploração camponesa torna-se próspera, a
senhorial estaciona. Torna-se interessante comutar a renda trabalho para a renda
em espécie” (Gontijo, 1982, p.65), o que reforça o processo, pois “esta renda,
comparada com a renda em trabalho, deixa ao produtor maior sobra de tempo para
trabalhar em seu proveito além do tempo em que trabalha para as necessidades
imediatas” (Marx, 1893, Livro III, Cap. XLV, p.912). Mais do que isso, com essa
forma de renda “aparecem diferenças maiores de situação econômica entre os produtores
diretos”, surgindo, desse modo, a possibilidade “de esse produtor imediato
obter os meios para diretamente explorar por sua vez o trabalho alheio” (idem).
Com a comutação da renda em espécie – que, não obstante, poderá persistir “em
modos e em relações de produção mais desenvolvidos” (p.911) – em renda em
dinheiro – a qual, segundo Macfarlene (1978, p.56), se tornou possível no século
XVI, pois “só é possível em certo nível elevado de desenvolvimento do mercado
mundial, do comércio e da manufatura” (Marx, 1893, p.916), – “muda o caráter
em maior ou menor grau o modo de produção”, pois a família camponesa “perde
a independência e não mais se isola do conjunto das relações sociais” (p.913).
Emerge, assim, o processo de diferenciação do campesinato, analisado extensivamente
por Lênin (1908, caps.I e II, p.23-174), com a progressiva pauperização de
expressiva parcela do mesmo, que procura no mercado de trabalho o complemento
da sua subsistência, e o enriquecimento de outra parcela, que passa a empregar
mão de obra assalariada, ao mesmo tempo que o antigo senhor feudal se torna
mero proprietário arrendatário. Na verdade, “a formação de uma classe de jornaleiros
sem posses e que se alugam por dinheiro, necessariamente acompanha
e mesmo precede a transformação da renda-produto em renda-dinheiro” (Marx,
1893, p.915). “Foi sobre essa ‘nova classe’, surgida principalmente na Inglaterra
no século XVI, que se baseou o capitalismo” (Macfarlene, 1978, p.57).22
Finalmente, a expansão do mercado e a existência de uma crescente classe de
diaristas tornaram possível o processo de acumulação primitiva, que “constitui a
pré-história do capital e do modo de produção capitalista” (Marx, 1867, Livro I,
Cap. XXIV, p.830), cuja base está dada pela “expropriação do produtor rural, do
camponês, que fica assim privado de suas terras” (p.831), num capítulo escrito
“a sangue e fogo nos anais da humanidade” (p.830). Essa separação violenta do
trabalhador dos meios de produção vai se completar com o processo de sua reunião,
sob o comando do capital, abrindo caminho para a dialética do desenvolvimento das
formas de produção especificamente capitalistas, que, ultrapassando a cooperação
simples e a manufatura, culminam com a grande indústria (Marx, 1867, Livro
I, Seção Quinta, p.357-579), e, com ela, a transformação da subsunção formal
em subsunção real do trabalho ao capital (ou seja, à transformação do capital,
de sujeito formal, em sujeito real do processo de produção social; veja-se Marx,
1866, p.59-60 e 72-77).
Enfim, em se adicionando o Cap. XLV do Livro III de O capital, referente
às considerações históricas sobre a renda da terra, e o Capítulo XXIV do Livro I
dedicado à Acumulação Primitiva, vemos que o texto dos Grundrisse (vol. I, Cap.
III, p.420-477) que inclui a Acumulação Originária do Capital e as Formações
Econômicas Pré-Capitalistas está para O capital assim como a Fenomenologia do
Espírito está para a Lógica de Hegel. Além disso, conforme salientado na Seção 4,
a construção sistemática de O capital é também construção histórica, para não
falar no fato de que, como diz Marx (1987, Livro I, Cap. IV, p.166), a história do
capital “se desenvolve diariamente aos nossos olhos”. Não se pode, pois, conceber
O capital não apenas sem a expansão comercial, mas, sobretudo, sem a dialética
da história que produziu o trabalho livre, de modo que fazê-lo, como querem os
“novos dialéticos”, coloca sérios problemas que precisam ser endereçados adequadamente.
Afinal, parece difícil, para não dizer impossível, separar a dialética
da história, que se encontram, conforme demonstrado, intimamente relacionados
tanto em Hegel quanto em Marx. Conforme sustenta Schmidt (1973, p.86), “o
específico do método do Marx maduro (…) consiste em que se assegura, por via
lógica, a força explosiva da dialética histórica”.
O Capital como Ideia
Os textos da Nova Dialética são ricos em comparações entre partes de O capital
e da Ciência da Lógica. Arthur (2005, p.90), por exemplo, sustenta que o valor
possui o perfil do Ser da Lógica de Hegel e que “podemos falar das mercadorias
em termos da oposição elementar entre o Ser e o Nada”. O problema dessa comparação,
contudo, é que, por estar na base de todo pensar racional, tudo é Ser e,
portanto, contém o Nada como um de seus momentos, a começar pelas abstrações
da lógica formal, que também são alguma coisa – são abstrações vazias. De mais
a mais, conforme apontado na Seção 3, o Ser hegeliano é abstrato, enquanto a
mercadoria é ser determinado, concreto, situando-se, portanto, num momento
posterior à trilogia inicial da Lógica, como seu desenlace. Não é sem motivo, pois,
que, segundo Arthur, o valor, como conteúdo escondido atrás do valor de troca
aparece como fenômeno (p.95), gerando, através do intercâmbio mercantil, “um
mundo de forma pura vazio de conteúdo” (155). Em compensação, para Marx o
mundo fetichizado é a exteriorização do trabalho abstrato concreto, que emerge
como existência autônoma e oposta aos seus produtores.
Mas a comparação de maior significado está verbalizada por Arthur (2005,
p.137), quando sustenta que o capital requer “conceitualização em forma análoga
às da ‘Ideia’ de Hegel”, e por Tony Smith (1990), quando afirma que O capital
segue a forma do silogismo, que, em Hegel, é momento do Conceito – fase de
superação das contradições, que desemboca na Ideia.23 De fato, à primeira vista,
o capital parece seguir a estrutura da Ideia, na medida em que, conforme mostra
Marx, surge como substância (o valor) que se torna sujeito, pondo, portanto, as
condições de sua própria existência. Ocorre, porém, que a Ideia hegeliana não é
somente objetividade e sujeito, mas, como resultado final da Lógica, não mais
apresenta contradições, enquanto, como Arthur (2004, p.52) mesmo reconhece,
a subsunção do trabalho ao capital nunca é plena, até porque, conforme salienta
Müller (1982, p.39):24 se formalmente o capital pode ser a totalidade da relação entre si mesmo e o
trabalho assalariado (o trabalho enquanto capital variável), materialmente ele
não pode prescindir da sua oposição sempre renovada ao trabalho vivo, já que
enquanto trabalho objetivado, morto, o capital não tem outro conteúdo social que
não o trabalho. Se na ideia hegeliana a realidade se torna adequada ao conceito,
que se alastra sobre ela e a domina para torná-la correspondente a si, nas forma-
ções capitalistas a realidade nunca corresponde plenamente ao conceito de capital
porque a sua realização integral como ‘sujeito automático’ da produção, através
da ‘aplicação tecnológica das ciências naturais’, e na forma mais próxima do seu
conceito, como capital fixo, tende a subverter a sua própria base de valorização.
Dialética Sistemática ou Formalismo Pseudo-Hegeliano?
À guisa de conclusão, parece necessário colocar em dúvida, a partir das considerações
acima, o caráter sistemático, para não dizer dialético, da Nova Dialética.
Para começar, se, com Lênin, é imprescindível estudar a Lógica de Hegel para se
compreender O capital, não parece possível fazê-lo sem se abandonar a abstração
aristotélica, que caminha por adição de determinações, não ultrapassando, pois,
o nível do Entendimento, em oposição à Razão, cujo motor é a negação e que
jamais se afasta da realidade concreta, mas apenas a reconstrói obedecendo à sua
lógica interna. Por movimentar-se pela Árvore Porfiriana, a Nova Dialética torna,
por via de consequência, necessário reconstruir O capital, com o abandono do
universal concreto, a categoria hegeliana que resume a totalidade, gerada a partir
dos desdobramentos de suas contradições internas.
O caminhar para a totalidade, portanto, perde o seu caráter necessário, comprometendo
a sistematicidade, que, assim, na Nova Dialética, está longe de ser
demonstrada. A totalidade surge como uma construção formal do Entendimento,
sujeita, portanto, à crítica racional, por possuir pressupostos não demonstrados.
Mais do que isso, com esta construção rompe-se o vinculo com a história, pois
esta deixa de ser condicionada pela totalidade concreta, que lhe dá a lógica de
seu devir. A totalidade, portanto, além de assistemática, perde seus fundamentos
autodemonstrados, deixa de ser um círculo que condiciona a sua própria história,
como d esenrolar necessário de sua própria constituição. Torna-se, portanto, totalidade
arbitrária, fruto da casualidade, do acidental.
NOTAS:
1 Conforme salienta Báez (2005a, p.262), em Marx o trabalho abstrato e o valor “não existem antes
do capitalismo”.
2 Veja-se Báez (2005a, p.270).
3 “Tomada em isolamento, em abstração de seu lugar no sistema, uma categoria é imperfeitamente
apreendida” (Arthur, 2004, p.64).
4 Conforme afirma Báez (2005a, p.261), “o conceito de capital como uma totalidade está pressuposto,
não está posto todavia no ponto de partida de sua apresentação”.
5 Certamente, Arthur refere-se à quantidade de trabalho ou capital, ou mesmo à magnitude do valor,
termos usados amplamente por Marx.
6 Apresentada por Porfírio (233-304) na sua famosa introdução às categorias de Aristóteles – o Isagoge
–, em que, a partir da teoria dos predicados de Aristóteles (Analíticos Posteriores, II, XIII, 96b
25-97b 25), o autor formula um conjunto hierárquico finito de gêneros e espécies, organizado por
dicotomias sucessivas, procedendo do geral ao particular, do gênero à espécie e da maior extensão
à maior compreensão (veja-se Evangeliou, 1988), ela desempenhara papel central na classificação
dos seres até o surgimento da ciência moderna.
7 Apesar de distinguir a abstração analítica da dialética, Reuten (2005, p.32) abraça a primeira,
considerando como “noção universal abstrata” o ponto de partida da Darstellung marxista. Ao
exemplificar o universal como gênero (“animal”) e o particular como espécie (“gato”), revela
claramente o caráter analítico da sua abstração. O mesmo ocorre com Tony Smith (1993b, p.36)
para quem a lógica dialética é “um conjunto de regras”, cuja primeira categoria abstrai o que os
objetos ou processos têm em comum. Aliás, Tony Smith (1990), na medida em que afirma que, para
Hegel, o abstrato é um princípio universal que unifica um conjunto diversificado de indivíduos ou
particulares, atribui explicitamente a abstração formal ao filósofo alemão. Também Murray (2005)
adota a abstração analítica.
8 Um exemplo de abstração analítica que produz conceitos inexistentes e a-históricos está dado na
categoria “sociation” de Reuten e Williams (1989), que representa uma realidade universal que
se torna economicamente ativa pelo engajamento das pessoas em relações e práticas sociais. É
esclarecedor contrastar esse conceito e a afirmativa de Murray (2005, p.64) de que “o trabalho de
qualquer tipo social, concreto e histórico específico, pode ser visto como trabalho abstrato” com a
asserção de Marx (1857-1858, v. I, p.5), de que “quando se fala de produção, está-se falando sempre
de produção em um estágio determinado de desenvolvimento social, da produção de indivíduos
em sociedade”. Carece de sentido, pois, o “dilema de Rubin” identificado por Murray.
9 Segundo Gontijo (1982, p.43), a dialética “é um processo no qual os seus momentos já se encontram
presentes como germens não desenvolvidos no seu ponto de partida. O movimento dialético
constitui-se no desdobramento desses germens, na explicitação da racionalidade implícita no princípio”.
“Como uma monada leibniziana, a mercadoria reflete em si todo o ‘mundo’ condicionado
por essa estrutura” (Schmidt, 1973, p.71), ou seja, a sociedade burguesa. “Da mesma maneira que
a forma simples do valor, o ato isolado de troca de uma só mercadoria dada contra outra, contém
já de forma não desenvolvida, todas as contradições fundamentais do capitalismo em si, assim a
mais simples generalização significa já (…) o conhecimento cada vez mais adiantado da profunda
conexão objetiva do mundo por parte dos homens” (Lenin, apud Schmidt, 1973, p.71). Já para
Müller (1982, p.19-20), a mercadoria “é a categoria elementar da produção capitalista que contém
o ‘germe’ das categorias mais complexas”. Engana-se, pois, Saad Filho (1982, p.117) quando afirma
que “a noção de que a riqueza do concreto está contida na mercadoria e pode ser revelada apenas
pela aplicação da dialética cheira a idealismo, porque pressupõe que o capitalismo pode ser
reconstruído em pensamento puramente através da análise abstrata, indiferentemente do contexto
histórico”.
10 Mais do que isso, a semente, além de ser o ponto de partida da árvore, é seu produto final. A
analogia dificilmente poderia ser mais perfeita.
11 Contradizendo a si mesmo, o próprio Arthur reconhece que a exposição do sistema começa “com
alguma relação simples, mas determinada (tal como a forma mercadoria)”.
12 Não se pode, portanto, concordar com Finelli (2007, p.65), para quem “no Capital de Marx, a
relação abstrato concreto não é para ser lida como uma oposição – contradição”.
13 Com razão, Finelli (2007, p.65) afirma que a concepção de Arthur sobre a abstração é “influenciada
pela tradição do Empirismo inglês, segundo a qual uma abstração nunca pode ser completamente
real”.
14 Ao transferir o ônus do acerto da teoria se encontrar na totalidade desenvolvida, os “novo dialé-
ticos” tornam necessário “testar” o sistema, conforme propõe a metodologia tradicional criticada
por Arthur (2005, p.83).
15 Ressalte-se, todavia que, conforme contesta Meek (1977), Morishima e Catephores falham ao não
apresentar evidências históricas convincentes da não existência da produção mercantil simples em
âmbito restrito.
16 Veja-se, também, Marx (1867, p.147).
17 O afã de acumular mais dinheiro, assim, “é comum tanto ao capitalista e ao entesourador, mas
enquanto este é capitalista enlouquecido, aquele é o entesourador racional” (Marx, 1867, p.173).
18 Um exemplo de uma economia mercantil simples pode ser encontrado em Marx (1893, p.199-200).
19 Refere-se a Marx e Engels (1846, p.27), que afirmam que a partir da concepção de que o modo de
produção é determinante, “a história deixa de ser uma coleção de fatos mortos”.
20 Citação da edição em alemão da Ciência da Lógica, Leipzig, 1951, v.II, p.458.
21 Sweezy (1950) atribuiu erroneamente à expansão independente do comércio a desagregação do
modo de produção feudal e o surgimento do capitalismo, como se a circulação mercantil, de por
si, criasse trabalho “livre”. Para uma crítica, veja-se não somente Dobb (1950), Takahashi (1951)
e Hilton (1954), mas o próprio Marx (1867, Livro I, Cap. IV).
22 É curioso que Macfarlene critique a tradição historiográfica que atesta a pré-existência da produção
camponesa de tipo feudal antes do advento do capitalismo apoiando-se em evidências de meados
do séc. XVII e mesmo posteriores, esquecendo-se que Marx (1867, Livro I, Cap. XXIV, p.831) afirma
que “nos fins do século XIV, a servidão tinha desaparecido praticamente da Inglaterra”.
23 Para uma discussão dessa perspectiva, veja-se Kincaid (2008, p.400-6).
24 Restaria saber se o capital carece da estrutura da Ideia ou se a Ideia hegeliana carece de consistência.
Como ressalta Patrick Murray (2005, p.148), na Crítica da filosofia do direito de Hegel e nos
Manuscritos econômico-filosóficos de 1844, Marx sustenta que, ao contrário do que quer Hegel,
as contradições da Essência não se reconciliam numa esfera mais elevada, ou seja, ao nível do
Conceito, cuja coroa é a Ideia. Ressalte-se, porém, que esses não são textos da maturidade.
Referências bibliográficas
ALBITRON, R. How dialectics runs around: The antinomies of Arthur’s Dialectic of
Capital. Historical Materialism, v.13, n.2, p.167-286.
ALTUSSER, L. 1968. O marxismo não é um historicismo. In: ALTUSSER, L.; BALIBAR,
É.; ESTABLET, R. Ler O capital. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. p.61-90.
ARTHUR, C. J. The New Dialectics and Marx’s Capital. Leiden: Brill, 2004.
BÁEZ, M. L. R. (org.). Dialéctiva y Capital. Ciudad de México: Universidad Autónoma
Metropolitana, 2005.
_____. Sobre alguns momentos del concepto de capital. In: _____. Dialéctica y Capital.
Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2005a. p. 257-302.
BIDET, J. New interpretations of Capital. In: BIDET, J.; KOUVELAKIS, S. Critical Companion
to Contemporary Marxism. Leiden, The Netherlands: Brill, 2008. p.369-383.
CALLINICOS, A. Against the New Dialectic. Historical Materialism, v.13, n.2, p.41–59,
2005.
DOBB, M. 1950. Replica. Science & Society, v.XIV, n.2, p.157-167. [Reimpresso em
SWEEZY, P. M. et al. 1954. Do feudalismo ao capitalismo. São Paulo: Martins
Fontes, 1971. p. 59-77.]
EVANGELIOU, C. Aristótetles Categories and Porphyry. New York: Köbenhauer, 1988.
FINELLI, R. Abstraction versus contradiction: Observations on Chris Arthur’s, The New
Dialectic and Marx’s ‘Capital’. Historical Materialism, v.15, p.61-74, 2007.
GONTIJO, Cláudio. Dialética e método na Introdução aos Grundrisse. XIX Encontro
Nacional de Economia Política, Florianópolis, 3 a 6 de junho de 2014.
_____. Dialética da propriedade e gênese do capitalismo. Boletim SEAF, v.2, 1982, p.43-68.
HEGEL, G.W.F. Lecciones sobre La Historia de la Filosofia. Ciudad de México: Fondo
de Cultura Económica, [1833 ] 1977. 3 vols.
_____. Ciencia de la lógica. Buenos Aires: Solar/Hachette, [1812] 1968.
_____. A fenomenologia do espírito. In: Hegel. Tradução de Wenceslao Roces com a
colaboração de Ricardo Guerra. São Paulo: Abril Cultural, [1807] 1980. p.1-75.
HILTON, R. 1954. Comentário. In: SWEEZY, P. M. et al. 1954. Do feudalismo ao capitalismo.
São Paulo: Martins Fontes, 1971. p.151-166.
KINCAID, J. The New Dialectic. In: BIDET, J.; e KOUVELAKIS, S. Critical Companion
to Contemporary Marxism. Leiden, The Netherlands: Brill, 2008. p.385-411.
KÖSIK, K. A Dialética do concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, [1963] 1985.
LATOUCHE, S. Análise econômica e materialismo histórico. Tradução de Ana Maria
Kirschner Montenegro e Carlos Roberto Oliveira. Rio de Janeiro: Zahar, [1975] 1977.
LAWLER, J. Hegel on logical and dialectical contradictions, and misinterpretations from
Bertrand Russell to Lucio Colletti. In: MARQUIT, E.; MORAN, P.; TRUIT, W. H.
Dialectical Contradictions: Contemporary Marxist Discussions. Mineapolis: Marxist
Educational Press, 1982. p.11-44.
LENIN, V. I. El desarrollo del capitalismo en Rusia. Tradução de José Laín Entralgo.
Barcelona: Ariel, [1908] 1974.
LIKITKIJSOMBOON, P. The Hegelian dialectic and Marx’s Capital. Cambridge Journal
of Economics, v.16, p.405-419, 1992.
46 • Crítica Marxista, n.40, p.27-47, 2015.
LUKÁCS, G. História e consciência de classe. Tradução de Telma Costa. Porto: Publicações
Escorpião, [1919-22] 1974.
MACFARLENE, A. Família, propriedade e transição social. Tradução de Ruy Jungman.
Rio de Janeiro: Zahar, 1980.
MARX, K. O capital. Tradução de Reginaldo Sant’Ana. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, [1867-1893] s.d. 6v.
_____. Posfácio da 2ª Edição. In: MARX, O capital, [1873] 1867. p.8-17.
_____. El capital. Libro I – Capitulo VI Inédito. Tradução de Pedro Scaron. Buenos Aires:
Siglo XXI, [1866] 1974.
_____. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Borrador) 1857-
1858. Tradução de José Arico, Miguel Murmis e Pedro Scarón. Cidade do México:
Siglo XXI, [1857-1858] 1971.
_____. La ideologia alemana. Tradução de Wenceslao Roces. Barcelona: Grijalbo, [1846]
1974.
MEEK, R. L. The historical transformation problem. In: Smith, Marx and After. London:
Chapman & Hall, 1977. p.134-145.
MORISHIMA, M.; CATEPHORES, G. Existe um problema de transformação “histórica”?
In: Valor, Exploração e Crescimento. Rio de Janeiro: Zahar, [1978] 1980. p.196-227.
MÜLLER, M. L. Exposição e método dialético em O capital. Boletim SEAF-MG, n.2,
p.17-41, 1982.
MURRAY, P. La teoría del valor trabajo “verdaderamente social” de Marx: El trabajo abstracto
en la teoria marxista del valor. In: BÁEZ, M. L. R. (org.). Dialéctica y Capital.
Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2005. p. 59-95.
REALE, G.; ANTISERI, D. História da Filosofia. São Paulo: Paulus, [1986] 2005. 3v.
REUTEN, Geert. El trabajo difícil de uma teoría del valor social: metáforas y dialéctica
sistemática al principio de El Capital de Marx. In: BÁEZ, M. L. R. (org.). Dialéctica y
Capital. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2005. p.31-58.
ROSDOLSKY, R. Genesis y Estructura de El Capital de Marx. Tradução de León Mames.
Cidade do México: Siglo XXI, [1968] 1978.
SAAD FILHO, A. Re-reading both Hegel and Marx: The “new dialectics” and the method
of Capital. Revista de Economia Política, v.17, n.65, p.107-120, 1997.
SCHIMIDT, A. Historia y estructura. Tradução de Gustavo Muñoz. Madrid: Alberto
Corazon, 1973.
SMITH, T. Dialectical Social Theory and its Critics. New York: State of New York Press,
1993.
SWEEZY, P. M. Teoria do Desenvolvimento Capitalista. Tradução de Waltensir Dutra.
Rio de Janeiro: Zahar, [1956] 1973.
_____. A transição do feudalismo para o capitalismo. Science & Society, vol. XIV, n.2,
1950, p.134-157. [Reimpresso em SWEEZY, P. M. et al. 1954. Do feudalismo ao
capitalismo. São Paulo: Martins Fontes, 1971. p.17-57.]
SWEEZY, Paul M. et al. 1954. Do feudalismo ao capitalismo. São Paulo: Martins Fontes,
1971.
TAKAHASHI, H. K. Uma contribuição para a discussão. Economic Review (Keizai
Kenkyu), v.II, n.2, 1951, p.128-146. [Reimpresso em SWEEZY, P. M. et al. 1954. Do
feudalismo ao capitalismo. São Paulo: Martins Fontes, 1971. p.79-128.]
Resumo
Este artigo examina criticamente a “Nova Dialética” de Christopher Arthur, que
se propõe a “reconstruir” O capital, procurando demonstrar o seu caráter analítico
e formal, que se desdobra por adição de determinações. Com o abandono
do universal concreto, a totalidade deixa de ser gerada pelos desdobramentos de
suas contradições internas, com a perda de seu caráter necessário e sistemático. A
totalidade, além de assistemática, perde sua autofundamentação, deixando de ser
um círculo que condiciona necessariamente a sua própria constituição. Torna-se,
portanto, totalidade arbitrária, fruto da casualidade, do acidental.
Palavras-chave: Nova Dialética; dialética marxista; dialética hegeliana; materialismo
histórico.
Abstract
This article examines critically Christopher Arthur’s “New Dialectic”, showing it’s
analytical and formal character, which works through the addition of determinations,
making necessary to “reconstruct” Marx’s Capital. With the abandonment
of the universal concrete, the unfolding of its inner contradictions, losing its features
as necessary and systematic, no longer generates the totality. As a result, the
totality, besides a-systematic, loses its self-demonstrated fundaments, as a circle
that conditions its own history as the necessary unfolding of its constitution. It
becomes, thus, an arbitrary construction, a product of chance.
Keywords: New Dialectic; Hegelian dialectic; Marxian dialectic; historical
materialism.
CONSULTE A BIBLIOTECA VIRTUAL DA CRÍTICA MARXISTA
http://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista
Publicado originalmente em Crítica Marxista, n.40, p.27-47, 2015.
Leia o original aqui: http://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo2016_08_03_12_29_26.pdf