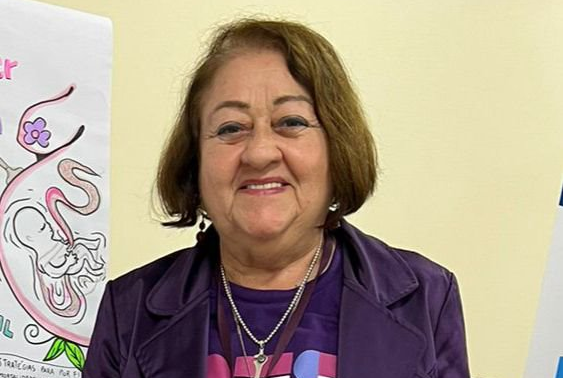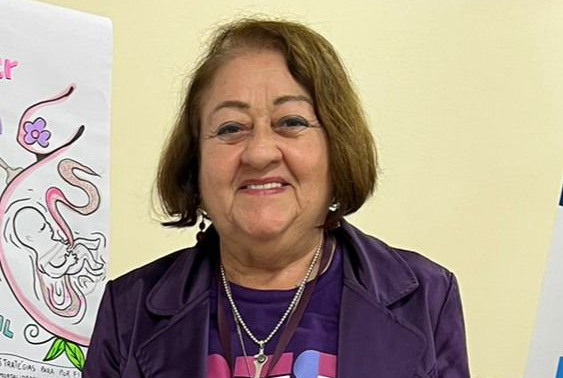No Brasil, por exemplo, as mulheres apenas puderam se matricular em estabelecimentos de ensino em 1827. O direito a cursar uma faculdade só foi adquirido cerca de 50 anos depois. Apenas em 1887 o país formaria sua primeira médica. As primeiras mulheres que ousaram dar esse passo rumo à sua autonomia e profissionalização foram socialmente segregadas.
O primeiro Código Civil brasileiro, aprovado em 1916, reafirmou muitas das discriminações contra a mulher. Escreveu a professora Maria Lygia Quartim de Moraes: “Com o casamento, a mulher perdia sua capacidade civil plena. Cabia ao marido a autorização para que ela pudesse trabalhar, realizar transações financeiras e fixar residência. Além disso, o Código Civil punia severamente a mulher vista como ‘desonesta’, considerava a não virgindade da mulher como motivo de anulação do casamento (…) e permitia que a filha suspeita de ‘desonestidade’, isto é, manter relações sexuais fora do casamento, fosse deserdada”. As mulheres casadas – ou sob o pátrio poder – eram consideradas incapazes juridicamente, como as crianças, os portadores de deficiência mental, os mendigos e os índios.
Desde a formação da sociedade brasileira, as mulheres foram excluídas de todo e qualquer direito político. Por exemplo, a Carta Outorgada do Império (1824) e a primeira Constituição da República (1891) não lhes concederam o direito de votar e nem de serem votadas. Uma situação que persistiria até as primeiras décadas do século XX. Eram, portanto, consideradas cidadãs de segunda categoria. Ao bem da verdade, este não era apenas um problema do Brasil, pois, naquela época, as mulheres estavam excluídas dos seus direitos políticos na quase totalidade dos países do mundo.
Nesse período sombrio elas não se calaram. No entanto, só muito recentemente a história da resistência feminina começou a ser desvendada pela historiografia. As mulheres lutaram pelo acesso à Educação e pelos seus direitos civis e políticos. Também se envolveram nos grandes movimentos que ajudaram a construir a nação, como as lutas pela independência, a campanha abolicionista, a proclamação da República etc.
A primeira feminista brasileira de que se tem notícia foi a potiguar Nísia Floresta (1809-1885). Ela se destacou como educadora, criando e dirigindo diversas escolas femininas no país. Considerava a educação o primeiro passo para a emancipação da mulher. Traduziu e publicou no país o manifesto feminista de Mary Wollstonecraft – Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens. Após ter permanecido 28 anos na Europa, ao voltar para o Brasil, apoiou o movimento abolicionista e republicano. Nísia foi uma pessoa muito à frente de seu tempo.
A imprensa alternativa feminina, surgida em meados do século XIX, foi, no entanto, uma espécie de embrião do movimento de mulheres. Em 1852 a jornalista Juana Noronha fundou e dirigiu o primeiro jornal produzido por mulheres – o Jornal das Senhoras. No ano de 1873 a professora Francisca Motta Diniz fundou o jornal O sexo feminino. Em um de seus editoriais afirmava: “Não sabemos em que grande república ou republiqueta a mulher deixe de ser escrava e goze de direitos políticos, como o de votar e ser votada. O que é inegável é que em todo o mundo, bárbaro e civilizado, a mulher é escrava”. O jornal se envolveria na grande campanha pela abolição da escravatura.
Inúmeros outros jornais femininos surgiriam. A maior parte deles teve vida curta, e mesmo não sendo revolucionários ou mesmo feministas, ajudaram a conscientizar as mulheres sobre o papel subalterno que lhes era destinado pela sociedade patriarcal. Este breve artigo se concentrará na luta das mulheres pelos direitos políticos, especialmente o direito de votar e serem votadas.
A República Velha e os direitos das mulheres
Desde meados do século XIX, as mulheres buscaram romper o cerco que as envolvia e conquistar seus direitos civis e políticos. O voto feminino foi um dos temas tratados pelos deputados que elaboraram a primeira Constituição Republicana (1891). Contudo, o texto final acabou não deixando clara a situação política da mulher. Ele não proibia explicitamente o voto feminino, mas também não o garantia de maneira clara. A proposital ambiguidade de sua redação possibilitou que a grande maioria dos legisladores e o próprio poder judiciário interpretassem ao seu bel prazer o que pretendiam os constituintes. Isso excluiu as mulheres do processo político-eleitoral por várias décadas.
As argumentações dos antifeministas eram as mais execráveis. O deputado Tito Lívio afirmou que as mulheres tinham “cérebros infantis” e seriam portadoras de “inferioridade mental” e “retardo evolutivo” em relação aos homens. Lacerda Coutinho, por sua vez, disse que “as mulheres tinham funções (biológicas) que os homens não tinham e essas funções eram tão delicadas (…) que bastava a menor perturbação nervosa, um susto, um momento de excitação, para que elas se pervertessem”.
Contudo, a maioria dos opositores ao voto feminino argumentava de maneira diferente. Sustentava a superioridade moral da mulher e, justamente por isso, ela seria incompatível com a política. A mulher deveria ser protegida pela sociedade deste mal. Deus e/ou a natureza havia reservado a ela outro papel, mais nobre, o de “rainha do lar”. Essa, por exemplo, era a visão dos positivistas.
Já as mulheres engajadas leram o texto constitucional de outra forma. Se ele explicitava os que estavam excluídos (mendigos, analfabetos, índios, praças de pré e religiosos de ordens monásticas sujeitos a voto de obediência) e entre eles não se encontrava nenhuma referência às mulheres, isso era uma comprovação cabal de que os constituintes não pretendiam proibir o voto feminino. Uma argumentação irretorquível.
Usando essa argumentação, ao longo dos anos, várias mulheres, em diversas regiões, tentaram se alistar como eleitoras. Em 1910, diante das constantes recusas, algumas delas vanguarda fundaram o Partido Republicano Feminino. Ainda que pequeno, ele mostrava o grau de consciência e organização atingido pelas brasileiras no início do século XX.
Entre suas fundadoras estavam a professora Leolinda Daltro e a escritora Gilka Machado. Esse aguerrido partido chegou a promover em novembro de 1917 uma passeata com quase 100 mulheres no centro do Rio de Janeiro. Não deixava de ser uma pequena revolução. No mesmo ano, o deputado socialista Maurício de Lacerda apresentou um projeto estabelecendo o voto feminino, que não chegou a ser apreciado pela Câmara Federal.
Naquela mesma época, outra personagem entrou em cena: Bertha Lutz. Filha de um dos mais renomados cientistas brasileiros, Adolfo Lutz, estudou na Sorbonne e formou-se em Biologia. Na França entrou em contato com as ideias feministas que fervilhavam em solo europeu.
De volta ao Brasil, em 1918, imediatamente envolveu-se na luta pelo voto feminino. Na influente Revista da Semana afirmou: “As mulheres russas, finlandesas, dinamarquesas e inglesas (…) já partilham ou brevemente partilharão do governo, não só contribuindo com o voto como podendo ser elas próprias eleitas para o exercício do Poder Legislativo (…). Só as mulheres morenas continuam, não direi cativas, mas subalternas (…). Todos os dias se leem nos jornais e nas revistas do Rio apreciações deprimentes sobre a mulher. Não há, talvez, cidade no mundo onde menos se respeite a mulher”.
Pertencente à elite econômica, política e intelectual brasileira, Bertha Lutz teve algumas condições para a sua atuação que outras não tiveram. No ano seguinte (1919), foi indicada pelo governo brasileiro para participar da reunião do Conselho Feminino da Organização Internacional do Trabalho. Ali foi aprovado o princípio de salário igual para trabalho igual, sem distinção de sexo. Ela também representou o país na I Conferência Pan-Americana da Mulher, realizada em abril de 1922.
Nos Estados Unidos, onde se realizou esse encontro, conheceu Carrie Chapman Catt. Esta representava uma corrente menos radical do movimento feminista internacional e condenava os métodos radicais das sufragistas europeias, especialmente britânicas. Bertha Lutz, numa entrevista, afirmou que a orientação da senhora Carrie era “muito salutar, pois o movimento nos Estados Unidos tem sido muito digno e completamente alheio aos métodos violentos empregados por alguns países europeus”. Esses métodos pacíficos se adequavam melhor à condição social das feministas brasileiras daquele tempo, em geral pertencentes às elites.
Ainda em 1922, Bertha organizou o 1º Congresso Feminista e fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF). Esta foi a primeira entidade feminista brasileira com certa expressão nacional e internacional. Entre os seus objetivos estavam: “assegurar à mulher os direitos políticos que a nossa constituição lhe confere” e “estreitar os laços de amizade com os demais países americanos a fim de garantir a manutenção perpétua da paz e da justiça no Hemisfério Ocidental”. A referência ao “hemisfério ocidental” não era casual e refletia a ideologia predominante no movimento.
Um congresso jurídico realizado no Rio de Janeiro aprovou por 28 votos contra apenas 4 resoluções que diziam: “1º) A mulher não é, moral nem intelectualmente, inapta para o exercício dos direitos políticos; 2º) Em face da Constituição Federal, não é proibido às mulheres o exercício dos direitos políticos”. Rui Barbosa também passou a defender a tese da constitucionalidade do voto feminino.

I Congresso Internacional Feminista no Rio de Janeiro. Na foto, Julia Valentim da Silveira Lopes de Almeida, Margarida Lopes de Almeida, Carrie Chapman Catt, Bertha Lutz, Rosette Susana Manus, Jerônima Mesquita, Edwin Vernon Morgan, José Felix Alves Pacheco. Crédito: Arquivo Nacional
Uma garota do barulho
Entre os nomes femininos que cabe ainda destacar neste conturbado ano de 1922 é o da combativa estudante Diva Nolf Nazário. Na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde estudava, defendeu, contra a maioria de seus pares, o simples direito de votar na eleição do diretório acadêmico XI de Agosto. Consciente da situação inferior que se encontravam as mulheres, participou ativamente da fundação da Aliança Paulista pelo Sufrágio Universal, tendo sido sua secretária-geral.
Convencida da constitucionalidade do voto feminino, ela tentou se registrar como eleitora. Para isso, fez uma verdadeira peregrinação por vários órgãos públicos. Chegou mesmo, depois de muita insistência, a conseguir um registro eleitoral provisório. Contudo, o parecer do juiz eleitoral foi-lhe desfavorável. Escreveu o magistrado: “Entendem, por certo, a maioria dos nossos representantes que (…) não era ainda o momento de romper com as tradições do nosso direito, segundo as quais as palavras ‘cidadãos brasileiros’, empregadas nas leis eleitorais, designam sempre cidadãos do sexo masculino”. Para ele as atribuições plenas da cidadania se vinculavam às “energias e veemências próprias da organização viril”. A mulher seria uma criatura “destinada a dividir harmonicamente com o homem a responsabilidade da vida em comum, ela, na tranquilidade do lar, cuidando da ordem doméstica, ele, no trabalho cotidiano, auferindo meios de prover a subsistência da família”. Diva recorreu da decisão e seu pedido foi indeferido. O caso repercutiu nacionalmente e ganhou as páginas dos principais jornais.
No ano seguinte, 1923, ela publicou Voto Feminino e Feminismo, no qual apresentou sua luta e as diversas posições existentes em relação ao sufrágio feminino, através de artigos publicados na imprensa daquela época. O livro, cuja edição fac-similar foi publicada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 2009, é uma referência obrigatória para aqueles que desejam pesquisar o movimento feminista no início do século XX.
A crise do Estado Oligárquico e o avanço feminista
No Congresso Nacional também crescia o número de parlamentares favoráveis ao voto feminino. Alguns projetos chegaram mesmo a ser aprovados nas comissões e em primeira votação nas duas casas legislativas. Nas eleições presidenciais de 1922, a vitória eleitoral de Arthur Bernardes – um opositor do voto feminino – representou um duro golpe para os objetivos da FBPF. Seu governo foi marcado pelas rebeliões tenentistas, o permanente estado de sítio e perseguições políticas aos seus opositores.
Washington Luís, eleito presidente em 1926, incluiu em sua plataforma eleitoral o voto feminino. Sua vitória animou as militantes feministas. A luta foi retomada dentro e fora do parlamento. O estopim foi a proposta de realização de uma reforma eleitoral. Novamente foram apresentados projetos que garantiam o voto às mulheres e as Comissões de Justiça deram pareceres favoráveis a eles.
As entidades femininas fizeram um abaixo-assinado com mais de duas mil assinaturas, em geral de mulheres de projeção social. Uma comissão passou a acompanhar de perto o trabalho parlamentar. Tudo indicava que, desta vez, a situação seria resolvida favoravelmente às mulheres.
Contudo, o projeto que instituía o voto feminino acabou não sendo votado, pois dois senadores apresentaram emendas desfigurando-o. Uma das emendas elevava a idade mínima para votar e ser eleita de 21 para 35 anos, com o objetivo de evitar que “meninas de pouca idade” fossem eleitas para o Congresso. A outra emenda também estabelecia o voto diferenciado para mulheres, em que se afirmava: “Podem votar e ser votadas (…) as mulheres diplomadas com títulos científicos e de professora, que não estiverem sob poder marital nem paterno”. A matéria voltou para a Comissão de Justiça que rejeitou as emendas. O projeto entrou na lista de espera para nova votação, que nunca ocorreria.
O dique, no entanto, começara a ser rompido. Juvenal Lamartine havia sido um dos senadores que mais defenderam a proposta do direito de voto para as mulheres e, por isso mesmo, foi apoiado por elas na sua campanha ao governo do Rio Grande do Norte. Antes mesmo de tomar posse, solicitou que seus correligionários na Assembleia Legislativa aprovassem o projeto que estabelecia o voto feminino. Assim, as mulheres potiguares foram as primeiras a usufruir desse direito, bem como foram as primeiras mulheres a assumirem cargos no legislativo e executivo no país. A primeira eleitora foi Celina Guimarães. Em 1928, Júlia Alves Barbosa foi eleita intendente (vereadora) em Natal e Luisa Alzira Teixeira Soriano eleita prefeita em Lajes. Alzira Soriano era fazendeira e obteve 60% dos votos, sendo a primeira mulher a assumir uma prefeitura na América Latina.

Em 1927, os votos femininos contabilizados na eleição para o Senado foram cassados pela Comissão de Poderes do Congresso Nacional. Segundo essa Comissão, as mulheres poderiam votar apenas nas eleições para as Câmaras Municipais e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, mas não nas eleições federais. A FBPF, em protesto, lançou um duro Manifesto à Nação. Ficava cada vez mais claro para muitas mulheres que não seria aquele sistema decadente que garantiria o seu direito ao voto.
A direção da FBPF procurava tomar distância da política partidária – embora tivesse ligação com setores das oligarquias presentes no poder. Quando Nathércia Silveira, dirigente nacional, se envolveu abertamente na campanha de Getúlio Vargas, teve que se afastar da entidade. Logo após a vitória da Revolução de 1930, ela fundou a Aliança Nacional de Mulheres (ANM) que congregou mais de 3 mil filiadas e procurou dar sustentação política e social ao novo regime.
As operárias, embora tivessem grande atuação nas greves por melhores salários e condições de trabalho, tiveram pequena atuação na luta pelos direitos civis e políticos. Isso refletia vicissitudes do movimento operário brasileiro daquela época. Os anarquistas, força hegemônica até meados dos anos 1920, repudiavam a atuação política institucional e eram radicalmente contra a participação eleitoral. Por isso não se incorporaram na luta pelo sufrágio universal e feminino, que consideravam improcedente. O próprio Partido Comunista, criado em 1922, embora defendesse o voto feminino, ainda padecia de certo obreirismo e pouquíssima inserção junto às mulheres, mesmo as trabalhadoras. Situação que só começaria mudar no final daquela década.
Assim, a luta pelo sufrágio feminino foi travada fundamentalmente pelos setores de vanguarda da burguesia e da pequena burguesia urbana. Isso teve consequências na ideologia e nas formas de organização e de luta do movimento feminista brasileiro do início do século XX. Sem bases sociais populares, não se produziu uma forte corrente de esquerda como aconteceu em alguns países europeus.
A Revolução de 1930 e a conquista do voto feminino
A primeira proposta de código eleitoral feita pelo governo provisório de Vargas ainda limitava o voto feminino, determinando que só poderiam votar as mulheres solteiras e viúvas acima de 21 anos e, as casadas, apenas com autorização dos maridos. Houve uma grande campanha unificada entre a ANM e a FBPF para derrubar tais restrições. As líderes feministas se encontraram pessoalmente com Vargas e tiveram então suas reivindicações atendidas.
O novo Código Eleitoral, promulgado em 1932, garantiu-lhes o direito de votar e serem votadas. Vargas ainda indicou Bertha e Nathércia, como representantes das mulheres brasileiras, para a comissão especial encarregada de elaborar a proposta de constituição federal que seria apreciada pelo Congresso – um fato inédito na história política brasileira. A Constituição de 1934 iria estabelecer claramente, sem ambiguidade, o direito de voto para as mulheres. Assim, o Brasil se tornou o quarto país das Américas a estabelecer o voto feminino. Antes dele, haviam-no concedido o Canadá, Estados Unidos e Equador.
A paulista Carlota Pereira de Queirós foi a primeira mulher eleita para a Câmara dos Deputados. Formada em Medicina, era também uma representante destacada da elite paulista. Berta Lutz, apesar de seu esforço, não conseguiu se eleger pelo Rio de Janeiro. Ela ficaria na primeira suplência. Alagoas, Bahia, Sergipe, São Paulo e Amazonas elegeram deputadas estaduais. O Sul teria que esperar um pouco mais. Bertha, finalmente, assumiria a sua vaga na Câmara dos Deputados, em 1936.

A primeira mulher eleita deputada federal no Brasil, Carlota Pereira de Queirós na Assembléia Constituinte de 1934. Foto: Acervo Câmara dos Deputados
Naquela conjuntura de crise havia crescido a influência da esquerda entre as mulheres. Como resultado, em 1934, foi fundada a União Feminina. Ela se integraria à Aliança Nacional Libertadora (ANL), que tinha participação de socialistas, comunistas e anti-imperialistas. Após a cassação desta entidade e do esmagamento do levante ocorrido em novembro de 1935, as principais dirigentes da União Feminina foram presas. Em seguida, a FBPF e demais entidades femininas sofreriam um duro golpe com a decretação do Estado Novo em novembro de 1937. Sem democracia o movimento feminino refluiria.
Apesar dos limites apontados acima, podemos afirmar que sem a ação decidida de mulheres como Berta Lutz e Diva Nolf, não seria possível falar em democracia e cidadania no Brasil. Por isso, seus nomes deveriam constar num lugar de honra dos nossos livros de história, rompendo assim com a situação de invisibilidade que o mundo burguês masculino procurou condená-las.
* Texto adaptado da apresentação ao livro Voto feminino & feminismo de Diva Nolf Nazario (1923), edição em fac-símile produzida pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 2009
** Augusto César Buonicore é historiador, presidente do Conselho Curador da Fundação Maurício Grabois. E autor dos livros Marxismo, história e a revolução brasileira: encontros e desencontros, Meu Verbo é Lutar: a vida e o pensamento de João Amazonas e Linhas Vermelhas: marxismo e os dilemas da revolução. Todos publicados pela Editora Anita Garibaldi.
Bibliografia
ALVES, Branca Moreira & PITANGUY, Jacqueline. O que é feminismo, Ed. Brasiliense, SP, 1981
ALVES, Branca Moreira. Ideologia e feminismo: a luta da mulher pelo voto no Brasil, Ed. Vozes, Petrópolis, 1980.
GRINBERG, Keila – Código Civil e Cidadania, Jorge Zahar Editor, RJ, 2001
HAHNER, June E. A mulher brasileira e suas lutas sociais e políticas: 1850-1937, Ed. Brasiliense, S.P., 1981
PINTO, Celi Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil, Ed. Fundação Perseu Abramo, SP, 2003
MORAES, Maria Lígia Quartim – “Cidadania no feminino”: In Pinsky, J. e Pinsk, C B, História da Cidadania, Ed. Contexto, SP, 2003.
SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade, Ed. Expressão Popular, S.P, 2013