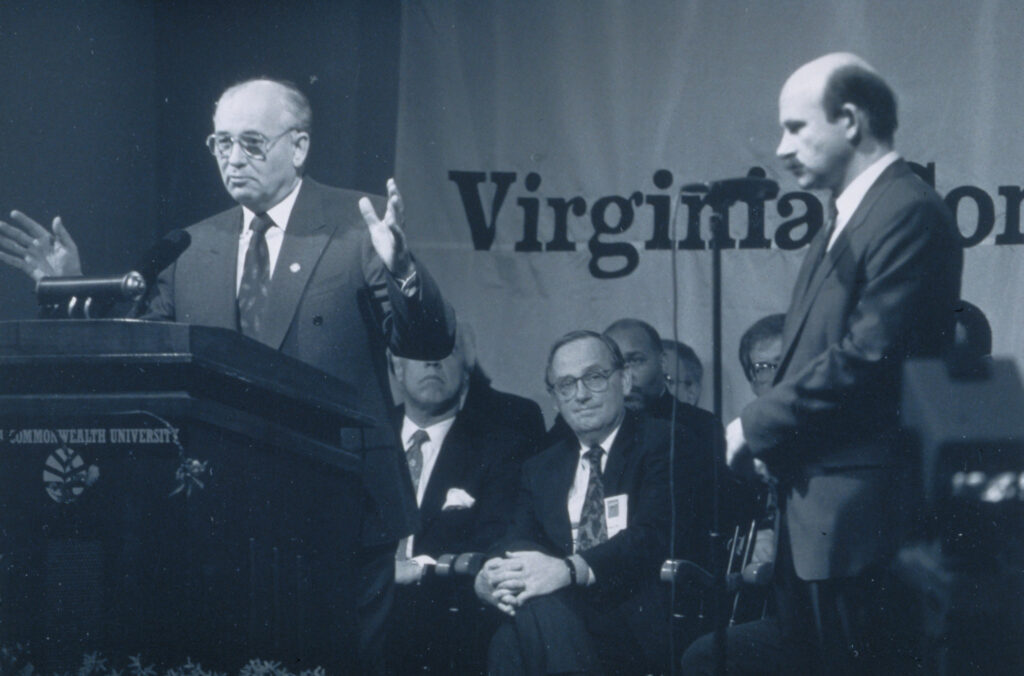O vice-presidente do PCdoB, Walter Sorrentino, considera em seu blog que o artigo do professor Luis Fernando Vitagliano em Brasil Debate “é oportuno”. Registra a passagem de 4 anos da explosão de manifestações de junho de 2013, ainda em busca de respostas. Vitagliano sustenta que a base geral delas foi a crise da representação, pondo em questão mais propriamente o ciclo da Nova República. Quer dizer, amplas coalizões para sustentar governos. Em termos positivos, “como conciliar a eleição de um projeto nacional no plano Executivo com a fragmentação do Legislativo em interesses mesquinhos e provincianos?” (valha certo exagero nessa última formulação pois não altera a propriedade da pergunta).
Evidentemente, o golpe do impeachment não era resposta alguma a essa demanda, mas simples atalho para o poder e à agenda neoliberal sem votos. Só agravou e postergou a crise.
Aceitando o argumento instigante, ele se pergunta: qual a saída para a crise política? Historicamente, ele registra, sempre foi no Brasil a do autoritarismo ou totalitarismo. Válida preocupação quanto a garantir até mesmo o calendário eleitoral de 2018! Mas pela positiva. Qual a saída? Antes, não há como salvar o pacto da Nova República; trata-se de reformas em profundidade o sistema político-partidário e eleitoral, pelo rumo de maior democratização. Também, manter o foco em que as eleições presidenciais no Brasil têm sido o momento mais elevado da disputa política onde pode impor-se (ou não) o interesse nacional e popular.
Mesmo, assim, como garantir a governabilidade? Coalizões baseadas em programas a cumprir, com diferentes focos entre diferentes partidos, daria mais transparência aos acordos, mas isso parece amplamente insuficiente. Outra experiência, a pensar com denodo, é realizar eleições presidenciais precedentes às eleições legislativas, embora concatenadas no tempo. As maiorias que se formariam seriam, certamente, diferentes das atuais.
O paradoxo da crise política e a ascensão autoritária, por Luís Fernando Vitagliano
Junho de 2013 fez emergir a crise da representação, o incômodo generalizado com as coalizões que fundamentaram a governabilidade na Nova República. O golpe não foi resposta positiva à crise política, e o caminho está aberto para uma solução autoritária ou totalitária
Para aqueles que supõem que a crise política está próxima do seu fim, a resposta positiva é improvável. Pelo contrário, a crise política pode se agravar. Essa verdade desnuda demonstra que uma possível eleição de um aventureiro qualquer pode nos tirar da crise para algo pior. Porque saídas mágicas para a crise política como o afastamento de Dilma não nos livrou de nenhum dos problemas da república e nos acrescentou vários, agravando, ampliando e perpetuando o caos.
A saída da crise política não pode ser posta, principalmente pelo campo progressista, para além da política. Será uma saída política e pela política. Mas, para isso é preciso entender as origens e as causas desta encalacrada situação que começa em 2013.
Parece haver um relativo consenso de que junho de 2013 é um marco. Mas, ainda são contraditórias suas interpretações. De um lado há análises que defendem que a fonte principal daqueles eventos foi o conflito distributivo que aflorava com a ascensão dos pobres à sociedade de consumo, que fez eco nas classes médias incomodadas com o encarecimento dos serviços para a casa grande e a ampliação do status das grandes massas. De outro lado, afirma-se que os movimentos de direita assumiram a pauta e a mobilização. Ambas as análises têm contribuições à interpretação dos protestos, mas o ponto nevrálgico de 2013 é outro: crise e fragmentação e a crise da representação.
Por isso, entender 2013 vai além dos protestos que aconteceram naqueles meses e desde então e pode ser lido como o desenrolar do que se configurou como o sistema político da Nova República – filho pródigo em termos institucionais da ditadura civil-militar de 1964. Defendo aqui que Junho de 2013 não é o começo, portanto, mas o primeiro ato do final da conciliação da classe política que fez a redemocratização com a base social que deu sustentação ao sistema político.
As diretas de 1984 dão início ao momento ótimo da conciliação da política com a sociedade civil pós-ditadura. A constituição de 1988 renovou as esperanças na política como objeto de transformação da realidade brasileira. Todavia, a Nova República se faz à base de conciliação político-partidária que não é exatamente de classe. E como fiador do alicerce desse sistema está o espólio da ditadura.
Sarney assumiu no lugar de Tancredo. Collor governou sem pudores com os coronéis do nordeste. FHC trouxe o PFL de Antônio Carlos Magalhães para a sala de estar do Palácio do Planalto e os Governos Lula e Dilma tinham suas bases no mesmo PMDB que esteve em todos esses governos aos quais se opunham.
Desde sempre a justificativa é a mesma: governabilidade. Pois junho de 2013, para além das passagens de ônibus, a corrupção e a desonestidade política tem como pano de fundo o incômodo generalizado em relação às coalizões que fundamentam a governabilidade. Essa crise de representatividade significa que embora a disputa pelo poder executivo tenha evoluído para uma espécie de binômio entre neoliberais e trabalhistas, a disputa pelo legislativo fragmentou-se de tal forma no pluripartidarismo que muitos dos eleitos representam seu próprio projeto político local.
Como conciliar a eleição de um projeto nacional no plano executivo com a fragmentação do legislativo em interesses mesquinhos e provincianos? Durante boa parte da Nova República isso se manifestou em forma de acordos e de cargos de governo. Junho de 2013, em certo sentido, foi um basta a isso. Seu espólio teve continuidade no crescimento da oposição e fez-se sentir na crise do impeachment, onde os interessados na substituição do projeto político trabalhista enxergam a oportunidade de impor o projeto político derrotado nas urnas.
O que faz o PSDB no governo Temer? Associou-se para dar a direção macro dos rumos do Estado. Aproveitou-se da oportunidade que as urnas não os deu. A história de reconciliação com a política, de tirar a Dilma para as coisas melhorarem, que tudo estava contaminado e a política se renovaria com a saída do PT é apenas cortina de fumaça, só havia dois objetivos no impeachment e nenhum dizia respeito a uma resposta para a crise. De um lado a proposta era estancar a sangria das delações e de outro lado implementar o projeto neoliberal. Nenhuma relação remota com a crise de representação que se agravaria com ambas as pretensões.
O golpe constitucional não foi uma resposta positiva à crise política, nem uma mudança que visava a reformar os termos da representatividade. Pelo contrário, foi uma resposta negativa à crise política: deixou bem claro que as formas de chantagem do legislativo para com o executivo poderiam vencer.
Os critérios pelos quais as pessoas votam no Brasil para o legislativo é, via de regra, mais relaxado em relação ao voto do executivo. Isso nos leva a um paradoxo na política brasileira: a sustentação do governo depende da base fragmentada do Congresso que não tem compromisso com o projeto eleito. A população agora mais atenta e acostumada com a democracia cobra do executivo a coerência que ela própria não tem ao eleger o legislativo. É o Deputado e o Senador com representatividade baixa e que se elege a partir do mesmo clientelismo dos anos 1910 que negocia seu apoio ao governo e impõe seus critérios de adesão.
A partir de junho de 2013 (com pegadas à direita ou não) iniciou-se um movimento na sociedade civil para não tolerar esse tipo de acordo. A mídia e o judiciário aparentemente perceberam o movimento e se tornaram os porta-vozes dessa aclamação. Assim, se sem esses acordos não se governa e com esse tipo de acordo a popularidade não se sustenta, como ter base social para governar sem cair em novas armadilhas?
A atual crise política não deixa espaço para dúvidas: ninguém governará sossegado até que as coisas mudem. Ou seja, é o fim da estabilidade do sistema político da Nova República. O que nos leva a um último ponto: se não há saída sustentada na popularidade nem à direita e nem à esquerda sem ceder aos caprichos da corja clientelista, qual a saída para a crise política?
Historicamente, conhecemos a resposta: autoritarismo ou totalitarismo. Sempre que houve crises de representatividade tão agudas como as que se desenham no Brasil, a resposta foi a ascensão (eleitoral ou não) de figuras que abusaram do poder para dominar a crise. Em nome de uma suposta moralização da política, figuras como Franco, Mussolini, Hitler, Pinochet tomaram as rédeas do poder e usaram de métodos violentos para domar a crise. Isso implicou, entre perdas de direitos civis, perseguições e cassações, ditaduras com maior ou menor grau persecutório.
Luís Fernando Vitagliano é cientista político e professor universitário. É colunista do Brasil Debate.