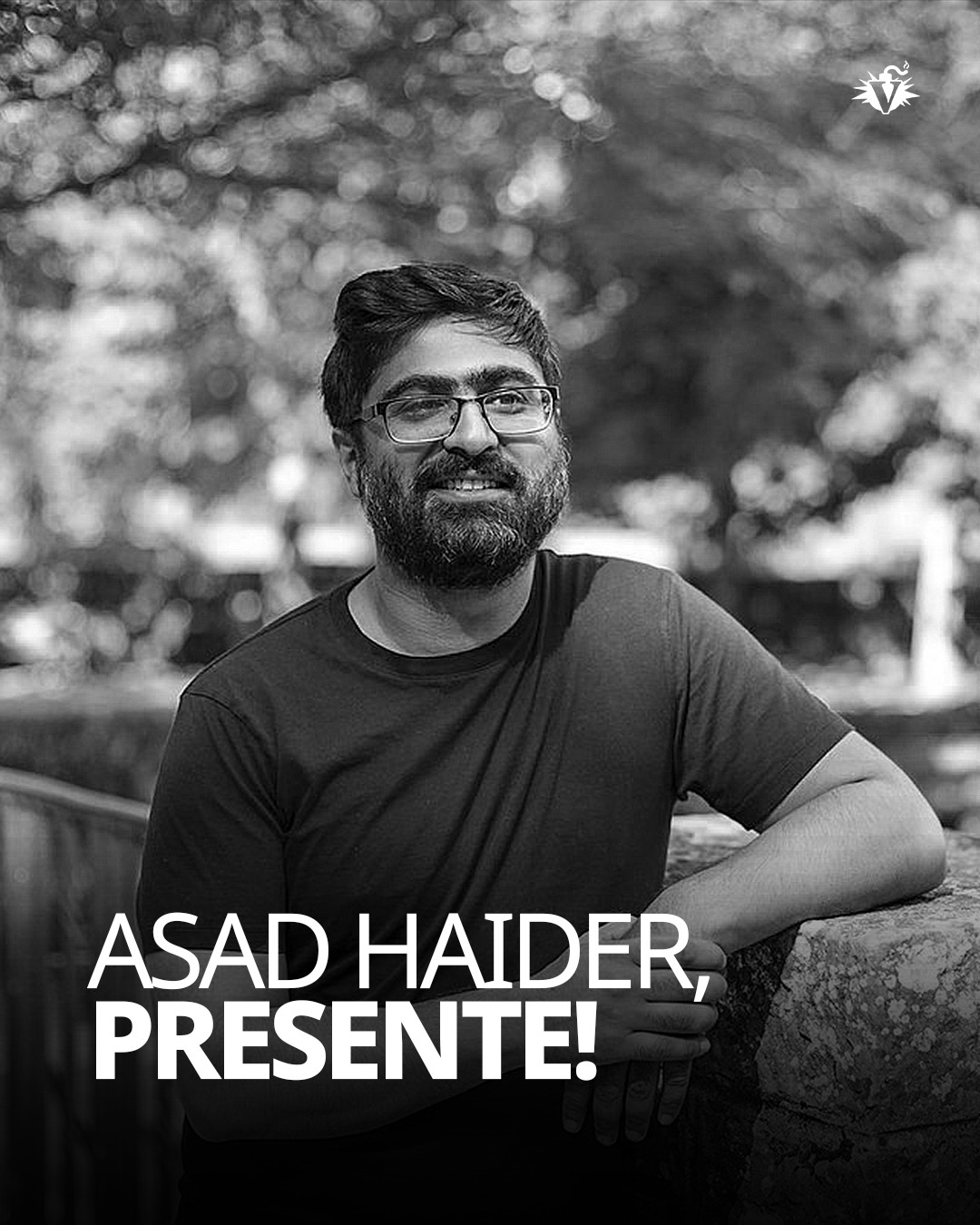A expressão “ação afirmativa”, que já se tornou conhecida também no Brasil, tem origem nos Estados Unidos dos anos 1960. Aparentemente, a expressão foi criada em um documento de Lyndon Johnson, quando ainda era senador e presidia a Comissão sobre Igualdade de Oportunidades de Emprego. Johnson aconselhava o presidente Einsenhower a mudar as normas dos contratos federais “para impor não meramente a obrigação negativa de evitar discriminação, mas o dever afirmativo de empregar demandantes”.
A partir daí, ação afirmativa ficou quase automaticamente identificada com a proteção dos afro-americanos, embora seja mais do que isso. A “racialização” dessa política teria enormes efeitos na sociedade americana, marcada como poucas (mas não tão poucas) pela sombra da escravidão negra.
Uma certa ocasião, o general Collin Powel disse algo a respeito:
“Para aqueles que dizem que sistemas de preferências são ruins, eu gostaria de lembrar os de sistemas de preferências que consideram aceitáveis: deduções fiscais em hipotecas, benefícios para veteranos, faculdades que recrutam avidamente os estudantes bons em futebol ou ginástica. Como se vê, nós não somos contra preferências, somos apenas contra as preferências que se relacionam com a cor da pele”. General Colin Powell, USA Weekend, 16/11/1997
Powell fora instigado a opinar por um simples motivo – era negro e nascera no Harlem. Literalmente, vivera esse drama na própria pele. Mas estava longe de ser um “radical”. Compunha a equipe de George W. Bush e chegou a ser cotado como candidato republicano à presidência da república.
A frase do general-ministro talvez servisse de chamada publicitária para um livro provocativo de Ira Katznelson. Trata-se de When Affirmative Action was White – An Untold History of Racial Inequality in Twentieth-Century America. O livro foi publicado em 2006 e, de certo modo, abriu um caminho para uma linha de investigação intrigante. Recentemente, por exemplo, nessa trilha foram lançados: White Rage: The Unspoken Truth of Our Racial Divide, de Carol Anderson (2016) e The Color of Law: A Forgotten History of How Our Government Segregated America, de Richard Rothstein (2017).
O tema básico do livro de Ira Katznelson (IK, daqui em diante) é este: “como os efeitos cumulativos de diversas políticas públicas do governo federal, nos anos 1930 e 1040, modelaram uma ação afirmativa para brancos “. E o subtítulo acrescenta um subtema: sobre isso não se fala.
IK mostra como as ações afirmativas pró-brancos foram muitas. E de enormes consequências. Por exemplo, as leis do New Deal, de Roosevelt, nos anos 1930, favorecendo os trabalhadores. IK mostra como os políticos racistas do Sul manipularam habilmente essa distância, de modo a manter um constante poder de veto às políticas sociais de Washington.
IK conta detalhadamente como a história americana do século XX, principalmente depois de Roosevelt, foi marcada por um paradoxo – políticas “progressistas” federalizavam o país, mas, ao mesmo tempo, a execução dessas políticas era enviesada por um uso maroto do “federalismo” e da “autonomia local”. Os programas eram “universais”, isto é, na letra eles não discriminavam os negros. O problema é a distância entre a letra, a declaração dos nobres objetivos, e a execução (em que mãos ficava).
Um modo todo branco de ser

Em algumas manifestações, essa defesa cerrada da autonomia dos estados e a oposição à “tirania” do governo federal chegava às raias do inacreditável. Veja esta pérola, no editorial do Charleston News and Courier em 1934:
“Com nossas políticas locais ditadas por Washington, não teremos mais a civilização com a qual estamos acostumados”
Essa “civilização” a que se referia o jornal era nada menos do que a prática da segregação racial – a ferro e a fogo, muitas vezes de modo literal. Alguns anos depois desse editorial, os norte-americanos iriam às armas para obrigar alguns alemães a abrir mão da “civilização à qual estavam se acostumando”. Sabemos qual era ela.
Os congressistas do “Sul profundo”, racista e oligárquico, foram mestres em manobras que distorciam as aplicações e efeitos de políticas federais. Conseguiram firmar, na prática, uma espécie de poder de veto. Os fundos e as regras gerais eram definidas pelo governo federal, confrontando a “civilização” dos brancos sulistas. Tinham cheiro de “políticas universais”, sem cor. Mas a execução era deixada nas mãos dos poderes locais, que restauravam a “civilização à qual estamos acostumados”.
O sul tinha uma armadilha especial, branquinha, branquinha. Pela lei, os estados contavam sua população negra, registrada pelo censo, para ter muitos deputados. Só que os estados detinham o poder de definir quem tinha direito de votar e ser votado. Em qualquer eleição – local ou não. E as regras eram muito curiosas, para usar palavras doces. Até a metade dos anos 60, por exemplo, em alguns Estados do Sul, um branco se registrava quase que automaticamente. Um negro precisava comparecer diante de um juiz local, recitar uma parte da constituição, solicitada pelo juiz, e depois explicar esse item. O juiz determinava se era suficiente.
Desse modo, os sulistas tinham muitos deputados (proporcionais à população), mas apenas a parte branca escolhia esses deputados. E eles eram, evidentemente, brancos na pele e brancos nas crenças. Os negros eram contados para ampliar a força dos Estados do Sul? Mais exato seria dizer que eram contados para ampliar a força de seus senhores.
Vejamos um exemplo sutil de escantear os negros: os direitos sociais implantados pelo New Deal, nos anos 1930 – como o acesso às políticas de aposentadoria e de defesa trabalhista. A lei dizia, apenas, que certas categorias de trabalhadores não seriam incluídas nas regras – trabalhadores domésticos e trabalhadores rurais. Só que… mais de 60% da força de trabalho negra, na ocasião, estava nessas rubricas. E uns 75% deles estavam nos Estados do Sul. Ficavam fora da lei da aposentadoria, da lei do salário mínimo, das regulações sobre horas de trabalho, do direito à sindicalização. Sem que a lei falasse em cor da pele. Não precisava.
Um outro viés. As outras políticas do New Deal – de socorro às vítimas da depressão – eram administradas pela agência chamada Federal Emergency Relief Administration (FERA). Os custos das políticas eram divididos com os estados, mas perto de 60% das verbas da FERA vinham do tesouro federal. Essa proporção subia para perto de 90% nos Estados do Sul, a região mais atingida. Contudo, ainda que as verbas e o desenho dos programas fossem concentrados em Washington, a execução era posta na mão das autoridades locais. E aí eram filtradas discricionariamente.
GI BILL – um Plano Marshall de uso interno

Em outras palavras, a letra da lei não dizia que “ela não era para negros”. Só que… O velho “Sul profundo”, escravocrata e oligárquico, mesmo um século depois da guerra civil, seguia a tradição dos pais fundadores. Afinal, estes, quase sem exceção, eram senhores de escravos. O famoso George Washington, por exemplo, era dono de uns 400 escravos. E cem deles eram crianças – ou seja, ele não era apenas dono de escravos, tinha um viveiro de escravos.
Foi assim, de modo desigual, que se aplicou o famoso New Deal, marca de uma década que dividiu a história americana em um antes e um depois radicalmente distintos.
Mas foi ainda mais assombroso o enviesamento pró-branco de notáveis políticas do pós II Guerra. Uma delas, que mudou a cara do país, merece atenção. Trata-se do GI BILL, a chamada lei dos veteranos, um pacote de ajudas aos desmobilizados da Segunda Guerra. Pacotes um pouco menores vieram em edições posteriores da lei – para a guerra da Coreia, Vietnã, Golfo. Mas o GI BILL dos anos 1940 foram algo muito maior. Alguns o consideravam um verdadeiro Plano Marshall interno ou um New Deal para os veteranos e suas famílias. Há vários livros apresentando o programa para o grande público. Para os interessados, aí vai uma amostra: The Gill Bill – the New Deal for Veterans, de Glenn Altschuler; When Dreams Came True, de Michael Benett; Soldiers to Citizens, de Suzanne Mettler. O livro de Keith Olsen – The G.I. Bill, the Veterans, and the Colleges – traz uma instigante coleção de fotos de época, ilustrando a narrativa.
Era o GI Bill um outro New Deal, salvador da pátria? Sim, só que… mais uma vez, essa ação afirmativa tinha cara branca. E, mais uma vez, a segregação isso não ocorreria pela letra da lei, mas pela forma de sua execução, o que os sulistas forçaram, mais uma vez explorando a aversão “federalista” contra a “tirania do poder central”. Desse modo, o governo federal criava um programa, dava o dinheiro, mas quem decidia como distribuir era o poder dos brancos nos Estados e localidades.
Não é um exagero dizer que o GI BILL era mesmo um Plano Marshall – aliás os recursos eram maiores do que aquela transfusão de recursos, que ajudou a reconstruir a Europa. IK mostra que em 1948, por exemplo, nada menos do que 15% do orçamento federal ia para o GI BILL!
O pacote previa ajudas de vários tipos. Pagava mensalidades e outras despesas para aqueles que quisessem cursar ensino superior – conto parte dessa história em meu Educação Superior nos Estados Unidos (ed. Unesp)… E isso se aplicou de imediato a mais de 2 milhões de pessoas. Em 1949, metade dos estudantes de ensino superior eram bolsistas desse programa! Um outro montante ia para os que quisessem fazer algum tipo de escola técnica ou vocacional – e foram mais de 5,5 milhões de pessoas. Outras ajudas incluíam financiamento para compra ou construção da casa própria – cerca de 5 milhões de imóveis foram adquiridos ou construídos desse modo. Outros recursos viabilizaram a compra de terra agricultável. Ou a criação de um negocio na cidade (uma loja, uma oficina) – mais de 200 mil americanos embarcaram nesta alternativa, com dinheiro emprestado a juros negativos.
O GI BILL era uma escada social para uma parte considerável dos americanos que vinham da classe trabalhadora ou da classe média baixa. Em vários sentidos, eles “faziam a América”. O comentário de Michael Bennett é eloquente:
“Tudo era novo: novas casas, novos carros, novos empregos, novos mercados, novos alimentos, novos amigos, novas formas de entretenimento… novas escolas, até mesmo novas igrejas … Raramente, na história do mundo, tanta gente desfrutou de tantas novas coisas tão rapidamente. Ao mesmo tempo, essas pessoas estavam se transformando em um novo povo com uma cultura social definida, sobretudo, pela propriedade da casa própria nos subúrbios”. Michael J. Bennett, When Dreams Came True: The GI Bill and the Making of Modern America. (1996).
Bennett ressalta o florescer dessa América suburbana. O GI BILL foi, para a expansão dos subúrbios, aquilo que a lei do Homestead – para terras agricultáveis – tinha sido para a expansão rumo ao velho Oeste. E subúrbio significava estratificação social e separação espacial, deterioração dos centros das cidades, inchaço do sistema de automóveis e de shopping centers e grandes supermercados. Uma cultura suburbana de tipo especial, americana. Na primeira metade do século XX, os Estados Unidos tinham se urbanizado aceleradamente. Na segunda metade, foram suburbanizados. E graças a políticas federais de rodovias, subsídios para compra e construção de casas, estimulo à compra de automóveis e eletrodomésticos. E crédito para expansão de pequenos e médios negócios – lojas, oficinas e assim por diante.
Ora, qual o problema? Não é isso que um bom Estado intervencionista faz? Sim, foi o que o Estado intervencionista americano fez, reinventando o país. Bom, alguns efeitos não esperados e, talvez, indesejados, iriam estourar lá pelos anos 1960, com a revolta dos guetos, as mobilizações dos negros excluídos e a descoberta da pobreza, denunciada com eco em um livro de Michael Harrington que aqui no Brasil foi publicada com o título de A Outra América (ed. Zahar).
O GI BILL tinha o mesmo perfil enviesado das políticas do New Deal. Na letra da lei, acesso universal, na execução, porém, diz Michael Bennett,
” no exato momento em que amplo conjunto de políticas públicas estavam provendo a maioria dos brancos americanos com ferramentas valiosas para melhorar sem bem estar social – assegurar sua velhice, obter bons empregos, ter segurança econômica, acumular ativos, ganhar status de classe média – a maior parte dos negros eram deixados para trás ou para fora”
Dois países, separados, mas iguais, iguais, mas separados

O resultado produzido pela aplicação dessas políticas é um cenário dramático, desenhado por Katznelson:
“Imagine dois países – um deles, o mais rico do mundo, o outro, entre os mais destituídos. Então suponha um programa global de ajuda externa transferindo mais de 100 milhões de dólares, mas para a nação rica, não para a pobre. Foi isso exatamente o que ocorreu nos EUA como resultado do impacto cumulativo das mais importantes políticas domésticas dos anos 1930 e 1940s.”
Vejamos por exemplos os empréstimos para casas e para investimentos destinados a montar um negócio. Eles teriam efeitos assombrosos para cristalizar as desigualdades e ampliar um verdadeiro apartheid social.
Os diferentes créditos do GI Bill tinham democratizado o acesso ao capital para “construir riqueza”. E foi assim que muitas famílias fizeram seu maior investimento, isto é, sua casa própria. Katznelson mostra como os empréstimos e compra de casa por hipotecas eram sistematicamente difíceis, quase impossíveis, para os negros. As consequências foram profundas e se cristalizaram:
“Em 1984, quando as hipotecas do GI Bill tinham maturado, em sua maior parte, a família mediana tinha uma riqueza líquida próxima dos US$ 39.135; o número, para as famílias negras, era de apenas $ 3.397, ou seja, 9% do valor dos ativos dos brancos. A maior parte da diferença era devida à ausência de casa própria”
Assim foi-se consolidando uma ação afirmativa tácita, silenciosa, exclusiva para brancos. Aquela sobre a qual pouco se fala, que se naturaliza na consciência dos “homens bons”. Um escandaloso (mas muito realista) artigo no Journal of Blacks in Higher Education chamava a atenção para essa “ação afirmativa” nas escolas superiores, contrastando-a com a ação afirmativa estrito senso, a política de cotas. Entre outros dados, mostrava como o número de negros admitidos pelo sistema de cotas era bem inferior aos chamados “legacy”, os brancos herdeiros, os filhos de ex-alunos que tinham feito grandes doações a essas escolas , mesmo que eles tivessem resultados medíocres nos testes padronizados (SAT).
Mais uma das “preferências” sobre as quais é conveniente silenciar. Os interessados podem vê-lo debatido em livro organizado por Richard Kahlenberg – Affirmative Action for hje Rich – Legacy preferences in college admissions (Century Foundation Press, 2010).
Como se vê, a ação afirmativa, tal como se estabeleceu e configurou nas últimas décadas do século XX, está longe de ser uma reparação ao tráfico e ao trabalho escravo – afinal, isto já se liquidara no meio do século XIX. Os atingidos pela escravidão estão mortos há muito tempo – e não há como lhes oferecer reparação. As políticas de ação afirmativa referem-se à correção de uma discriminação bem mais recente e com profundas consequências para os negros do presente. Talvez seja o caso de dizer que ela se refere a uma segunda política de escravidão, sem correntes e sem chicotes. Uma vez, Frantz Fanon disse algo mais ou menos assim: a colonização deforma o colonizado, mas, também, o colonizador. Vale?
Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes é professor aposentado, colaborador na pós-graduação em Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp. É também coordenador de Difusão do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos (INCT-Ineu). Seus livros mais recentes são: “O Peso do Estado na Pátria do Mercado – Estados Unidos como país em desenvolvimento” (2014) e “Educação Superior nos Estados Unidos – História e Estrutura” (2015), ambos pela Editora da Unesp.
Publicado no jornal da Unicamp