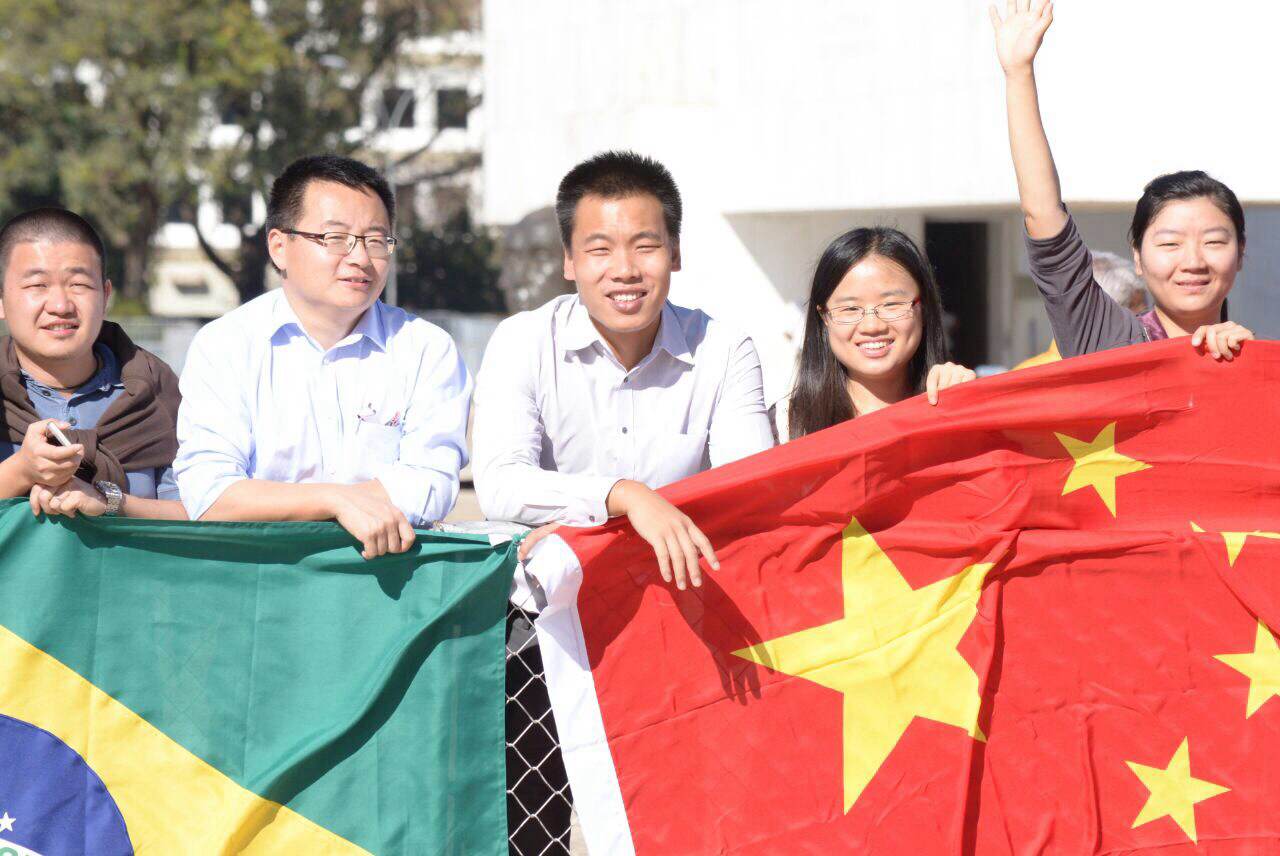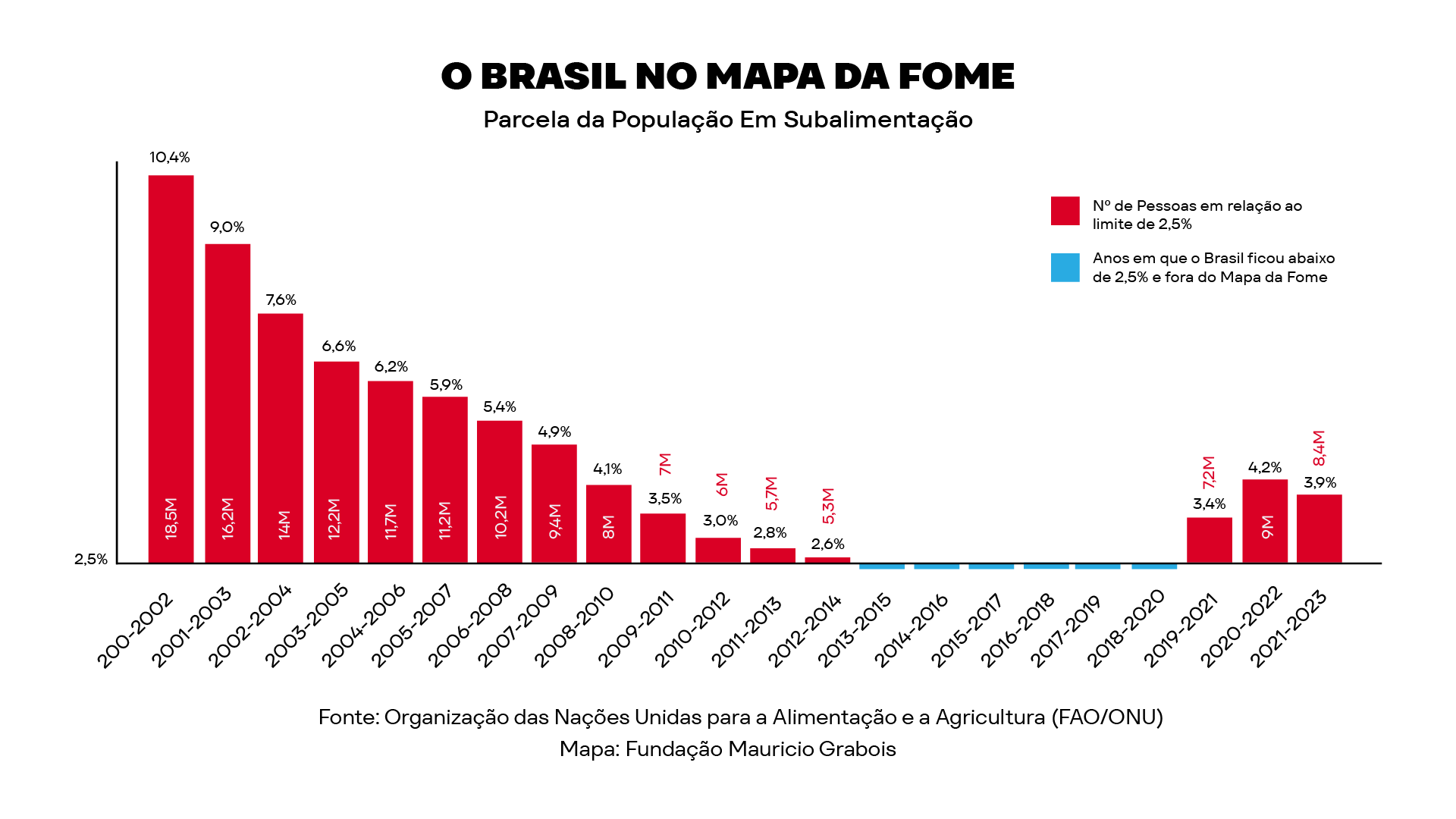Quando o Santos Futebol Clube tinha um de seus melhores escretes, de vez em quando surgia pela frente um time sem expressão que emperrava a máquina genial. O tempo passava e nada de o zero sair do placar. Num desses jogos, Lula, o técnico do Santos, faltando 15 minutos para o fim da partida olhou para o banco de reservas e chamou o atacante Pitico.
“Pitico, vem cá. É o seguinte. O Pelé ficou muito isolado ali na frente. Vai lá e encosta nele, para a gente ter mais opção de ataque”, orientou. “Além disso, nosso meio-de-campo está no maior bagaço. Você volta um pouquinho quando a gente estiver com a bola, para ajudar na armação”, acrescentou. E fez uma última recomendação: “Só mais uma coisa. O ponta-esquerda deles já matou o Carlos Alberto de tanto correr. Quando eles saírem jogando, você cai ali pela direita e fecha o espaço. Alguma dúvida?” O jogador olhou para o técnico, coçou a cabeça e disparou: “Só uma, seu Lula. Se o senhor acha que eu sou mesmo capaz de fazer tudo isso, por que é que eu ganho só três salários mínimos por mês?”
A Seleção como monumento nacional
Pitico expressou a criatividade brasileira que tanto desponta em campos como a música e o futebol. O problema é que vivemos o auge daquilo que Karl Marx chamava de peculiar característica de Midas do capitalismo: tudo o que ele toca, transforma-se em mercadoria. Qualquer perna-de-pau, antes mesmo de se firmar num clube brasileiro, já projeta jogar na Europa pensando em ganhar fortunas. Nos bastidores das competições, a corrupção fervilha. Pode-se dizer que no futebol de hoje — e não só no Brasil —, como dizia Nelson Rodrigues, muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. “Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos”, afirmava o escritor.
Que existem jogadores geniais nesta Seleção não resta dúvida. Mas o conjunto do time, integrado ao espírito da Copa do Mundo dos dias atuais, é uma mediocridade só. Esse estilo de futebol lembra o rebaixamento da música brasileira, que já desceu a subníveis como “Só surubinha de leve” (de um tal MC Diguinho) e a tristemente famosa dança da garrafa, do tchan ou coisa que o valha. No dia da abertura da Copa, por exemplo, um site esportivo ilustrou a capa associando Seleção e patriotismo com uma foto de uma mulher ostentando um minúsculo short e o nome do país grafado na parte de trás. A opção editorial do site retrata bem esses tempos: futebol, nádegas e patriotismo seriam a mesma coisa. Assim como aquela patriótica bunda brasileira descomunal, que para alguns traz desconforto moral (principalmente a turma da anágua e da polaina), este estilo de futebol merece ser reprovado por uma questão estética.
Quero dizer: não é todo brasileiro que gosta de apresentar a Seleção — assim como traseiros de torcedoras — como monumento nacional. Raramente se verá nesta Copa jogadas mágicas, em que o futebol encontra a arte. Faltarão lances que ninguém sabe explicar como acontecem, que exigem uma reflexão a respeito, um esforço qualquer de fruição, de tradução do que é rarefeito, de compreensão daquilo que não é imediato, berrante, visível. Já há muito não desfrutamos na seleção do toque preciso e elegante de um Falcão, de um Giovanni, de um Alex, de um Gerson; do drible e dos passes milimétricos de um Zico, de um Sócrates, de um Tostão. Jogadores assim não dão mais negócios. O futebol-força os tirou de campo para entrar em cena a competição acima da arte. É a mesma lógica da obscuridade na política e do misticismo neoliberal na economia.
Parafraseando Napoleão Bonaparte
Esse patriotismo crasso, canhestro, cru, não se dá o prazer de ver futebol como futebol. Sua lógica é a mesma que faz apenas poucos brasileiros ter a felicidade de conhecer Diadorim e Capitu; e faz milhões voltar a atenção para o desenlace dos casais da novela das oito, para a cantilena paupérrima das músicas bregas, para a indigência intelectual, patética, dos programas pretensamente de humor. Futebol não passa de futebol. Como disse certa vez o ex-técnico da Seleção, Carlos Alberto Parreira — uma boa cabeça, que destoa da média do mundial —, o time não tem obrigação de vencer, mas sim fazer o melhor. Tanto que ele escolheu a canção “Epitáfio”, do Titãs, para dar o tom da concentração aos jogadores.
Há 60 anos, um repórter da revista El Gráfico perguntou a um jogador paraguaio, antes de uma partida contra a Argentina, se ele tinha algum medo. “Medo? Estive na frente na guerra com a Bolívia. Parece que posso ter medo de uma partida de futebol?”, respondeu o atleta. Palavras como batalha, míssil, bunker, quartel-general, ataque ou artilheiro são usadas diariamente nas Copas. O ex-técnico da Ucrânia, Oleg Blokhin, por exemplo, chegou a parafrasear Napoleão Bonaparte. “Poderíamos ser campeões do mundo. Um soldado que não quer ser general não é um bom soldado”, disse ele.
Mas, felizmente, além de Parreira mais gente pensa que futebol não é guerra. É o caso do ex-técnico de Angola, Luis Gonçalves. “Futebol não é questão de vida ou morte”, disse ele. Perfeito. E nem de nacionalidade. É uma questão de talento — uns têm mais, outros menos. Nelson Rodrigues dizia que as seleções brasileiras do passado não ganhavam os jogos nas Copas porque temiam os adversários europeus. Segundo ele, quando nossos atletas viam aqueles jogadores pela frente se sentiam inferiorizados. Afirmava que a seleção brasileira possuía um certo complexo de inferioridade, chamado por ele de “complexo de vira-latas”. Nelson Rodrigues profetizou que quando acreditássemos no nosso próprio potencial, nas nossas próprias qualidade e habilidades, conseguiríamos dominar o mundo da bola. As coisas não aconteceram bem assim.
Emblemático short da menina
Foram necessários os gênios de Pelé e Garrincha para nos encher de moral nos campos. Depois vieram Zico, Falcão, Sócrates, Romário, Alex, Giovanni, Robinho. Mas chegaram também, como peças-chaves, Elzo (alguém se lembra dessa invenção de Telê Santana?), Dunga (alguém se lembra da “era Dunga”?), Emerson. Chegaram também os contratos com a Nike, com a Ambev, com a Coca-Cola.
O mundo do futebol é apaixonante, mas é preciso perceber as suas idiossincrasias. Parafraseando Spinoza (Baruch, o filósofo holandês, não Valdir, o ex-jogador e hoje técnico), “nem rir, nem chorar. Apenas entender”. Nesse mundo de contratos gordos não há esperança de resgate do futebol-arte. Esta Copa reproduz o modelo hegemônico. No Brasil, isso já é fato — catorze clubes representam 98% da torcida.
É muito difícil encontrar quem não torça por um dos grandes clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo. São os únicos que passam na televisão. A “Lei Pelé”, que trouxe o “profissionalismo” europeu para o Brasil, praticamente acabou com os celeiros de craques que existiam nos clubes. A mídia assumiu isso de frente e, de costas, nos roça com sua arte bruta, informe, redutora — como no emblemático short da menina da capa daquele site esportivo. E la nave va… Para onde, não sei.