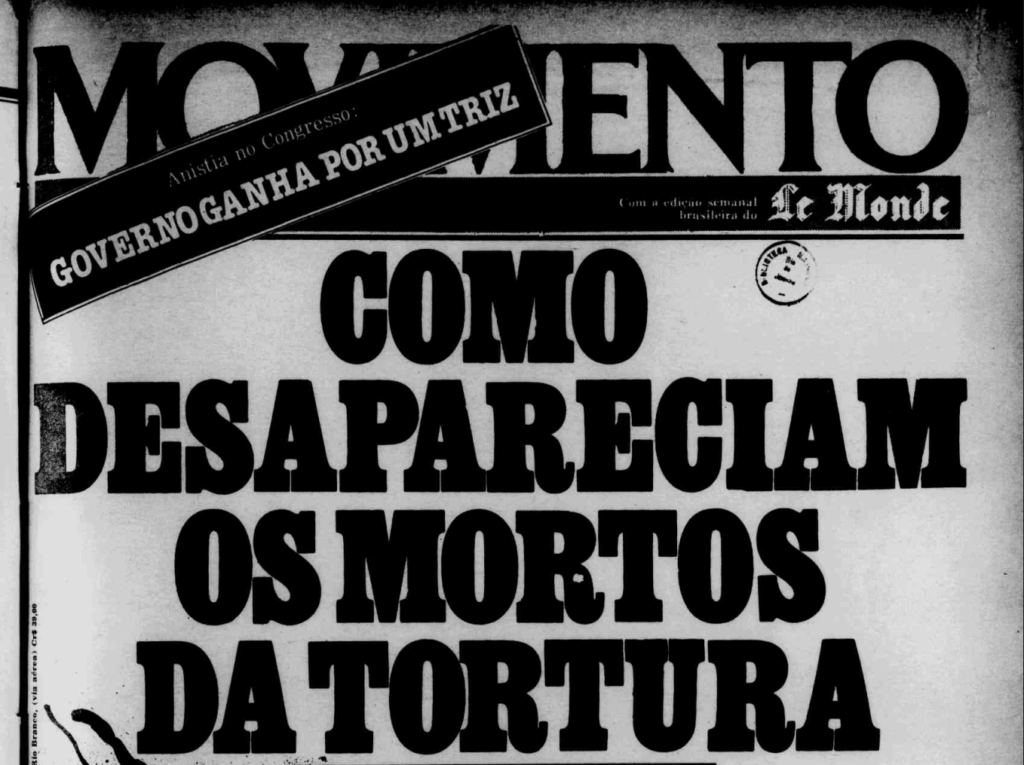“Enquanto eu estiver aqui, não permitirei que o Rio se transforme numa nova Paris.” (general-presidente Costa e Silva).
“Não se repetirá aqui o que houve na França. Vai ser muito pior.” (Luís Raul Machado, vice-presidente da UNE).
Depois das grandes manifestações que se seguiram ao assassinato do secundarista Edson Luís, ocorrido em 28 de março de 1968, o movimento estudantil se retirou para as escolas. Esta foi uma das decisões tomadas pelo Conselho Nacional de Entidades da União Nacional dos Estudantes (UNE), realizado na Bahia. Além de concentrar a ação nas lutas específicas, foi decidido aceitar a proposta de diálogo com a ditadura como meio de desmascará-la. As duas teses eram defendidas pelas chamadas Dissidências do PCB e contaram com a oposição dos estudantes da Ação Popular (AP) e do PCdoB.
A AP, que detinha a presidência da UNE e de várias UEEs (União Estadual dos Estudantes), havia sido derrotada por um número ínfimo de votos nestes dois pontos cruciais naquele conselho. Ela defendia manter as mobilizações de rua, priorizando as bandeiras gerais contra a ditadura militar e o imperialismo estadunidense, e rejeitava qualquer tipo de diálogo com o regime, pois induziria o povo a uma ilusão perigosa.
Contudo, novamente a truculência policial iria retirar os estudantes de dentro das universidades e lançá-los às ruas em defesa das liberdades democráticas e contra a ditadura. Tudo começou quando, em 20 de junho, os estudantes ocuparam a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Eles questionavam a situação do ensino e da democracia no país e naquela escola. O reitor e os professores, muitos a contragosto, foram obrigados a dialogar. Passado algum tempo, o prédio foi cercado por um forte esquema policial-militar. O clima ficou tenso. Ainda estavam vivos na memória a invasão policial ocorrida da Faculdade de Medicina na Praia e o massacre que se seguiu. O fato ocorreu em setembro de 1966 e deu origem ao movimento de contestação estudantil chamado “setembrada”.
Temendo pelo pior, o próprio reitor assumiu as negociações entre os estudantes e o comando da polícia. Ficou acertado que os jovens desocupariam o local pacificamente e a polícia não os reprimiria. Contudo, tudo não passou de um engodo. Ao saírem, foram brutalmente agredidos e uma parte acabou sendo encurralada e detida no estádio do Botafogo, onde prosseguiram os atos de selvageria. Os estudantes foram obrigados a deitarem-se no chão com as mãos na cabeça. Soldados urinavam sobre eles. O pior aconteceria com as moças, assediadas pelos policiais. Mais de 300 foram presos naquela noite sombria.
 (Foto: Estudantes presos em Botafogo)
(Foto: Estudantes presos em Botafogo)
As fotos publicadas nos principais jornais estarreceram a população carioca. Este foi mais um grande golpe na imagem da ditadura junto às camadas médias. A cidade se transformou num verdadeiro paiol de pólvora. Bastava uma faísca e tudo iria pelos ares. Premonitoriamente o editorial do Correio da Manhã afirmou: “A nação está diante de uma explosão de irracionalismo político que, se não for imediatamente detido, nos levará a um Calabouço ampliado.” Referia-se ao assassinato do estudante secundarista Edson Luís durante o protesto ocorrido no restaurante Calabouço.
Uma manifestação saiu às ruas para denunciar o que havia ocorrido no dia anterior e cobrar do regime o tal diálogo. Quando ela se aproximou da Embaixada dos Estados Unidos – símbolo da opressão imperialista –, a resposta policial foi disparar uma saraivada de balas contra os estudantes. Três garotas foram atingidas e uma delas, Maria Ângela Ribeiro, morreu. Diante de tal truculência, por segurança, as principais lideranças buscaram dispersar a manifestação e se retiraram do local. Combinaram preparar novas e maiores mobilizações para os dias seguintes. Mas, algo novo ocorreu. Mesmo sem direção, a luta continuou pelas ruas da cidade durante horas.
Agora não eram apenas os estudantes a lutarem. A eles se juntou um grande número de pessoas; em geral jovens que trabalhavam no centro do Rio de Janeiro. Eram bancários, comerciários, escriturários, office boys, vendedores ambulantes etc. Do alto dos edifícios, atiravam-se todos os tipos de objetos contra os policiais. Um deles cairia morto. Acuados, atiravam a esmo contra o alto dos edifícios e sobre as pessoas que se aglomeravam. Dezenas foram baleadas.
Assim descreveu a cena o então vice-presidente da UNE, José Roberto Arantes: “Às duas horas da tarde, praticamente não existia estudantes nas ruas. A maioria fugira do centro da cidade à bomba e à bala. Mesmo assim a violência continuou (…). Das janelas dos prédios começavam a despencar, jogados por funcionários de escritórios e moradores de apartamentos, os objetos disponíveis em cada lugar: água, grampeadores, prendedores de papel, garrafas e até máquinas de escrever. Quando um PM foi morto por um desses objetos, era preciso ver a gritaria com que sua queda foi recebida (…). E o tiroteio continuou até as 8 horas da noite, quando os últimos grupos de populares deixaram de responder à polícia.”. Este valente líder estudantil, estudante da USP, seria assassinado pela ditadura pouco tempo depois.
Segundo Zuenir Ventura: “O balanço de alguns hospitais – nem todos divulgaram os totais – registrou: 23 pessoas baleadas, quatro mortas, inclusive um soldado da PM (…), 35 soldados feridos a pau e pedra, seis intoxicados e 15 espancados pela polícia. No DOPS, à noite, amontoavam-se cerca de mil presos.” O número de mortos pode ter sido muito maior. Concluiu Ventura: “nos seis governos militares pós-1964, incluindo a Junta, foi o que mais se pareceu com uma insurreição popular.”.
A Sexta-feira Sangrenta, como passou a ser conhecido aquele dia trágico, foi uma demonstração evidente do grau a que havia chegado o desgaste do regime militar junto à população dos grandes centros urbanos.
No enterro do soldado, o chefe da Casa Militar do governo do estado afirmou: “a Guanabara não verá mais manifestações nas ruas, mesmo que para evitá-las a PM tenha que agir ainda mais violentamente.” Mais violentamente?! Este seria o tom do discurso assumido pela cúpula militar. Contudo, o governo do general Costa e Silva, desmoralizado pelos últimos acontecimentos, via-se obrigado a fazer concessões aos grupos oposicionistas.
As lideranças estudantis já haviam decidido realizar uma nova manifestação no Rio de Janeiro. Esta iniciativa seria apoiada por representantes de amplos setores sociais, mas muito deles não queriam novos confrontos com a polícia. Uma comissão de cerca de 300 intelectuais e artistas reuniu-se com o governador e solicitou autorização oficial para realizar uma passeata no centro da cidade. Dessa comitiva participavam Hélio Pelegrino, Oscar Niemeyer, Ferreira Gullar, Clarice Lispector, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Nara Leão, Paulo Autran, Tônia Carrero e Odete Lara, entre outros. A permissão acabaria sendo concedida. A decisão, sem dúvida, contou com o aval de Costa e Silva, que queria diminuir o desgaste sofrido com o massacre no campo do Botafogo e a Sexta-feira Sangrenta.
 (Foto: Artistas e intelectuais lideraram a passeata dos Cem Mil)
(Foto: Artistas e intelectuais lideraram a passeata dos Cem Mil)
E assim foi sendo construída a grande manifestação de 26 de junho. Neste dia cerca de 100 mil pessoas marcharam calmamente pelas ruas da “cidade maravilhosa”, na maior manifestação oposicionista desde a implantação da ditadura militar em 31 de março de 1964. Marchando juntos estavam estudantes, professores, intelectuais, artistas, clero progressista e os assalariados urbanos, que tiveram grande papel no conflito ocorrido alguns dias antes. O comando estudantil da manifestação era composto por Ronald Rocha (PCdoB), Marcos Medeiros (PCBR) e Cid Benjamin (MR-8) **.
A polícia desapareceu das ruas. Essas passaram a ser controladas pela massa estudantil e popular. Uma convocatória assinada pelas mães dos estudantes afirmava: “Não vamos continuar assistindo impassíveis às humilhações e ao massacre de que estão sendo vítimas nossos filhos. Queremos assim manifestar a mais viva repulsa às últimas violências e pedir ao povo brasileiro que nos apoie com sua compreensão e nos acompanhe em nosso protesto.”.
O Correio da Manhã assim descreveu a manifestação: “Por dez horas, mais de 100 mil cariocas protestaram contra o governo, apoiando o movimento dos estudantes que, conforme previsto, foi sem incidentes, com dezenas de discursos de universitários, operários, professores e padres, que definiram ‘o compromisso histórico da igreja com o povo’ (…). Com perfeito dispositivo de segurança, os estudantes garantiram a realização da passeata, sem depredações, chegando a prender e soltar um policial que incitava a que fosse apedrejado o prédio do Conselho de Segurança Nacional. A concentração começou às 10 horas, com os primeiros grupos de padres e estudantes, sem qualquer policiamento.” O jornal, ironicamente, afirmou: “A primeira conclusão a retirar-se é a de que a repressão policial contra atividades legítimas é que gera os conflitos.”

Um dos destaques daquele ato foi Dom José de Castro Pinto, vigário-geral do Rio de Janeiro, e uma grande comitiva de padres e freiras. O presidente da Associação Católica da Guanabara, Padre Vicente Adamo, também se fez presente. Após o golpe militar, parte importante do clero passou a apoiar a luta pela democratização da sociedade e se solidarizar com as lutas populares e estudantis. Por isso, a “passeata dos cem mil” foi uma “Marcha da Família com Deus pela Liberdade” com sinais trocados.
A quase totalidade dos artistas e intelectuais, excetuando-se os mais reacionários que estavam no Rio, participou da grande manifestação. Ali podiam ser vistos Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Vianinha, Paulo Pontes, Nara Leão, Vinícius de Moraes, Tônia Carrero, Paulo Autran, Ferreira Gullar etc. Era mais fácil citar os que não marcharam naquele dia.
Vladimir Palmeira, como representante da União Metropolitana dos Estudantes (UME), comandou a passeata ao lado de Luís Travassos, presidente da UNE. Não era possível deixar de sentir a divisão que existia no movimento estudantil. De um lado, ouvia-se a palavra de ordem “o povo organizado derruba a ditadura”, entoada pelos simpatizantes e militantes vinculados ao PCB, e, de outro, “o povo armado derruba a ditadura”, bradada pelos militantes das dissidências armadas e da AP.
Palmeira dava o tom do comício: “Pessoal, a gente é a favor da violência quando ela é aplicada para fins maiores. No momento, ninguém deve usar a força contra a polícia, pois a violência é própria das autoridades, que tentam, por todos os meios, calar o povo. Somos a favor da violência quando através de um processo longo, chegar a hora de pegar em armas. Aí, nem a polícia, nem qualquer outra força repressiva da ditadura poderá deter o avanço do povo.” Antes de encerrar o ato, os manifestantes queimaram “ordeiramente” uma bandeira dos Estados Unidos.
Um fato, no entanto, é pouco conhecido. Embora não tenha ocorrido repressão direta à passeata, três estudantes foram presos em seguida e acusados de terem distribuído panfletos subversivos. Seus nomes eram Júlio Ribeiro, Guilherme Gomes Lund e Ciro Flávio Salazar de Oliveira. Os dois últimos eram ligados ao PCdoB e se integrariam às Forças Guerrilheiras do Araguaia, morrendo em combate.
 (Foto: Julgamento dos estudantes presos tendo Sobral Pinto como defensor)
(Foto: Julgamento dos estudantes presos tendo Sobral Pinto como defensor)
A manifestação, convertida em assembleia popular, elegeu uma comissão que iria apresentar as reivindicações da “sociedade civil” ao governo de Costa e Silva. Desta comissão participavam Hélio Peregrino, representando os intelectuais; Irene Papi, as mães; o padre João Batista, o clero; José Américo Pessanha, os professores; e Franklin Martins e Marcos Medeiros, os estudantes. Franklin pertencia à Dissidência e Marcos ao PCBR. Estranhamente nenhum operário – ou representante popular – nela foi incluído. Também não a compôs nenhum membro da AP e do PCdoB, contrários ao diálogo. Da pauta que seria apresentada constava: libertação de todos os presos, reabertura do restaurante Calabouço, anulação da censura aos teatros e uma reforma universitária democrática.
Surpreendentemente, o presidente aceitou receber a comissão eleita democraticamente. Pela primeira – e última – vez, isso ocorreria. Como muitos previam e desejavam, a reunião foi um completo fracasso. Nenhum dos itens apresentados foi atendido. O general Costa e Silva começou a conversa impondo uma condição: “vocês têm que parar as passeatas (…). Se vocês garantirem isso, vou tomar providências para libertar os cinco presos da alçada do Executivo e pedir que se estude a situação dos demais.” Os estudantes presentes reagiram: “Não aceitamos condição. Queremos a libertação de todos os companheiros imediatamente. Não viemos aqui barganhar.” Mais à frente os representantes estudantis voltaram a questionar desdenhosamente o ditador: “Escuta aqui, professor, eu quero saber o seguinte: o senhor vai ou não vai soltar os nossos companheiros?!”.
“Eu não aceito ultimato, nem desrespeito. A dignidade da Presidência não admite ameaças. Está encerrada a reunião”, bradou furioso o general Costa e Silva. Deste modo chegava ao fim o breve “diálogo” com o regime. Era claro que a margem de manobra dos dois lados para chegarem a qualquer acordo satisfatório era bem próxima a zero.
Diante do não atendimento de suas reivindicações, os estudantes realizariam outra grande manifestação em três de julho: a “passeata dos 50 mil”. Nela já se percebia a ausência de setores sociais presentes na passeata anterior. O tom dos protestos se tornava mais radical. A ideia do diálogo, alimentado por inúmeros setores oposicionistas, ruía sob o golpe de cassetetes e balas de fuzil. Podia se sentir um forte cheiro de pólvora no ar. As férias de julho pareciam ter adiado o confronto final. Uma sombra sinistra se projetava no horizonte.
* Augusto Buonicore é historiador, mestre em Ciência Política pela Unicamp e diretor de publicações da Fundação Maurício Grabois. E autor dos livros Marxismo, história e a revolução brasileira, Meu Verbo é Lutar: a vida e o pensamento de João Amazonas e Linhas Vermelhas: marxismo e os dilemas da revolução, publicados pela Editora Anita Garibaldi.
** A informação sobre os membros do comando estudantil da passeata dos 100 mil nos foi dada por Ronald Rocha. Na época, ele era presidente do Centro Acadêmico Edson Luís do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ e logo seria eleito diretor da UNE.
Bibliografia
DIRCEU, José; PALMEIRA, Vladimir. Abaixo a ditadura. Rio de Janeiro: Grammond, 1998.
MARTINS FILHO, João Roberto. Movimento estudantil e ditadura militar (1964-1968). São Paulo: Papirus, 1987.
POERNER, Artur J. O poder jovem. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1979.
REIS FILHO, Daniel Aarão; MORAES, Pedro de. 68: a paixão de uma utopia. São Paulo: FGV, 1988.
SANFELICE, José Luís. Movimento estudantil: a UNE na resistência ao golpe de 64. Campinas (SP): Autores Associados, 1986.
SANTOS, N. e outros. História da UNE – depoimentos de ex-dirigentes, vol. 1. Teresina: Livramento, 1980.
VALLE, Maria Ribeiro do. 1968: O diálogo é a violência. Campinas (SP): Unicamp, 2008.
VENTURA, Zuenir. 1968: O ano que não terminou. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.