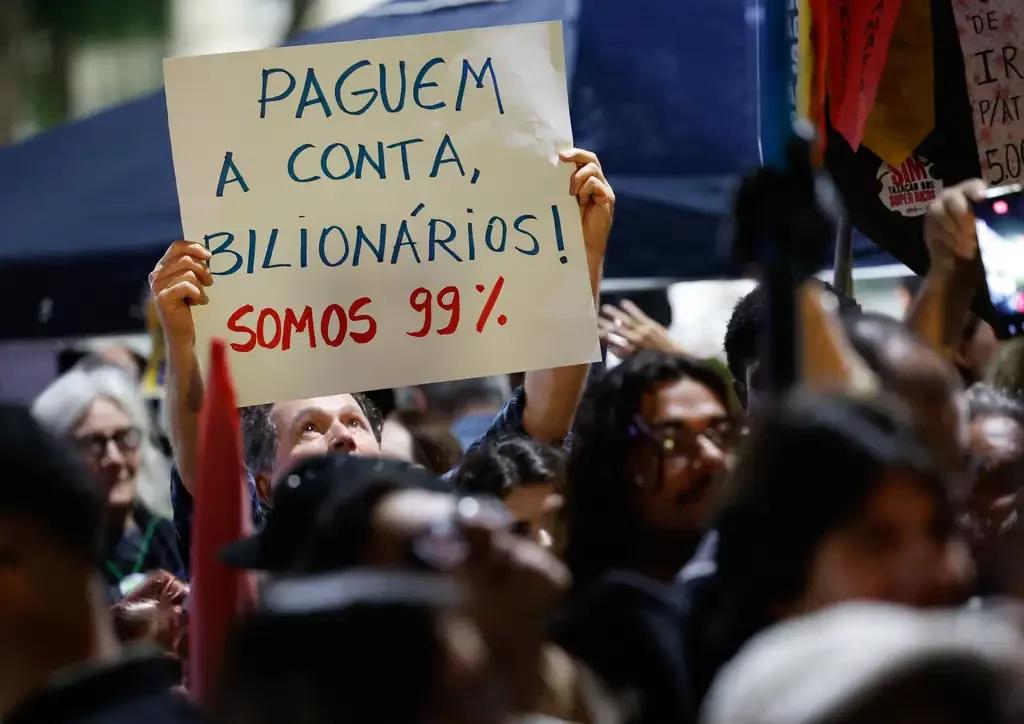Dois anos depois do golpe de 2016, já ficou evidente que o Partido Togado não possui nenhum projeto.1 Alguns de seus membros não se importam com a demolição de parques industriais, o caos social ou a ascensão fascista. Acreditam ser um preço a pagar pela moralização do sistema político.
No entanto, desejam colher o fruto proibido sem serem expulsos do paraíso. Aguardam, depois do caos, a ordem. Sua pretensão conservadora de um organismo em que cada órgão desempenha uma função é tão contrastante com a realidade latino-americana que só podem reeditar as farsas do passado, uma vez mais como farsas.
A América Latina jamais teve regimes democráticos estáveis. Com a discutível exceção da Costa Rica, nem os ritos eleitorais conseguiram se manter periodicamente. Na América Central, até os terremotos revelaram a natureza incompetente e flibusteira da burguesia local: governantes roubavam a ajuda humanitária enquanto seus cidadãos morriam. Eram “democracias de fachada”.2
No Brasil, a ditadura nem se ocupou com farsas eleitorais, exceto para um Congresso tutelado. Porém, ao contrário do golpe de 2016, o de 1964 não conduziu privatizações em massa e a destruição indiscriminada da legislação trabalhista, nem houve a perda da unidade de comando, apesar das rusgas internas entre alas mais ou menos fascistizantes.
Basta contrapor o modelo chileno: o bombardeio do Palácio La Moneda colocou o novo regime já no terreno da radicalização e os militares encontraram numa corrente preexistente de economistas liberais as bases ideológicas para a naturalização de uma contrarrevolução com os métodos do terror em massa e das privatizações indiscriminadas do patrimônio público.3
Um modelo intermediário pode ser encontrado na Argentina. Como o Chile, ela era um país dotado de uma sociedade civil articulada havia alguns decênios, mas as privatizações foram dificultadas por interesses militares entrincheirados nas empresas. O terror indiscriminado não conseguiu eliminar a memória de partidos solidamente estruturados na história do país nem um sindicalismo cujo papel regulador dos conflitos trabalhistas foi aos poucos sendo percebido como necessário pelos próprios patrões.
O terror acentuou, por outro lado, problemas de disciplina e estruturas de comando paralelas e colocou em perigo a coesão interna das Forças Armadas. Havia uma contradição entre os papéis cada vez mais intromissores que elas assumiam no aparelho de Estado e a perda de eficácia derivada da quebra de rotinas, procedimentos, regras e eficiência.4 Por fim, a Guerra das Malvinas sepultou o restante do prestígio delas.
A tentativa de normalizar os golpes não se limitava a tomar o Estado, mas a refundar a própria sociedade – só depois, entretanto, que o poder moderador das Forças Armadas efetuasse a “limpeza” de elementos indesejáveis. Onde a sociedade civil era mais complexa, os experimentos de violência tangenciaram o limiar do fascismo, mas em nenhum país latino-americano uma democracia tutelada ou de fachada conseguiu se “normalizar” em seguida.
As tentativas de normalização
A tentativa de normalização pós-golpe não é, portanto, uma novidade no subcontinente latino-americano. Depois do fiasco dos regimes militares, as negociações para as transições democráticas dos anos 1980 foram feitas para impedir a ascensão de governos radicais. Raúl Alfonsín, José Sarney e Alan Garcia vestiam o figurino perfeito. Não eram pessoas de esquerda, mas seus partidos tinham credenciais democráticas e até desenvolvimentistas (caso do MDB). Os três terminaram desacreditados por concessões ao passado e processos inflacionários descontrolados.
A normalização também falhou na década seguinte. Carlos Andrés Pérez, na Venezuela, e Fernando Collor, no Brasil, acabaram sob impeachment. Fujimori acabou numa prisão peruana e, na Argentina, Menem saiu do governo em 1999 e foi preso alguns anos depois. Desde então, uma onda progressista varreu a América Latina.
Os governos progressistas, com muitas diferenças entre si, tiveram uma característica comum: não desencadearam nem uma revolução dentro da ordem. Todavia, não puderam representar a normalização porque as oligarquias latino-americanas não são capazes aceitar a mínima perda de privilégio em que assenta sua forma de dominação secular.
Assim, os governos foram ameaçados pelo golpe parlamentar e a perseguição judicial. Uma vez mais, a direita se reapresentou com um projeto alternativo. Com uma diferença crucial: no final dos anos 1980, a inflação e a dívida externa deslegitimaram os governos, mas nenhum deles representava formalmente um ideário de esquerda, como vimos.
Ademais, os governantes neoliberais dos anos 1990 foram ungidos nas urnas, ainda que sob a fraude no México e a manipulação pela Rede Globo no Brasil. Dotados de um programa radical de direita e apoio social significativo, eles vivenciaram alguns anos de hegemonia antes da queda.
A derrocada de governos progressistas latino-americanos no século XXI não foi resultante de um descrédito generalizado ou de processos eleitorais, e sim de golpes parlamentares ou de toga. As possíveis exceções da Argentina e do Equador foram compensadas pela posterior perseguição político-judicial aos governantes anteriores.
Os governos neoliberais dos anos 1990 haviam montado planos de estabilização monetária que lhes garantiram um período de apoio popular. Agora, eles assumem após a crise global de 2008 sem uma nova mercadoria de valor a entregar como foi a “moeda forte” no passado. As políticas de austeridade fiscal (algumas já iniciadas sob os próprios governantes da esquerda) aprofundaram a recessão e elevaram o desemprego.
Mais que a esquerda, é a direita que entra em crise. Isso não é necessariamente uma boa notícia. Novos golpes de mão ou vitórias em eleições mais ou menos fraudadas e com altos índices de abstenção podem dar fôlego ao predomínio das políticas de privatização.
Além disso, os ataques à legislação trabalhista desorganizaram os sindicatos, embora tendam a tornar imprevisíveis as novas formas de luta da classe trabalhadora, reacendendo a chama de movimentos antissistêmicos que operam fora da frequência habitual da esquerda partidária.
A normalização de fachada
No nosso vocabulário político existem poucos termos tão desacreditados, carregados de um conteúdo tão negativo, quanto a “direita”. Assim iniciava um pequeno manual sobre La droite en France.5 Publicado em 1973, no rescaldo de uma vaga revolucionária ainda inacabada, o livro não podia prever o golpe neoliberal no Chile e a contrarrevolução monetarista na Inglaterra e nos Estados Unidos dos anos 1980.
É verdade que a história contemporânea exibiu fases em que todo o terreno político se deslocou à esquerda ou à direita. Os leitores de Eric Hobsbawm se lembram de que a ortodoxia liberal ruiu nos anos 1920 e, depois da Segunda Guerra Mundial, seguiram-se os trinta anos gloriosos em que o Estado garantiu um bem-estar mínimo da população diante da ameaça soviética.
Mesmo políticos direitistas não ousavam demolir aquele terreno. No entanto, ele estava fundado num longo ciclo de crescimento econômico que desaguou na queda da taxa média de lucro e, após dois choques do petróleo e diante da crise fiscal do Estado, na contração de gastos sociais.
A ascensão liberal coincidiu com a debacle da União Soviética. Diferentemente de todas as outras tragédias vivenciadas pela esquerda no passado, essa foi a primeira que não deixou saudade. Da Comuna de Paris à Guerra Civil Espanhola; das tentativas revolucionárias dos anos 1930 em El Salvador, Nicarágua ou Brasil ao massacre dos comunistas gregos, todas as derrotas foram resgatadas do passado como um exemplo a ser recuperado pela esquerda.
O fim do socialismo real não legou a ninguém um modelo utópico de sociedade a ser defendido pela simples razão de que se esgotou por suas próprias contradições internas, ainda que fossem inegáveis os avanços sociais e seu impacto geopolítico progressista. Mas, se a esquerda teve dificuldade com o legado do socialismo real, a direita também perdeu algo.
A direita é extremista quando precisa propor uma alternativa após a derrota da esquerda. E é conservadora quando se acha estabelecida no poder sem uma contestação dotada de viabilidade eleitoral ou revolucionária.
No entanto, não podemos confundir as contradições internas da direita e da extrema direita com seu ser social. Ele é um só e, por mais antiliberal que o fascismo possa ser, integra com os liberais um mesmo continuum.
A contrarrevolução da extrema direita não é uma excepcionalidade na história do liberalismo, mas um dos resultados da ordem social que ele defende. Democracias liberais usaram técnicas de extermínio contra povos colonizados e se serviram de pessoas consideradas inferiores para a prática da eugenia. Isso não quer dizer que liberais autênticos, raros no Brasil, não possam honestamente se contrapor a ditaduras.
Ocorre que, sem uma esquerda que represente um ser social reconhecível e uma herança histórica aceitável, a direita pode finalmente abandonar discursos universalizantes e se valer simplesmente da mentira. Tanto faz se seu sistema político não mobilize ninguém e que suas mensagens não tenham nenhuma credibilidade. Basta que apareçam por uma semana e depois sejam apagadas e substituídas por outra.
Nesse quesito, o Brasil foi pioneiro. Sem um passado real de lutas nacionais coletivas, o conservadorismo não teve aqui nada a evocar, e as ladainhas da batalha de Guararapes ou do genocídio no Paraguai jamais teceram uma memória de lutas igualitárias e republicanas. Um capitão do Exército, ainda que de carreira pouco exemplar, conseguiu ser o primeiro fascista antinacional, e as Forças Armadas apoiaram um golpe que pode desmontar a unidade territorial do Estado.
A ascensão política de um comediante ruim, seja no Brasil ou na Itália, é edulcorada por dezenas de comentaristas dotados daquela superficialidade profunda que Marx atacava em seus adversários. Adolf Hitler não exibia muita coerência no amontoado de pseudoteorias e acontecimentos distorcidos que escreveu em seu Mein Kampf. Mas havia ali uma manipulação racional daquilo que ele entendia ser a força irracional contida nas massas.
Outrora, militares entreguistas subordinavam seu país aos Estados Unidos em nome de um posicionamento no xadrez da Guerra Fria e da manutenção de uma zona de soberania dependente. O capitão da direita brasileira se curva perante a bandeira de outro país. É o símbolo daquilo que o saudoso Betinho (Herbert de Souza) chamava de “Estado transnacional”, ou seja, que segue ordens externas e perde a capacidade de atender suas próprias populações.
O fracasso de um centro político “técnico” não é inevitável, mas convenhamos que é difícil convencer a população a votar em candidatos que dizem que vão retirar seus direitos sociais. A entrega do poder político a bufões violentos, como aconteceu em países tão distintos como as Filipinas e os Estados Unidos, talvez demonstre uma crise mais profunda do próprio terreno político e econômico no qual está assentada a dominação de classe no capitalismo.
Caos
O neoliberalismo de fins do século XX apresentou-se como uma revolução anticomunista que, em vez de defender a família, a tradição e disfarçar a hierarquia social, incorporou a desigualdade como um valor positivo. Isso era ser moderno. Como sabem os historiadores, o “moderno” é velho e remonta à época das comunas medievais, segundo Gramsci, ou mais precisamente às inovações no interior da escolástica no século XIII.
Contração monetária, elevação da taxa de juros, baixa dos impostos sobre renda e patrimônio, desregulamentação financeira, ataque aos sindicatos, corte de gastos sociais, privatização e atribuição do desemprego ao fracasso individual não foram escamoteados, mas propagados. Da mesma forma, o neoliberalismo está assentado num modo de vida. O cidadão é uma empresa em si mesmo; o direito privado é constitucionalizado, e o Banco Central, separado do poder político para se livrar de incômodas maiorias eleitorais circunstanciais.6 O poder se desloca para o controle do Judiciário, e uma oligarquia formada por altos funcionários do Estado, grandes financistas e chefes de corporações empresariais manipula a informação e destrói reputações de adversários.
Todavia, governar não passou a ser entendido como uma gestão técnica. Isso é um engano. Partes do governo foram sequestradas por corporações do Estado não eleitas e se legitimam pelo discurso da neutralidade. Assim, bancos centrais e tribunais são inquestionáveis.
O que é, então, governar? Quando o Poder Executivo podia definir suas políticas públicas com maior grau de independência, tratava-se de arbitrar conflitos sociais. Mas, sem isso, resta-lhe somente ameaçar os resignados e reprimir os descontentes.
Eureca! Descobre-se por que o discurso “responsável” do centro teve um apelo nulo, enquanto as incongruências da direita começaram lentamente a cavar espaço na mídia convencional. A verdadeira funcionalidade do malabarismo discursivo direitista não é só desmoralizar a política e, assim, conquistar um voto de protesto. Trata-se de representar eleitoralmente a última ideia de uma sociedade moribunda: o Estado policial democrático. Que a leitora e o leitor estejam diante de um oximoro, não será novidade. Democracia liberal (ou burguesa) já o era.
Depois que a economia mundial enfrentou a crise de 2008, a taxa de lucro caiu e a competição planetária entre as empresas transnacionais se acirrou; a necessidade de baratear a parte circulante do capital e de desregulamentar quaisquer barreiras à riqueza financeira mundo afora levou os países centrais a promover a desestabilização política dos países periféricos. O controle do fornecimento de matérias-primas, alimentos e energia e uma força de trabalho barata são os objetivos dos países dominantes.
Não se trata desta vez de ter governos comprometidos com uma dependência negociada e dotados de algum projeto de país, afinal o socialismo, mesmo como simples técnica de desenvolvimento, ruiu com a União Soviética. Trata-se agora de ter prestidigitadores amparados por um aparato midiático, jurídico e policial. Uma classe média acossada pelo medo aplaude.
Mas não é fácil manter Estados destituídos de suas funções básicas e garantir a segurança de enclaves de espoliação neocolonial sem promover a anomia social e a contraviolência. O domínio sem consenso organizado é insuportável; Estados conquistados e estabelecidos por puro banditismo estão fora da política, porque são “monstros históricos”.7
Para as oligarquias togadas, o problema da América Latina não é a desigualdade social infame, e sim a corrupção. Afinal, como disse Rivarol, a igualdade é maravilhosa, mas por que contar isso ao povo?
*Lincoln Secco é professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo e autor do livro História do PT (Ateliê Editorial, Cotia-SP, 2011).
1 Lincoln Secco, “Golpe de toga”, Le Monde Diplomatique Brasil, ago. 2017.
2 Edelberto Torres-Rivas, Revoluciones sin cambios revolucionarios, F&G, Guatemala, 2013, p.318.
3 Tomás Moulin, Chile actual: anatomía de un mito, LOM, Santiago, 2017, p.36.
4 Marcos Novaro e Vicente Palermo, A ditadura argentina, Edusp, São Paulo, 2007, p.111.
5 Jean Christian Petitfils, La droite en France [A direita na França], PUF, Paris, 1973.
6 Pierre Dardot e Christian Laval, Ce cauchemar qui n’en finit pas [Esse pesadelo que não termina], La Découverte, Paris, 2016, p.69 e 98.
7 Louis Althusser, Política e história, Martins Fontes, São Paulo, 2007, p.226.
Publicado em Le Monde Diplomatique Brasil