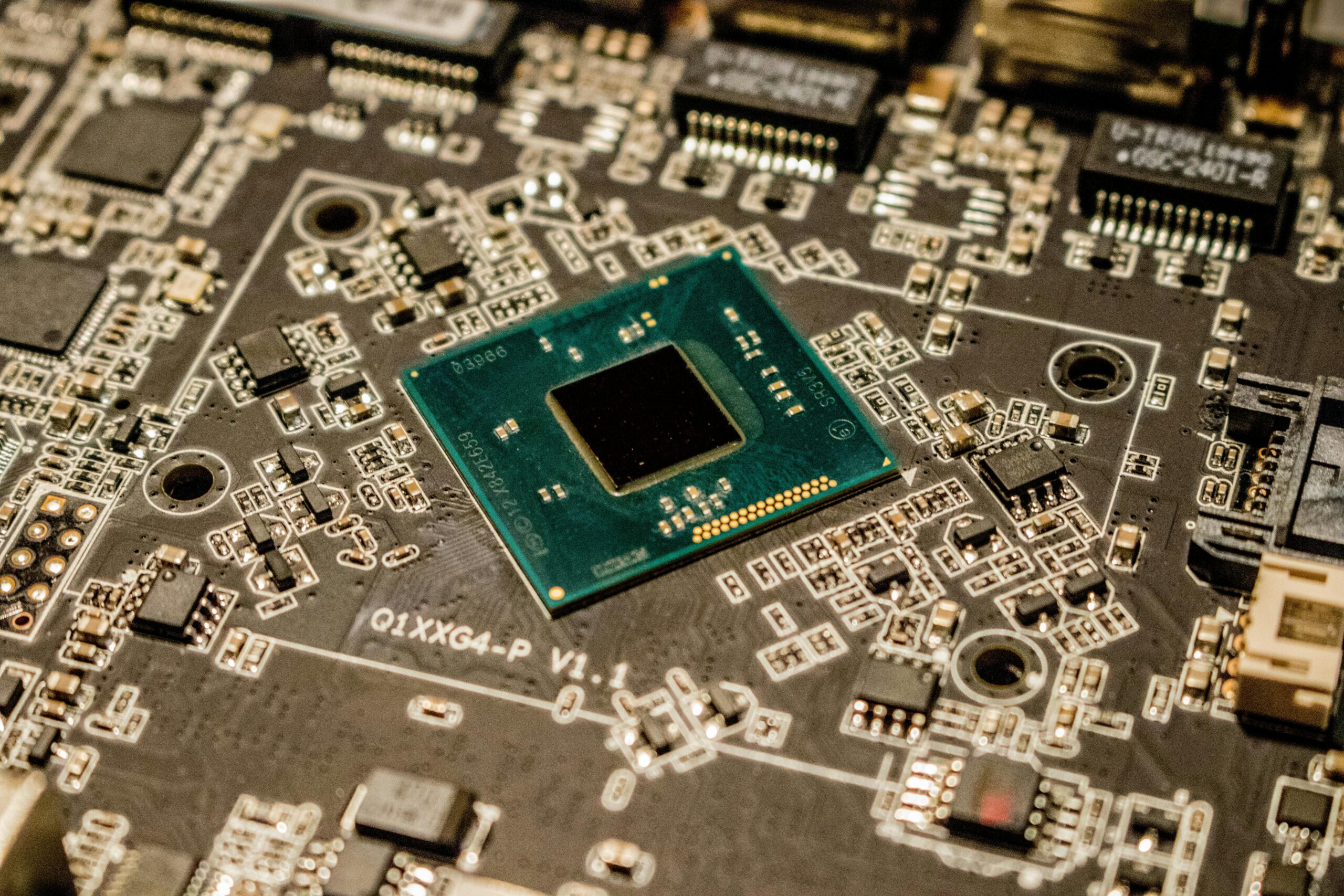Por Nilson Araújo de Souza*/Nathaniel Braia**
Vamos comentar neste artigo dois textos que estão circulando nas redes sociais que, a pretexto de defender os judeus israelenses e da diáspora do antissemitismo, tropeçam no alinhamento – injustificável, seja ele acanhado ou escancarado – com o genocídio que o governo nazifascista de Benjamin Netanyahu está perpetrando contra o povo palestino de Gaza. Trata-se dos textos “Uma contribuição para a renovação e transformação à esquerda” dos autodenominados “esquerda internacionalista” Ben Gidley, Daniel Mang e Daniel Randall e do “Ainda sonhamos com a paz”, do autodenominado “ativista pela paz” Davi Windholz. Discutimos também a natureza da doutrina que norteia esse governo.
Para começar, verificamos que, nos dois casos, há uma justa preocupação com o aumento do antissemitismo em todo o mundo, ainda mais sendo estes autores judeus; no entanto, estes autores, também aqui, revelam uma forte submissão à direita nazifascista no poder em Israel, pois, deixam de observar que é exatamente esse genocídio o que mais impulsiona o antissemitismo no mundo.
Então, se os autores desses textos querem, sinceramente, combater o antissemitismo, teriam que, antes de mais nada, em lugar de se botarem a justificar o extermínio em curso em Gaza, trabalhar pelo seu fim imediato, denunciando-o internacionalmente – como, aliás, já fazem judeus no mundo inteiro – para assim contribuir mais eficazmente para isolar não apenas o governo criminoso de Netanyahu, mas também a excrecência ideológica que ele representa em Israel e no mundo.
Ademais, a justificativa do genocídio, por parte de três “internacionalistas de esquerda” e de um “ativista pela paz” judeus, só contribui para aumentar o antissemitismo e dar argumentos aos antissemitas.
O que os autores parecem não perceber é que acabaram por produzir um tiro no pé: ao invés de fortalecer a luta contra o antissemitismo, reforçaram essa postura racista. Vale o registro de que não apenas os judeus são semitas; os árabes também o são. Isso implica dizer que o extermínio de palestinos e sua justificativa são manifestações também antissemitas.
Se estão “chocados” com o genocídio, por que o justificam?
Comecemos pelo primeiro texto. Em alguns momentos, seus autores mostram uma acanhada simpatia pela causa palestina, mostram-se indignados em relação ao genocídio do povo palestino e o simultâneo desalojamento da população da Cisjordânia junto com a ocupação de suas terras e lares. Vemos isso, por exemplo, quando dizem: “Temos observado horrorizados, dia após dia, durante semanas a fio, o aumento do número de mortes de civis em Gaza. Estamos chocados e indignados com o castigo coletivo infligido aos habitantes de Gaza pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), o aumento da violência dos colonos na Cisjordânia e a repressão do estado e de grupos de extrema-direita contra cidadãos palestinos”.
Declaram também: “Reiteramos: estamos chocados e nos opomos aos ataques do Estado de Israel contra a vida de civis e a infraestrutura em Gaza, ao deslocamento de populações palestinas, à linguagem desumanizadora e propostas de limpeza étnica por parte de políticos israelenses, aos planos de colonização de Gaza pelos colonos e à violência dos colonos e das forças de segurança israelenses contra os palestinos na Cisjordânia. Apoiamos a luta pelos direitos palestinos e nos opomos à violência do Estado de Israel e a ocupação de territórios palestinos”.
Indignados? De fato. Mas não tanto quanto o extermínio em curso e os 76 anos de usurpação deveriam gerar em qualquer ser humano de postura minimamente humanista e, por consequência, internacionalista, pois é perceptível a diferença de tratamento que dão ao ataque do Hamas e ao genocídio sofrido pelo povo palestino e perpetrado pelo Estado israelense. Enquanto se referem a esse genocídio e limpeza étnica como um “castigo coletivo”, o ataque do Hamas é visto como uma “brutalidade”, “o massacre de 7 de outubro”, “atos de crueldade”.
E, o que é pior, quando admitem que há brutalidade na ação do governo israelense, imediatamente a esmaecem pela relativização, inclusive usando um exemplo inadequado: “Até a brutalidade na escala que Israel está infligindo neste momento ao povo de Gaza tem um precedente direto recente na guerra do regime de Assad contra o povo sírio”.
Confessamos não entender exatamente onde entra e a que serve essa mísera comparação. Seria como se, pelo fato de que o “regime de Assad” tivesse promovido uma guerra “contra o povo sírio”, o Estado israelense poderia promover o genocídio dos palestinos? Ou teria esta observação o efeito de minimizar o crime do governo israelense?
Ora, em primeiro lugar, nada justifica a barbárie que está acontecendo em Gaza, nem ela merece qualquer relativização. Além disso, na verdade, o que ocorreu na Síria não foi uma “guerra do regime de Assad contra o povo sírio”, mas uma guerra dos EUA para derrubar o “regime de Assad”, usando mercenários sírios e de outros países importados para o campo de batalha criado com a declarada finalidade de derrubar o governo legítimo de Assad, assim como fizeram os EUA e satélites no Iraque e na Líbia, para isso utilizando quintas-colunas por eles fomentados e financiados, como o decepador de cabeças e autodenominado Estado Islâmico ou ISI.
As coisas seguem piorando quando a deplorável campanha de limpeza étnica é vista pelos autores como decorrência das ações do Hamas: “Após as ações do Hamas, seguiu-se uma resposta massiva do Estado de Israel”. Eles querem parar por aí. E procuram convencer seus leitores de que não devemos “contextualizar” o exame desse genocídio (“por que alguns são incapazes de condenar um massacre sem relativizá-lo ou contextualizá-lo?”), ou seja, buscar a sua raiz na história, no plano amplamente conhecido de limpeza étnica, em suma, buscar suas causas.
Mas, contraditoriamente, eles próprios “contextualizam” ao apontarem uma suposta “falta de letramento histórico” para a maioria da esquerda mundial. E a partir daí esparramam sua própria versão da história, um direitismo envernizado de jargão esquerdista.
Fato histórico: migração em massa e expropriação de terras árabes-palestinas geram confronto onde havia paz
Um importante fato histórico (e que os autores, assim como os sionistas, em geral, procuram obscurecer) é que, antes dos sionistas organizarem a migração em massa para a Palestina – o que ocorreu, sobretudo, depois que o Conselho da Liga das Nações aprovou, em 1922, o mandato britânico para a Palestina, que previa a criação de um ‘lar nacional para o povo judaico’, reforçado pelo “Acordo Ha’avarah” –, não havia registro de conflitos entre árabes e judeus que já viviam na Palestina (em torno de 56.000 em 1918, de uma população total de 700 mil habitantes).
Segundo estudo do professor Osvaldo Coggiola (em “A gênese do sionismo”), “na Palestina [antes da implementação do projeto sionista], não havia um ódio organizado contra os judeus, ninguém organizava massacres ou pogroms como os estimulados pelo czar da Rússia ou pelos antissemitas poloneses”. Observa ainda que não surgiu nenhuma reação simétrica do lado palestino, mesmo quando, nos primeiros passos da formatação sionista na Palestina, os colonos armados já se utilizavam da força e do poder econômico para expulsar os camponeses árabes.
O processo de expropriação das terras árabes se acelerou significativamente sob o mandato britânico para se criar um “lar nacional para o povo judaico”: sob a coordenação dos sionistas, a população judaica na Palestina cresceu rapidamente de 1919 até a criação do Estado de Israel em 1948: de 56.000 em 1918, passaram para 808.230 (de um total de 1.972.560 habitantes) em 1946, 14 vezes mais.
Esse intenso crescimento da população judaica na Palestina teve entre seus fundamentos uma abjeta assimilação do antissemitismo nazista embutida no “Acordo de Ha’avarah” (‘acordo de transferência’), assinado em agosto de 1933 entre a Federação Sionista da Alemanha, o Banco Anglo-Palestino (agindo sob as ordens da Agência Judaica para a Palestina) e as autoridades econômicas da Alemanha nazista. Esse acordo foi projetado para facilitar a emigração de judeus alemães para a Palestina em troca do pagamento de valores por parte dos judeus mais bem posicionados financeiramente, de forma a reforçar o caixa do governo nazista em preparo para a blitzkrieg do Reich.
Foi assim que, sob o comando dos sionistas, 487 mil judeus europeus migraram para a Palestina nesse período.
“Na Alemanha”, registra o professor da USP, “o acordo do governo com os representantes sionistas funcionou regularmente até 1938; era conhecido como ‘transferência de capital para a Palestina’”.
Acrescentamos denúncia de que, ao fazerem tal acordo com os nazistas, apontando a ocupação da Palestina como única forma viável para os judeus europeus escaparem da sanha antissemita nazifascista, a Federação Sionista da Alemanha e o comando sionista mundial acabaram por facilitar a “solução final”, a tentativa de extermínio judaico, uma vez que isso desarmou idelogicamente os judeus, bloqueando assim sua integração na resistência antifascista.
Como consequência dessa migração acelerada, reforçando a implementação do projeto sionista, diferentemente do período anterior de convivência harmoniosa entre árabes, judeus e cristãos, “em 1931, vinte mil famílias camponesas palestinas já haviam sido expulsas de suas terras pelos grupos armados sionistas”.
“A apropriação [pelos judeus] de um milhão de dunums, quase um terço da terra cultivável na Palestina, no entanto, levou a um grave empobrecimento dos camponeses árabes”.
Nessa época (1931), os judeus assentados na Palestina eram 174.610 de um total de 1.035.821 habitantes da região. Em 1936, já eram 400 mil, oito vezes mais que em 1918, um crescimento resultado da nova onda de imigração (“a grande maioria ashkenazes – judeus de tradição cultural oriental europeia e de língua yiddish”), “protegida pelo mandato britânico e apoiada financeiramente pelo Acordo Ha’avarah”, conforme nos informa o professor da USP.
Em 1939, já haviam 445.000 judeus na Palestina (de um total de 1.500.000 habitantes) e em 1946 (logo depois do extermínio na Alemanha) atingiram o número de 808.230 (de um total de 1.972.560 habitantes).
Em meio a essa migração massiva comandada pelos sionistas, “ficou estabelecido um código de trabalho discriminatório contra a força de trabalho árabe, que provocou desemprego em grande escala (…). Os primeiros choques importantes tiveram lugar em maio de 1921, entre manifestantes sionistas e árabes”.
Ainda de acordo com o professor, “em agosto de 1929, seguindo justamente a chegada de uma nova onda de imigrantes judeus, estourou a revolta árabe. O estopim da revolta foram as provocações dos sionistas ‘revisionistas’ seguidores de Vladimir Jabotinsky que desejavam aumentar o espaço reservado aos judeus no Muro das Lamentações. Em meados de agosto, centenas de jovens do grupo paramilitar revisionista Betar marcharam pelo bairro árabe de Jerusalém portando bandeiras sionistas azul e branco, armas e explosivos escondidos e cantando ‘o Muro nos pertence’, ‘Judá nasceu em sangue e fogo, em sangue e fogo ela se reerguerá’”.
E essa situação se agravou mais ainda posteriormente com atentados terroristas do Irgun eLehi, comandados pela direita sionista, mas incluía Haganah ePalmach, as forças paramilitares oficiais do sionismo instalado na Palestina, sob comando de David Ben Gurion. Tais são os elementos que estão na origem do conflito árabe-judeu e da resistência árabe-palestina.
Mas os “internacionalistas de esquerda”, apesar de aparentemente censurarem o genocídio que está sendo praticado pelo governo nazifascista de Netanyahu – usando as ditas Forças de “Defesa” de Israel, que foram criadas a partir da antiga milícia Haganah -, procuram relativizá-lo e até mesmo justificá-lo, ou seja, “contextualizá-lo”, ao registrarem que algo semelhante ocorreria em outras partes do mundo.
Dizem, por exemplo: “instamos os camaradas a refletir se eles e suas organizações usam os mesmos tipos de linguagem e registros emocionais sobre, por exemplo, a opressão dos curdos pela Turquia, ou a opressão dos tâmeis por Sri Lanka, como fazem sobre a opressão de Israel aos palestinos”.
Não há esforço mais cabal de justificativa do que este para, na prática, corroborarem com o genocídio do povo palestino.
E mais, chegam a reconhecer a violência do processo de formação do Estado de Israel, mas alegam que isso é comum na formação dos Estados nacionais: “O processo de formação nacional judaica israelense incluiu colonização por colonos que resultou no deslocamento de um grande número de habitantes existentes, inclusive por meio de crimes de guerra e expulsões. Foi também um processo de fuga desesperada por pessoas que haviam sido vítimas de violência racista e tentativas de extermínio. Os palestinos são, nas palavras de Edward Said, ‘as vítimas das vítimas e os refugiados dos refugiados’. Os judeus israelenses estão longe de serem únicos a consolidarem-se como nação e fundarem um Estado com base na desapropriação violenta dos habitantes existentes de um território”, dizem.
Ao declararem que “o processo de formação nacional judaica israelense incluiu colonização por colonos que resultou no deslocamento de um grande número de habitantes existentes, inclusive por meio de crimes de guerra e expulsões”, estão admitindo que a origem do genocídio não foi o ataque do Hamas, como querem nos fazer crer, mas está enraizado e é pleno integrante da história de desapropriação violenta, expulsões e crimes de guerra praticados pelo Estado de Israel contra o povo palestino.
Mas, conciliando com a visão excludente e colonialista inerente ao sionismo, querem nos convencer de que, se “outro” pratica a violência contra um povo em qualquer outro lugar, justifica-se a violência inaudita que está sendo praticada em Gaza pelo governo de Israel, a qual repete de maneira magnificada a violência já secular do Estado de Israel contra o povo palestino.
Ora, em lugar de justificar o erro sionista pelo erro dos outros, obrariam melhor, internacionalistas como se auto-intitulam, se seguissem o conselho do símbolo maior de todos os internacionalistas, o Che, cuja percepção, sempre pertinente, poderíamos, neste caso, traduzir assim: “o verdadeiro internacionalista é aquele que é capaz de se indignar contra qualquer injustiça praticada contra qualquer ser humano em qualquer parte do mundo”.
No afã de demonstrar que a esquerda também incorre em antissemitismo ao denunciar crimes de Israel, defendem o imperialista mundo unipolar e borram a condição nacional
E agora? Que internacionalismo é esse dos autores comentados, que defendem o “imperialismo ocidental”, eufemismo para imperialismo estadunidense? Sob o pretexto de demonstrar que a “esquerda” é contra Israel e seria antissemita, eles alegam que, ao ser anti-imperialista, a “esquerda” “pregou a visão de que qualquer coisa que prejudique o imperialismo hegemônico (o dos EUA) e seus aliados [não explicitam, mas devem estar se referindo a Israel] deve necessariamente ser progressista (em vez de seguir um projeto verdadeiramente internacionalista) (…). Esse ‘anti-imperialismo’ (…) é cego para o fato de que, ao apoiar o ‘eixo de resistência’, não está se opondo ao imperialismo, mas sim se aliando a um polo imperialista rival em um mundo ‘multipolar’”.
A partir daí, negam a necessidade de um mundo multipolar e chegam mesmo a embelezar o “imperialismo ocidental”: “O imperialismo ocidental enfrenta desafios de alternativas reacionárias: imperialismo russo, imperialismo chinês e imperialismo-regional iraniano”.
Portanto, na visão deles, além de também serem imperialistas, a Rússia e a China seriam “alternativas reacionárias”, obviamente em relação ao “progressista” imperialismo estadunidense. Não há a menor dúvida de que não é a Rússia nem a China que, com armas, montanhas de dinheiro e “poder de persuasão violento”, estão em toda a parte do mundo fomentando discórdias, guerras, derrubando governos, apropriando-se das riquezas alheias, oprimindo e explorando os povos, mas, obviamente, o capital monopolista bélico-financeiro-midiático que domina os Estados Unidos. Quem é reacionário então: o Estado expansionista dos EUA ou os povos e governos que não se submetem à sua dominação e espoliação?
Os autores, ao mesmo tempo em que se referem pejorativamente aos países que estão propugnando por “um mundo ‘multipolar’ emergente”, admoestam a “esquerda” porque esta critica a “ordem mundial unipolar”. Na prática, os autores estão defendendo a ordem unipolar, sob a hegemonia dos EUA, surgida com o fim da União Soviética, exatamente porque este hegemonismo tem implicado numa simbiose com Israel regada a bilhões de dólares todos os anos. Se o mundo de pós-guerra fosse unipolar, não teria sido criado o Estado de Israel, que contou com todo apoio da União Soviética.
Ocorre que, para o mundo e para as nações da periferia como a nossa, um mundo multipolar (sem aspas) é muito mais favorável para a autodeterminação, o desenvolvimento e o bem-estar dos nossos povos do que um unipolar porque, em lugar da submissão ao império de turno (lugar atualmente ocupado pelos EUA), possibilita um maior raio de manobra e um maior poder de negociação nas relações internacionais e, portanto, uma inserção internacional soberana de todos os povos e nações.
Mas os autores borram a nação em seu falso e estreito “internacionalismo”. Vaticinam: “todos os nacionalismos — incluindo os de grupos atualmente oprimidos — são no mínimo potencialmente excludentes e opressores (…). Uma esquerda internacionalista não deve acenar sem críticas para nenhuma bandeira nacional, ou apoiar sem críticas nenhum Estado ou movimento nacional”.
É evidente que uma esquerda verdadeira, sendo dialética, deve sempre ter visão crítica sobre qualquer processo, pois isso é que contribui para o mundo avançar, mas eles enfatizam a questão das críticas para minimizar sua rejeição ao nacionalismo, que, a seu ver, é no mínimo “potencialmente excludente e opressor”.
No fundo, ao rejeitarem o nacionalismo, quando igualam todos os nacionalismos a um chauvinismo de grande potência, estão negando a nação. Pois uma coisa é o nacionalismo de grande potência, que é expansionista e, portanto, social-chauvinista; outra é o nacionalismo de país dependente e subdesenvolvido da periferia do mundo capitalista, que precisa dessa arma ideológica para superar a dependência e se emancipar. Em um país dependente, ao ter sua economia controlada desde fora, seu Estado também é comandado desde fora. Portanto, não há democracia, já que esta é o “governo do povo”. Há apenas um simulacro de democracia.
Avançando na negação da nação, negam o anti-imperialismo ao afirmarem: “muita política de esquerda nas últimas décadas se baseou não tanto na luta contra o capitalismo enquanto relação social, mas na rejeição da ‘hegemonia americana’”. Aparentemente, estão com uma posição avançada, até revolucionária, ao defenderem “a luta consciente dos explorados e oprimidos”, mas, na verdade, usam isso como escudo para criticar a rejeição, pela “esquerda”, da “hegemonia americana”, o que significa defender a hegemonia unipolar do imperialismo estadunidense, esta sim uma posição reacionária, pois é impossível emancipar os explorados e oprimidos enquanto uma única nação dominar o mundo.
O genocídio é perpetrado pelo Estado israelense e não pelo seu povo
Vale aqui observar que nossos autores afirmam, por exemplo, que “apoiar os direitos dos palestinos requer uma identificação cuidadosa do Estado israelense — e suas estruturas ideológicas – como os perpetradores da injustiça, e não o povo israelense como um todo, visto como um bloco homogêneo e politicamente indiferenciado”.
Nisso, estamos de acordo. Pois os “perpetradores da injustiça” não é o povo israelense, que também é vítima desse governo nazifascista de Benjamin Netanyahu e do sistema de disseminação da ideologia anti-árabe e anti-palestina por parte da casta sionista dominante. É por concordarmos com esta percepção que reiteramos: para serem consequentes com essa posição, deveriam deixar de “contextualizar”, ou melhor, relativizar o genocídio praticado por esse governo hediondo.
Depois de negarem a nação, apresentam, contraditoriamente, uma proposta de autodeterminação dos povos, que, obviamente, só poderá realizar-se mediante a construção de uma nação: “A esquerda deve apoiar o direito à autodeterminação como parte de um programa por igualdade democrática. Isso significa apoiar o direito de todos os povos à autodeterminação em igualdade de condições, e se opor a qualquer programa que busque a dominação de um povo sobre outro”.
De pleno acordo. Vamos então batalhar, de forma consequente, pela autodeterminação do povo palestino. Isso compete não apenas à esquerda, mas a todo democrata e, mais ainda, a todo humanista. Não apenas aos que defendem o internacionalismo proletário, mas aos postuladores do “internacionalismo patriótico” (o que significa a defesa intransigente da autodeterminação dos povos e das nações em qualquer parte do mundo).
Foram os sionistas e não os palestinos que iniciaram a violência na região
Vejamos agora o artigo “Ainda sonhamos com a paz”, do “ativista pela paz” Davi Windholz, que também se define como um “sionista humanista socialista”, que seria antagônico ao “sionismo revisionista-messiânico”, que sustentaria o governo nazifascista de Benjamin Netanyahu.
O autor do texto reconhece, por exemplo, que “a relação atual na região de Israel-Palestina é de que Israel é o dominador, o opressor do povo palestino” e que em 1947 “65% do território do Rio ao Mar” pertenciam aos palestinos e 35% aos judeus; um ano depois, com a criação do Estado de Israel e a guerra Israel-Árabe, a relação havia se invertido, com Israel dominando 65% e os palestinos 35% (faltou dizer que hoje os palestinos só contam com 15% do território e, ainda por cima, sob controle militar, opressivo e colonialista de Israel).
Mas fica por aí. Algumas colocações que o “ativista pela paz” faz no artigo negam completamente esse reconhecimento de que Israel se apropriou de território palestino e de que “é o dominador, o opressor do povo palestino”. Além de se contradizer, falta com a verdade histórica, que ele tanto diz prezar, ao dizer que “a violência palestina só levou a uma maior violência israelense”, como se fossem os oprimidos palestinos os que iniciaram a violência e como se – por alguma espécie de mágica – tudo houvesse começado no dia 07/10 com o ataque do Hamas.
O autor, com essa frase, está, na verdade, responsabilizando o povo palestino pelas atrocidades que vêm sendo praticadas pelo governo assassino de crianças, mulheres e idosos de Benjamin Netanyahu.
Esquece do relato histórico que ele próprio fez no texto. Foram os sionistas que, antes mesmo da criação do Estado de Israel, iniciaram os ataques terroristas. “A violência política sionista refere-se a atos de violência ou terror cometidos por sionistas. O período mais ativo da violência política sionista mais notável começou em 30 de junho de 1924 [e] durante a década de 1940” (Wikipédia). Essas ações foram realizadas por indivíduos e grupos paramilitares judeus como Irgun, Lehi, HaganahePalmach, como explicitamos acima e como parte de um conflito entre judeus, autoridades britânicas e árabes palestinos, a respeito de terras, imigração e controle da Palestina.
E, para contradizer mais ainda suas declarações de boas intenções (das quais o inferno está cheio), pontifica que os “terroristas do Hamas (…) [são] Seres Inumanos”. Na fase moderna – está na memória de todos nós -, foram os nazistas de Hitler que resgataram essa qualificação do “outro”: para justificar o holocausto, racionalizaram que judeus, ciganos, comunistas, socialistas eram espécies animais subumanas.
Quando “terminar com o poder do Hamas” torna-se pretexto para justificar o genocídio
E, já que é um cidadão da paz, deveria estar horrorizado com o genocídio que está sendo praticado, contra o povo palestino de Gaza, pelo governo nazifascista de Benjamin Netanyahu, que ele qualifica de “sionismo revisionista-messiânico”. Ao contrário, semelhante aos autores antes comentados, ele, a pretexto de “terminar com o poder do Hamas”, justifica o genocídio (senão assunte as palavras em negrito): “Para iniciarmos uma renovação do processo de paz só há um caminho. A queda da Hamas e do governo de Israel. O governo de Israel, depois do 07/10, está desacreditado e segundo todas as pesquisas este é seu último mandato (..)”. E aí vem o horror: “A pergunta fundamental é como terminar com o poder da Hamas em Gaza. Será que existe outra forma sem ser esta que Israel está realizando, com um custo altíssimo de mortes de civis?”
Insiste mais ainda nessa posição quando, depois de chamar o genocídio de mero “conflito Israel-Palestina”, também justifica o mesmo pela ocorrência de “conflitos” em outras partes do mundo: “Aquele que queira falar comigo sobre o conflito Israel-Palestina, terá que provar que realmente sabe do que está falando, e não só de slogans antissionistas e antissemitas. Terão de falar comigo sobre o conflito entre xiitas e sunitas, do setembro Negro na Jordânia…”. E, a partir, cita um rosário de conflitos mundo afora, desde o Sudão do Sul até o Brasil.
É óbvio que esse caminho – destruição do Hamas, se é que é possível – não vai garantir a conquista da paz na região, que os autores dizem defender. Pois a raiz do problema persiste: o fato de Israel desrespeitar, sistematicamente, as resoluções da ONU desde a que criou o Estado de Israel em 1947, que previa dois Estados, um judeu e outro palestino, além de adotar a mais odienta opressão sobre o povo palestino. O plano original da ONU destinava 53% do território da Palestina aos 700 mil judeus que então já estavam lá e 47% ao 1 milhão e 400 mil árabes-palestinos. Como se percebe, já era uma divisão desproporcional.
Mas, conforme o próprio “ativista pela paz” admite, em 1947, 65% do território pertenciam aos palestinos e 35% aos judeus; um ano depois, após uma guerra com os árabes, que não aceitaram aquela divisão desproporcional, Israel dominava 65% e os palestinos apenas 35%. Hoje, os palestinos só contam com 15% do território.
Após a guerra de 1948, a ONU baixou a Resolução 194 que determinava o direito de retorno a todos os palestinos expulsos pelo terror exercido em meio àquela guerra, resolução que nunca foi respeitada pelo governo de Israel, assim como diversas outras resoluções, como a 242, que determinava a devolução dos territórios ocupados em 1967 por Israel.
Assim, depois de os terroristas sionistas expropriarem boa parte das terras dos palestinos antes da criação do Estado de Israel, como demonstramos antes, o novo Estado abocanhou quase todo o território palestino e impede qualquer tentativa de formar um Estado palestino soberano, mantendo a área de Gaza como “a maior prisão a céu aberto do mundo” e a Cisjordânia sob sistemático ataque, com apoio do governo e das forças de segurança de Israel, por “colonos” israelenses que seguem expropriando as terras dos palestinos. Não há internacionalismo sincero que possa admitir tamanha injustiça.
Os autores aqui comentados parecem ter a ilusão de que o objetivo central do governo de Netanyahu é acabar com o Hamas. Na verdade, esse governo nazifascista e colonialista aproveita esse pretexto para implementar o plano sionista de limpeza étnica contra o povo palestino a fim de viabilizar o expansionismo colonialista, como ficou claro até agora por suas ações genocidas indiscriminadas e de destruição da infraestrutura de Gaza (destruiu, por exemplo, 25 dos 36 hospitais, sendo que os demais só estão funcionando parcialmente). O objetivo final seria expandir territorialmente o Estado judaico como reprodução do mito do antigo Israel bíblico, abrangendo, além da Palestina, partes do território da Síria, o norte do Egito e o sul do Líbano.
Como demonstração dessa verdade elementar, vejamos as palavras de duas autoridades militares de Israel: 1) major-general Ghassan Alian: “não haverá eletricidade nem água. Só haverá destruição. Você queria o inferno; você vai ter o inferno”; 2) major-general Giora Eiland, que foi chefe do Conselho de Segurança Nacional de Israel: “transformar Gaza em um lugar onde seja temporária ou permanentemente impossível viver. Criar uma crise humanitária grave em Gaza é um meio necessário para atingir o objetivo”. “Gaza se tornará um lugar onde nenhum ser humano poderá existir”.
A “busca de um lar nacional” na Palestina: “terra prometida” para o “povo eleito”
A propósito, algumas palavras sobre o sionismo, a doutrina que orienta o governo de Netanyahu. A grande maioria dos sionistas foge do debate sobre a característica mais essencial do sionismo ao acusar o antissionismo de ser uma variante disfarçada de antissemitismo, ou seja, uma ideologia voltada contra todos os judeus.
Isso não é verdade. O antissemitismo é uma forma de racismo, pois discrimina judeus e árabes, que são ambos povos semitas – portanto, irmãos. Combater o estado sionista não é ser antissemita. Ser antissionista é combater uma doutrina supremacista, racista e colonialista. Existem judeus antissionistas no mundo inteiro, inclusive em Israel. A imensa maioria dos árabes, que, como indicamos antes, também são povos semitas, é antissionista, em defesa do direito palestino à autodeterminação, o que não os torna antissemitas. A direita sionista quer confundir uma coisa com a outra para poder continuar oprimindo o povo palestino.
Na verdade, o antissionismo é uma corrente originalmente judaica e que – embora agora minoritária entre os judeus desde o holocausto – sempre esteve presente no seio de todas as comunidades judaicas tanto dentro de Israel quanto fora dele. Exemplo disso são organizações como o Matzpen, da Aliança Comunista Revolucionária, entre outras, ou nada menos do que o reitor da Universidade Hebraica de Jerusalém durante a fundação do Estado de Israel, Judah Leon Magnes, ou ainda o destacado filósofo Martin Buber, ou o líder israelense na luta pelos direitos humanos Israel Shhaq.
A mesma posição foi também defendida por um destacado judeu que integrava o governo inglês à época da Declaração Balfour (o governo britânico, ao assinar esse documento em 1917, esperava que essa operação ajudaria a conquistar o apoio dos judeus aos aliados durante a Primeira Guerra Mundial), Edwin Montagu, que se opôs a ela demonstrando o prejuízo aos próprios judeus por toda parte: “uma vez que e quando o judeu tenha um lar nacional (…), a Palestina [judaica) se tornará o gueto do mundo. Por que os russos deveriam dar direitos iguais aos judeus? Sua casa nacional é a Palestina. Por que Lord Rothschild atribui tanta importância à diferença entre britânicos e judeus ‘estrangeiros’? Todos os judeus serão judeus estrangeiros”.
O sionismo é uma ideologia surgida entre os judeus no final do século 19 e consagrada no primeiro Congresso Sionista Mundial realizado em 1897, em Basileia, Suíça, e no livro “O Estado judeu”, de Theodor Herzl, um judeu austríaco (publicado um ano antes do Congresso), transformando-se, a partir de então, em movimento organizado com o nome de Organização Sionista Mundial.
Segundo Herzl, os judeus deveriam ter seu próprio “lar nacional”. Mas isso não era consenso nas comunidades judaicas. Essa doutrina divergia das correntes da esquerda judaica, que defendiam que os judeus deveriam integrar-se nas sociedades dos países em que viviam e deviam mesmo lutar por isto; por isso mesmo, eram chamados de “integracionistas”.
No Congresso, inicialmente, houve divergência sobre onde seria esse Estado, mas terminaram acordando que seria na Palestina.
Eles tomaram essa decisão porque com isso poderiam conquistar corações e mentes dos religiosos, que tinham no horizonte a “terra prometida” para o “povo eleito”. O seu discurso era atraente para os judeus europeus porque, além disso, se sentiam ameaçados com os pogroms da Rússia tzarista e outros países da Europa Oriental e pelo crescente antissemitismo na Europa Ocidental, que explodiu no caso Dreyfus na França. O capitão Alfred Dreyfus, judeu, acusado de vender informações secretas aos alemães, recebeu pena de prisão perpétua, verificando-se depois que se tratava de uma fraude.
Durante todo o processo do capitão Dreyfus, o antissemitismo se transformou em uma verdadeira histeria entre multidões de franceses. “Ah, quanta agitação demente, quantas invencionices loucas, práticas de polícia abjeta, costumes de inquisição e tirania”, denunciou Emile Zola em seu libelo J’Accuse (Eu Acuso).
Caráter racista e colonialista do sionismo: “uma terra sem povo para um povo sem terra”
A adoção pelo movimento sionista do slogan “uma terra sem povo para um povo sem terra” significava, na prática, que os sionistas consideravam que os palestinos não eram povo, denunciando o caráter racista do movimento. Esse racismo também se manifesta na transposição para a esfera político-ideológica do dogma judaico religioso de que ao “povo eleito” cabia a “terra prometida”.
Os fundadores do sionismo eram majoritariamente laicos, mas usaram conceitos caros aos religiosos para atraí-los a sua aventura de diferenciação racial. Essa visão supremacista judaica dos sionistas foi disfarçada na sua Declaração de Independência, segundo a qual o Estado de Israel prometia: “garantirá liberdade de religião, consciência, língua, educação e cultura; respeitará os lugares sagrados de todas as religiões; e será fiel aos princípios da Ata das Nações Unidas”.
O que aconteceu foi exatamente o oposto do prometido e, como se viu ao longo da história de sua formação em Estado, a questão central para os sionistas era formar o atual Estado sob comando judeu, em que os não-judeus não teriam os mesmos direitos que eles. É uma visão supremacista que terminou construindo um Estado de apartheid, um Estado-gueto, cada dia mais isolado do conjunto das nações devido às atrocidades que têm lançado mão para sua constituição e para suplantar a resistência autóctone a sua implantação.
Aliás, foi o que profeticamente observou e previu o destacado escritor judeu-israelense Ahad Haam (Um do povo) já nos primórdios do Estado judeu: “tratam os árabes com hostilidade e crueldade, os despojam de seus direitos, os ofendem sem motivo e, inclusive, se jactam destes atos…”. E, mais adiante: “além do perigo político, não posso suportar a ideia de que nossos irmãos sejam moralmente capazes de comportarem-se desta forma em relação a seres humanos de outra origem e, involuntariamente, me assalta a seguinte preocupação: se é assim agora, qual será nossa relação com os demais se verdadeiramente logramos…o poder em Eretz Israel? Se isso é o ‘Messias’, não quero presenciar o seu advento”.
Desde o início de sua formação, o sionismo teve correntes à direita, a exemplo da organização Betar, filha da versão que Zeev Jabotinsky denominou de “revisionista”, adotando o lema “Judah nasceu em sangue e fogo, em sangue e fogo ela se reerguerá” ” e cuja juventude andava armada em Jerusalém e da qual Netanyahu, Smotrich e Gvir (chefes da coalizão governamental fascista no poder em Israel hoje) são herdeiros e, por outro lado, a assumida como de “esquerda”, constituída basicamente pelo Partido dos Trabalhadores de Israel (Mapai) e o Partido dos Trabalhadores Unificado (Mapam), que se coligaram para formar a corrente trabalhista, HAVODA.
O Mapam, apesar da declaração adotada pela sua corrente fundadora, a Federação Kibutz Artzi, de que “… a terra histórica de Israel é a pátria comum de dois povos, o povo judeu retornando a ela e o povo palestino que nela vive”, tomou parte na ação de terror para promover a limpeza étnica da Palestina com seus membros integrando as fileiras da Palmach e Haganah.
Sobre o caráter e a dimensão territorial do Estado de Israel, direita e “esquerda” sionistas tinham posição semelhante
Com a morte de Herzl em 1904, a corrente dita de “esquerda” e “trabalhista” (HAVODA) se fortaleceu a tal ponto que, com a criação do Estado de Israel, foi ela que, através de seu principal líder David Ben Gurion, assumiu o poder em 1948.
A partir daí, essa corrente governou Israel até 1977. Assim, coube à corrente da “esquerda sionista” a tarefa de liderar a implantação do Estado de Israel. E esse processo, conforme indicaram nossos autores, foi violento. Realizaram uma verdadeira limpeza étnica contra o povo palestino.
Ben Gurion, assim como o sionismo de direita, concebia o Estado de Israel como um Estado judaico e, portanto, étnico-racial, com a supremacia de uma etnia, a dos judeus, acabando por caracterizar, assim, uma espécie de apartheid (mais direitos para os judeus; menos para os demais povos que viviam na região).
Como deixou claro no Fórum Social Mundial Palestina Livre, realizado em Porto Alegre, em 2013, o dirigente do Congresso Nacional Africano, de origem judaica, o sul-africano Ronie Kasriels, especialista, portanto, na questão do apartheid: “o regime imposto por Israel sobre a população palestina é muito pior do que o apartheid que marcou a história da África do Sul”.
De início, disse Kasriels, ao intervir no Fórum de Porto Alegre: “Foi como um ‘dèjá vu’: pessoas alinhadas nos postos de controle com esses jovens soldados arrogantes e armados. Isso é o que eu via na África do Sul; porém, quando olhei de novo e conheci melhor a situação, vi que era pior do que o apartheid”.
“Isso é idêntico, de muitas formas, ao apartheid. Mas, as autoridades sul-africanas nunca usaram jatos militares e tanques para bombardear o local onde os negros moravam. E os bantustões não eram cercados por muros ou postos de controle”, explica. “A vida nos bantustões era péssima, mas nem tanto quanto estar nas prisões que são Gaza e Cisjordânia”.
Nas questões fundamentais – Estado étnico-racial, supremacia judaica, apartheid, expansionismo, limpeza étnica contra o povo palestino –, o sionismo dito de “esquerda” acabou por adotar posicionamento prático similar ao dos sionistas de direita.
A diferença era que, enquanto os sionistas de direita pretendiam resolver essa questão do expansionismo na base da força, os ditos de “esquerda” diziam apostar na negociação. Mas o que aconteceu foi que, ao liderar os primeiros 30 anos de construção de Israel, praticaram a estratégia da força e da limpeza étnica
Havia também uma diferença em relação à questão interna. Diferentemente dos sionistas de direita, os de “esquerda”, abrigados no Mapai e Mapam, adotavam uma política interna “progressista”, fortalecendo um arremedo de socialismo, nas aldeias denominadas de kibutzim, o predomínio estatal nas empresas de serviços e, parcialmente, os direitos trabalhistas dos judeus.
Terrorismo sionista é condenado pelos acadêmicos judeus Albert Einstein e Hana Arendt
Os sionistas de direita, sob a inspiração de Vladimir Jabotinsky, fundaram as facções terroristas Irgun, Etzel e Lehi, que perpetraram o massacre deliberado e não provocado de Deir Yassin, matando a tiros idosos, mulheres e crianças e levando os sobreviventes enjaulados para desfilar com eles como se fossem troféus de combate pelas ruas de Jerusalém.
Um terror tão amplamente repudiado que Hana Arendt, Albert Einstein e mais uma dezena de intelectuais judeus divulgaram um comunicado de página inteira no The New York Times comparando as atrocidades desses grupos aos do nazismo e alertando para a perigosa formação em curso em Israel/Palestina.
Ben Gurion se viu então obrigado a repudiar o massacre comparando Menachen Begin (então líder do Irgun e depois premiê israelense) a Hitler.
Coube a Begin inaugurar o predomínio dessa direita sionista, que, através de fusões, reuniu-se no partido Likud, que governou o país desde 1977, com um ou outro interregno. Esse predomínio levou Netanyahu ao poder, o qual aproveitou para tornar lei (A Lei Básica do Estado-Nação) a concepção sionista de que Israel é legalmente um Estado judeu. O que antes era ideia e fato agora é lei básica de apartheid, aprovada pelo Knesset, o parlamento israelense.
Com as guerras travadas em 1948 e 1967, sob comando da dita “esquerda sionista”, Israel veio a ocupar toda a Palestina histórica, incluindo a Jerusalém Árabe, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, submetendo o povo palestino a uma situação sem direitos e se transformando assim num estado colonial. Portanto, Israel é um Estado racial-colonial.
Ocupou também as sírias Colinas do Golã, nascentes do rio Litani ao sul do Líbano e o Sinai, posteriormente devolvido ao Egito mediante o acordo Sadat-Begin. Esse acordo parcial foi feito às expensas do povo palestino que permanecia com suas terras ocupadas, só que agora perdendo o respaldo estatal egípcio que assinaria acordo de paz unilateral com Israel. Em protesto contra o acordo, militares mataram Sadat em pleno desfile da Independência do Egito.
Acordo de Oslo é frustrado pelo assassinato de Yitzhak Rabin por um terrorista judeu
Sob o comando de Yasser Arafat (dirigente do partido Fatah e da Organização para Libertação da Palestina – OLP), e por meio de discussões puxadas por Nayef Hawatmeh (Frente Popular Democrática de Libertação da Palestina) junto com revolucionários judeus israelenses, a luta palestina passa de ações militares de pequenos grupos para ações amplas e de massa com manifestações em universidades palestinas, greves gerais na Cisjordânia até desembocar na Revolução das Pedras, a Intifada, abrangendo amplas massas da Cisjordânia a Gaza. Essas lutas e o respaldo mundial que obtiveram sob liderança da OLP em sua denúncia da ocupação dos territórios palestinos por Israel criaram as condições para a realização do acordo de Oslo em 1993.
No acordo firmado pelo primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, do Partido Trabalhista, e o presidente da OLP, Yasser Arafat, comprometiam-se a unir esforços para a realização da paz entre os dois povos, prevendo o término dos conflitos, iniciando a retirada das forças militares israelenses dos territórios ocupados, a instalação da Autoridade Nacional Palestina na Ramallah liberta da ocupação.
Também se previa a abertura de negociações sobre os territórios ocupados, a questão do status de Jerusalém e ainda a questão do direito dos palestinos expulsos em 1948-1950.
Apesar de não ser ainda a criação de um Estado nacional palestino – já que para o governo de Rabin, como de resto para a “esquerda sionista”, o avanço havia que ser muito “gradual” -, era um degrau nessa direção. O acordo permitiu a instalação da ANP como passo para a criação do Estado Palestino que, segundo se esperava, viria como resultante do clima de paz entre israelenses e palestinos – a ser garantido pelas duas partes – após a assinatura do acordo e o fim da ocupação israelense.
Mas o acordo, além de suas limitações, foi frustrado porque um terrorista israelense assassinou Rabin, precisamente para evitar o cumprimento do acordo.
Ocorre que o assassinato de Rabin, como demonstra cabalmente o filme do cineasta israelense Amos Gitai “O último dia de Ytzhaq Rabin”, longe de ser um ato individual do terrorista Ygal Amir, foi uma ação arquitetada pela direita belicista e supremacista israelense comandada por Bibi Netanyahu à frente de manifestações que clamavam “Rabin traidor” e pediam “Morte a Rabin”. Netanyahu chegou a segurar na alça de um caixão com o suposto cadáver de Rabin dias antes de seu assassinato.
Essa direita sionista estava desesperada porque seu espaço reduziria em Israel caso os Acordos de Oslo prosperassem. O assassinato ocorre minutos depois que Rabin, falando na maior praça de Tel Aviv a uma multidão de 500 mil pessoas, afirmou: “Dizemos a vocês hoje com voz clara e elevada: chega de sangue e lágrimas. Chega!”.
Os tiros o atingiram pelas costas depois dele cantar junto com a multidão que estava cada vez mais ganha pela adesão à proposta de paz: “Uvchen Tashiru Shir La Shalom!” (“Portanto, cantem uma Canção à Paz!”).
No poder, passando pelas mãos do carniceiro de Sabra e Shatila (general Ariel Sharon) para as do assassino em série de Gaza (Netanyahu), o projeto sionista da direita israelense passou a ser ampliar o assalto de terras palestinas, o que desembocou no genocídio na Faixa de Gaza e na atual aterrorização massiva perpetrada pelos colonos judeus na Cisjordânia.
Em suma, Netanyahu extrapola todos os limites para consolidar o Estado racial, colonial e teocrático.
Prejuízo não só aos palestinos, não só aos judeus, mas a toda a humanidade
Além dos crimes de lesa-humanidade praticados em nome do judaísmo pelo poder sionista, essa corrente acaba de provocar danos e atraso em diversas partes do mundo. Assim tem sido na adesão total aos interesses do imperialismo estadunidense no Oriente Médio; assim foi no Iraque, apoiando o separatismo curdo; na África do Sul, ao se negar a romper com o apartheid e fornecendo armas ao regime discricionário até seus estertores.
Assim também como ocorreu no Brasil, ao conduzir a maioria da comunidade judaica a apoiar Bolsonaro por sua visão acrítica do regime israelense e hostil ao povo palestino; na campanha pela deposição do mais consequente dos líderes trabalhistas ingleses, Jeremy Corbyn, por seu apoio à causa palestina; na campanha contra a candidatura do comunista descendente de palestinos, Jadue, à presidência do Chile, para citar alguns exemplos.
Resistir e vencer o fascismo de Netanyahu e abrir negociações de paz ou poderá ocorrer a destruição do Estado de Israel
A continuidade do planificado genocídio em Gaza por meses a fio, como querem os nazifascistas no poder em Israel, poderá levar ao fim desse Estado, alerta o jornalista Chris Hedges, vencedor do Prêmio Pulitzer, correspondentes no Oriente Médio para o The New York Times por 15 anos: “Israel não escapará das consequências deste massacre nessa escala”.
Um massacre que já tirou a vida de mais de 20 mil palestinos, 70% dos quais mulheres e crianças, deixa 2,3 milhões de palestinos à mercê da fome e dos bombardeios, das doenças contagiosas como sarna, piolho, diarreia e meningite, destruição de toda a infraestrutura, incluindo moradias, escolas, hospitais e postos de saúde; portanto, sem postos de saúde que os possam socorrer, no limiar de um dos momentos mais sombrios da humanidade, como têm alertado especialistas da ONU.
Antes do ataque do Hamas de 7 de outubro e desse morticínio, contra o qual a resistência palestina se mantém e ganha crescente respaldo mundial, a sociedade judaico-israelense, mesmo ainda impregnada por aspectos essenciais da fantasia colonialista sionista, começava a se mover, como aconteceu durante 40 semanas consecutivas nas quais milhões tomaram as ruas por todo Israel pedindo a saída de Netanyahu, que estava empenhado em desmontar o poder independente, ainda que limitado, do Judiciário em Israel, para levar ao predomínio do nazifascismo encharcado de visão messiânico-teocrática.
Além das manifestações de massa que vêm ocorrendo no mundo inteiro contra o genocídio, a comunidade judaica contra essa tragédia também se movimenta. Espalham-se mundo afora, exigindo cessar fogo imediato, manifestações pelas mais diversas comunidades judaicas, como ocorre em São Paulo e Rio, ou como os atos de milhares de judeus nova-iorquinos e de outras cidades estadunidenses e bradam: “Não em nosso nome”. Ao mesmo tempo, ocorrem manifestações no acampamento dos familiares dos sequestrados ainda em mãos do Hamas, com milhares voltando a ocupar as ruas para ouvir lideranças como o general Yair Golan ou o ex-premiê Ehud Olmert exigindo a saída de Netanyahu, o cessar-fogo e a abertura de negociações de paz com a Autoridade Nacional Palestina.
É claramente uma percepção de destruição humana sem precedentes desde o fim da Segunda Guerra que tem levado o presidente Lula a pedir o fim do genocídio em Gaza, a quem se juntaram desde o respeitado ministro do Exterior russo Sergey Lavrov, passando pelo turco Erdogan, a líder do partido Sinn Fein na Irlanda, o ex-presidente do Partido Trabalhista inglês Jeremy Corbyn e até o dirigente francês Emmanuel Macron, que nisto se une ao opositor Melenchon.
Portanto, a salvação para os israelenses reside em garantir a conquista da paz, o que só será possível se o Estado de Israel suspender imediatamente o genocídio, contribuir para a reconstrução das cidades e equipamentos que destruiu, concordar com o retorno dos palestinos refugiados desde 1948 e deixar de sabotar a resolução da ONU que estipulou a criação de dois Estados: um judeu e outro palestino.
Mas isso será impossível enquanto estiver no comando do país esse grupo nazifascista dirigido pelo genocida Benjamin Netanyahu.
Aqui alertamos que será mais difícil isolá-lo e defenestrá-lo, apesar de toda a rejeição a ele que cresce dentro de Israel, enquanto “ativistas pela paz” e “internacionalistas de esquerda” seguirem escrevendo longos textos para justificar suas atrocidades, o que, como vemos, só faz crescer o antissemitismo e o isolamento que põem em risco a própria sobrevivência do Estado de Israel.
Testemunho desse risco é que, conforme o jornalista já citado Chris Hedges, está havendo um forte êxodo dos judeus de Israel para outras plagas: no período recente; só para os EUA foi cerca de um milhão de judeus israelenses; 470 mil saíram depois de 7 de outubro até meados de dezembro.
Para reflexão final, destacamos que, com o amplo isolamento interno e internacional do governo nazifascista de Netanyahu, os acordos firmados entre Arafat e o premiê israelense Ytzhaq Rabin, apesar de suas limitações, são indícios de que pode ser aberto um caminho para a superação do conflito entre israelenses e palestinos, o que implica o fim da ocupação dos territórios palestinos e árabes em geral, assim como a negociação em torno da reparação e retorno dos palestinos refugiados da Nakba (a Catástrofe) de 1948 e da atual Segunda Nakba (a Catástrofe em Gaza), o estabelecimento do Estado palestino, retirada da recente legislação discriminadora e excludente denominada Estado-Nação que permite apenas aos judeus o anseio por autodeterminação, passando pela troca de prisioneiros palestinos pelos israelenses sequestrados, incluindo a libertação do denominado Nelson Mandela palestino, Marwan Barghouti, ex-presidente do Fatah na Cisjordânia e encarcerado por Israel há já 20 anos, condenado a cinco prisões perpétuas pelos tribunais coloniais israelenses, com o objetivo de criar o Estado da Palestina..
Estamos conscientes de que esse é um caminho muito árduo e complexo e, portanto, de difícil implementação, dada a cultura do expansionismo colonialista do poder em Israel. Talvez já seja tarde demais para levar adiante esse caminho e pode se tornar mais difícil ainda quanto mais avançar a barbárie. Mas, mediante nosso compromisso de enfrentar o nazi-fascismo, vale apostar e trabalhar nessa direção, pois pode abrir uma janela com o crescente isolamento interno e internacional de Netanyahu e seus aliados e comandados. Ou as pessoas israelenses de boa-vontade, que não estão de acordo com o genocídio praticado por seu governo contra o povo palestino – que, em efeito de bumerangue, acaba rebatendo sobre elas – se dispõem a trabalhar nessa direção ou o destino de Israel será trágico, como prevê o jornalista Chris Hedges.
*Doutor em Economia pela Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), com pós-doutoramento na USP; Diretor da Fundação Maurício Grabois e do Instituto Claudio Campos; presidente do Sindicato dos Escritores no Estado de São Paulo; autor de vários livros, artigos e ensaios sobre economia brasileira, latino-americana e mundial.
**Vereador na capital sergipana de Aracaju, 1982/1988; Engenheiro-operacional elétrico graduado no Instituto Tecnológico de Haifa, Israel, (Technion); graduado em História e pós-graduado em Docência do Ensino Superior (Uninove); autor do livro “O apartheid de Israel”; integrante do secretariado da Aliança Comunista Revolucionária (com atuação de judeus e árabes contra a ocupação e a discriminação de árabes em Israel e Palestina 1969 a 1974); candidato a deputado federal para o Knesset (parlamento israelense) pela lista Socialista Revolucionária; editor internacional do jornal Hora do Povo e secretário do Sindicato dos Escritores do Estado de São Paulo