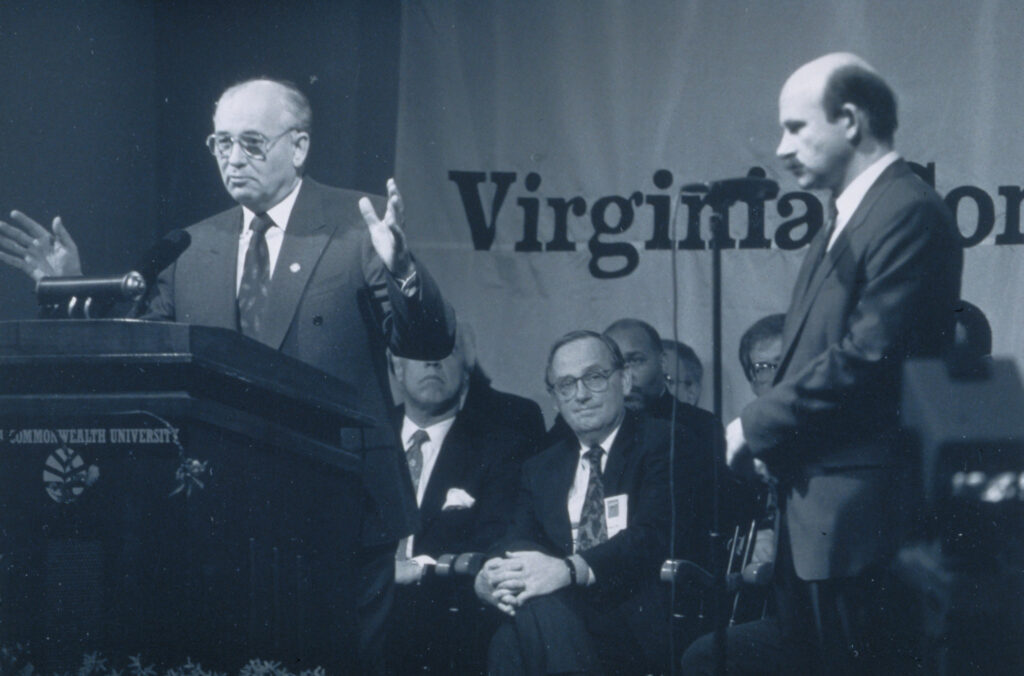Nos dias 28 de abril a 1º de maio, realizou-se em São Paulo, nos auditórios do hotel Hyatt, dois eventos internacionais relacionados à internet que podem estar indicando a emergência de algum novo processo político mais centrado em debater e enfrentar os reais problemas sociais e políticos que, por meio da internet (mas, não “por causa”), estão afetando as democracias liberais e a própria Civilização como a entendemos. Esses problemas costumam ser sintetizados e rotulados em expressões tais como “desinformação”, “desordem informacional”, “integridade da informação” ou, simplesmente, ‘fake news’.
Mas para além, ou mais fundo, do debate na superfície, essas palavras expressam, por um lado, as deformações políticas e culturais socialmente produzidas pelos modelos de negócios das plataformas sociodigitais (mais conhecidas por ‘big techs’) que colonizaram a internet; e, por outro, as enormes dificuldades que os Estados nacionais, através de seus poderes constituídos, e o próprio sistema de Estados nacionais, em cujo topo está a ONU, vêm tendo para lidar com o enorme poder político e econômico mundialmente conquistado por aquelas plataformas. Um bom exemplo do tamanho desse poder, foi a agressivamente desrespeitosa ofensiva política de um mero, ainda que multibilionário empresário, Elon Musk, a uma autoridade legitimamente constituída do Brasil, o ministro do STF, Alexandre de Morais.
Esses dois eventos, coincidentes nas datas e local, em princípio eram distintos em seus objetivos e seus promotores. Iniciado no dia 28 e encerrado em 30, o ‘NET Mundial + 10’, foi um grande fórum reunido para avaliar a evolução da “governança” da internet dez anos depois de realizado, também em São Paulo, o primeiro ‘NET Mundial’. Iniciado no dia 30 e encerrado no 1º de maio, o ‘Diálogo G-20 – Integridade da Informação’ foi um grande fórum organizado pela Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, para debater e formular propostas sobre a “integridade da informação” a serem endereçadas à Cúpula do G-20 prevista para realizar-se no Rio de Janeiro, em novembro próximo. A coincidência de data e local; além de uma certa convergência temática, permitiu que muitos dos participantes num dos eventos também participasse do outro. Porém, nos tempos entrecruzados do imenso auditório do suntuoso hotel, parece que, dez anos depois, dois caminhos divergentes se estavam abrindo para os dez anos à frente. Este artigo buscará apresentar e comentar essa possível bifurcação que os fatos futuros confirmarão, ou não.
Um pouco de história
Compreender o que pode ter significado esses eventos em relação à evolução da internet e sua relação mediadora com a sociedade, pede, inicialmente, algum comentário sobre as estruturas que comandam, de fato, essa evolução.
Como todos sabemos, a internet nasceu como projeto militar estadunidense, financiado pelo Pentágono, nos anos 1970-80. Ela se expande a partir de uma comunidade científica intimamente relacionada com o complexo industrial-militar dos Estados Unidos, coincidindo, num contexto maior, com a ascensão e hegemonia do programa político, econômico e ideológico neoliberal, paralelo à derrocada da União Soviética e seu entorno socialista. Esse contexto maior não costuma ser lembrado mas não deveria ser esquecido quando se busca entender os impasses da internet hoje em dia. Idéias-força como “desestatização” e “mundo sem fronteiras” moldaram as instituições que levariam a internet para todo o mundo. Grandes partidos com forte base social nas categorias trabalhadoras entram em declínio ou aderem, porque “não há alternativa”, às políticas neoliberais. Também perdem filiados e influência, os sindicatos de trabalhadores. Ao contrário, expandem-se as “organizações não-governamentais” (ONGs) pretendendo representar uma “sociedade civil” cada vez mais fragmentada em múltiplas “identidades”, cada vez menos identificada à universal condição social de trabalhador(a). Num pronunciamento em 1978, o magnata Nelson Rockefeller III identificaria essa “sociedade civil” a um “Terceiro Setor”, além do Estado e do setor privado com fins lucrativos: seria um setor privado não movido porém por finalidades lucrativas mas sim voltado a pressionar o Estado visando atendimento de segmentadas demandas sociais[1].
Na segunda metade dos anos 1990, a internet já se expandira para muito além da sua comunidade acadêmica original, inclusive começava a penetrar, sem pedir licença, em outros países, dentre eles o Brasil. Também começava a ser invadida por investidores que enxergavam o seu potencial de lucro num mercado totalmente desregulado. Ocorrem as primeiras experiências de negócios que levariam, no final do século passado ou no início deste, às exitosas histórias do Google, Facebook, Amazon, Apple e outras.
Até então, a evolução e gestão da internet estava sob estreita direção do Estado estadunidense, através do Pentágono, da Fundação Nacional de Ciência (NSF) e do Departamento do Comércio. Em 1998, sob a presidência de Bill Clinton, o governo transfere sua gestão e evolução para uma entidade privada nominalmente sem fins lucrativos: a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN. Dirigida por cientistas oriundos do núcleo pesquisador original, ela recebe sua delegação, por contrato, do Departamento de Comércio, sendo constituída nos termos da legislação do Estado da Califórnia. Ao mesmo tempo em que se tornava uma infra-estrutura sociotécnica internacional, a internet se tornou uma instituição privada… porém, sob o guarda chuva das leis e do governo dos Estados Unidos.
Esta situação começou a incomodar alguns países. Não o Brasil de Fernando Henrique Cardoso. Ao contrário: em 1995, seu ministro Sergio Mota emitiu uma portaria conhecida como “norma 4” que definia a internet que ainda mal chegava entre nós, como um “serviço de valor adicionado”, não devendo por isto ser fornecido por operadoras de telecomunicações, mas por prestadores privados de serviços provedores de acesso. Detalhe: àquela época, as telecomunicações brasileiras ainda estavam sob o monopólio constitucional da União. A Embratel estava se preparando para, com base na sua poderosa e nacionalmente bem distribuída infra-estrutura de cabos e satélites, conectar-se à internet estadunidense e passar a oferecê-la no país. “Serjão”, como era conhecido, deu um passo decisivo para a privatização, também, da internet brasileira.
Em 2003, a ONU, através da União Internacional de Telecomunicações (UIT), entidade a ela filiada que congrega as operadoras e as indústrias fornecedoras de sistemas de telecomunicações, organizou um grande encontro em Genebra, intitulado ‘Cúpula Mundial da Sociedade da Informação’ (CMSI). O motivo por trás do evento, mobilizado com expressões tais como “superar o fosso digital” (“digital divide”), “universalizar a internet” e similares, era abrir ou fomentar mercados para a venda de equipamentos de telecomunicações e informática, sobretudo nos países ainda mal atendidos da periferia capitalista, agora renomeada “Sul Global”. Dois anos depois, em Tunis, reúne-se a segunda CMSI. Para esses encontros, acorre o “Terceiro Setor” com pautas em defesa do livre acesso à informação e conhecimento; da diversidade linguística e cultural; direitos humanos; nos marcos do “neoliberalismo progressista”, expressão que ainda seria cunhada anos depois por Nancy Fraser[2]. Alguns governos manifestaram preocupação relativa ao controle da internet pelos Estados Unidos. O empresariado das comunicações, por sua vez, estava muito preocupado, entre outras questões, com a “pirataria” que então invadira as redes graças ao protocolo BitTorrent e ao MP3. No palco desses desencontros nasce o conceito que iria dominar a evolução da internet nas décadas seguintes: multissetorialismo.
Como a sociedade, superada, pelo jeito, a divisão em classes sociais e países dominantes e dominados, passou a ser dividida entre aqueles três setores definidos por Rockefeller, a internet deveria ser governada, ou melhor, ficar sob a compartilhada “governança” (não falemos de governo!) desses atores. A eles, junte-se um quarto: a “comunidade técnica”, ou “academia”. Em 2006, sob auspícios da ONU e como um dos resultados das CMSIs, realizou-se, em Atenas, o primeiro ‘Fórum Global da Internet’ (IGF). De lá para cá, a cada ano, em alguma cidade, país e continente diferente, rotativamente, já se realizaram 18 IGFs.
Enquanto os IGFs mobilizavam debates e mais debates sobre direitos humanos e outros direitos; no mundo real, de forma acelerada, consolidavam-se o Google (hoje Alphabet), o Facebook (hoje Meta), a Amazon, a Apple, a Microsoft – conjunto conhecido sob a sigla GAFAM. Edward Snowden denunciou a espionagem da NSA através dos sistemas dessas grandes corporações. Eclode o escândalo da Cambridge Analytica: ficamos sabendo que eleições democráticas podem ter seus resultados enviesados através das “redes sociais”. E o mundo é invadido pela “desinformação” e “fake news”, impulsionadas pelo dinheiro dos irmãos Koch e Steve Bannon, muito facilitadas pelos modelos de negócios daquelas plataformas. A partir de algum momento, estes deveriam ser os pontos centrais em qualquer grande debate sobre a internet e, de fato, cada vez mais, a partir da terceira década do século XXI, começam a se impor à agenda de parlamentos e judiciários em distintos países, dentre eles o Brasil. O Estado começa a se dar conta que não pode seguir ignorando o fenômeno da internet.
Se a difusão maciça de mensagens de ódio, obscurantistas, negacionistas através das assim chamadas “redes sociais” expressa, a rigor, profundos ressentimentos e frustrações das camadas trabalhadoras vitimadas pelo capitalismo neoliberal, reduzidas à precarização ou “uberização”; sua mobilização, nas “redes sociais”, se deve a um projeto explícito organizado e financiado por especuladores financistas que enxergaram aí a oportunidade de submeter as democracias liberais aos seus interesses anarcoliberais – um capitalismo totalmente desregulado, totalmente entregue ao cassino financeiro da Nasdaq e Wall Street[3].
Na conveniente legislação estadunidense nascera o princípio da “inimputabilidade dos provedores”: o que circula pelas plataformas é da responsabilidade de quem posta, não de quem distribui. Parte do mundo começou a entender que não é bem assim, sobretudo porque tamanha liberdade descontrolada passou a ameaçar as regras consagradas, também os poderes estabelecidos, do jogo democrático. A reação começa na Europa, ou parte dela (não falemos da China pois lá o regime é “autoritário”). A União Européia aprova leis visando submeter as desreguladas plataformas sociodigitais estadunidenses a alguma regulação: proteção à privacidade dos indivíduos; transparência quanto aos usos dos dados pessoais pelas plataformas; promoção de maior concorrência nos mercados digitais, entre outros pontos. Legislações similares começam a ser debatidas e, em alguns casos, já foram aprovadas em países como Austrália, Canadá, Índia, África do Sul, também no Brasil, entre outros. E assim chegamos aos encontros em São Paulo.
A hora e vez da ONU
Certamente na onda dessa crescente intervenção dos estados nacionais nos rumos, não tanto da internet em si, mas do ecossistema político-econômico que se assentou concretamente sobre sua infra-estrutura, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, lançou uma iniciativa para trazer aquele debate para o seu lugar multilateral: o Global Digital Compact, publicado em maio de 2023. Trata-se de um documento de 32 páginas que, formalmente, acusa a persistente exclusão social de boa parte da humanidade dos benefícios da internet e tecnologias digitais; afirma que a internet deve ser entendida como um bem público; defende que o “espaço online” deva ser seguro e confiável para todos e todas que nele interagem. Não deixa de acusar: “o desligamento da internet por governos, a vigilância de dados pelos governos e os modelos de negócios predatórios colocam em sérios riscos os direitos humanos. Desinformação, discursos de ódio e atividades criminosas no ciberespaço aumentam os riscos e os custos para quem quer que esteja conectado”.
Após os devidos diagnósticos, sem ignorar as necessárias referências e deferências ao “multissetorialismo”, Guterres propõe estabelecer um Fórum de Cooperação Digital ao qual caberia implementar as propostas apresentadas em seu documento, tendo por meta organizar um “Summit on the Future” até 2025.
Um ano depois, abril de 2024, um novo relatório, assinado pelos representantes na ONU da Suécia e Zâmbia, anteriormente indicados para conduzir os desdobramentos da proposta inicial, reconhece o papel da Secretaria Geral da ONU na liderança da constituição de um “amplo sistema colaborativo” de coordenação das “tecnologias digitais e emergentes”, recomendando à Assembléia Geral da ONU “estabelecer junto ao Secretariado, um departamento (“office”, no inglês original) para coordenar as tecnologias digitais e emergentes (trata-se da IA), baseado no detalhamento de suas funções operacionais, com estrutura, recursos e pessoas (‘staffing’), inclusive meios (‘provisions’) para estar presencialmente ligado a Genebra”.
Observe-se que todos esses documentos, apesar de algumas referências ao problema da “desinformação” e dos “discursos de ódio”, evitam ciosamente pôr o dedo na ferida: os modelos de negócios das plataformas sociodigitais e quem financia o impulsionamento daqueles discursos.
“Integridade da informação”
O segundo evento marcante em 2023 foi o lançamento, em setembro, pelos governos do Canadá e da Holanda, da ‘Declaração Global sobre a Integridade da Informação Online’. Não demorou, outros 20 países, inclusive o Brasil, subscreveram o documento. Aparentemente do nada, uma expressão própria da Engenharia[4], é lançada no debate para articular mundialmente as forças políticas da democracia liberal visando reagir à epidemia de “desinformação” que ameaça essas democracias. Com tão ilustres patrocinadores, o novo conceito não poderia deixar de entrar na agenda do G-20: o governo brasileiro entendeu a oportunidade, daí a reunião promovida em São Paulo.
Conforme o documento, devemos entender “integridade da informação” como um “ecossistema informacional que produza informação precisa, confiável e fidedigna, significando que as pessoas possam confiar na precisão da informação à qual têm acesso, ao mesmo tempo que estejam expostas à variedade de idéias. Pelo uso da expressão ‘integridade da informação’, queremos oferecer uma visão positiva de um vasto sistema informacional que respeite os direitos humanos e sustente sociedades abertas, seguras, prósperas e democráticas”.
Este artigo não tem por objetivo discutir a “precisão” desse conceito. Importante, aqui, é destacar estarem os governos, logo os Estados nacionais, reassumindo seu devido lugar na discussão e encaminhamento de soluções reais e concretas, para problemas políticos, econômicos e culturais que afligem, se não o conjunto, uma boa parte da Humanidade, e que vinham se acumulando até agora sem encontrar soluções necessárias e adequadas na estrutura “multissetorial” vigente. Os debates em São Paulo, mesmo que um tanto cuidadosos, como seria de se esperar, já iluminaram a questão maior: “desinformação” ou “integridade da informação” não podem ser entendidas fora do contexto econômico que as viabiliza. Como tal, trata-se de uma agenda que somente poderá avançar se decididamente encarada pelos poderes institucionais dos Estados nacionais. Os governos representam a sociedade ou, como já explicou Antonio Gramsci, constituem a “sociedade política” em torno da qual se organiza e sobre a qual age a “sociedade civil”. Se esta, conforme organizada, deve pressionar o governo e outros poderes do Estado, cabe ao governo e a estes outros poderes pôr em prática, inclusive, se necessário, com instrumentos dissuasórios, aquilo que a sociedade, neles representada, determinou fazer. Governo e sociedade civil não se situam, como pretenderia Rockefeller, num mesmo plano horizontal de relações mas em níveis lógicos e políticos hierarquicamente diferenciados, ainda que em necessária interação.
E o “terceiro setor”?
A realização praticamente simultânea do ‘NET Mundial + 10’ com o ‘Diálogo G-20’ sobre “integridade da informação” acabou, sem que fosse essa a intenção, ressaltando o contraste entre um fórum de debates e outro: enquanto o encontro convocado e organizado pelo governo brasileiro, no contexto e visando o encontro de governos no G-20, debatia um dos mais sérios problemas atuais da internet, o outro se concentrou quase exclusivamente na defesa do (seu) modelo “multissetorial”.
Os dois dias de debates quase nada se referiram às plataformas sociodigitais; a seus modelos de negócios; suas fontes de financiamento; muito menos aos trabalhadores “uberizados” ou empregados nos armazéns da Amazon, que, parece, não se enquadram na categoria de “minorias” ou “grupos vulneráveis”. Centraram-se em criticar o que consideram ser uma possível multiplicação dos espaços de debate e na enfática defesa do modelo “multissetorial”.
A declaração final começa destacando que “as tecnologias” estão abrindo grandes oportunidades para acelerar o desenvolvimento econômico e social da humanidade, combater desigualdades, construir sociedades mais inclusivas. Mas, ao mesmo tempo, se não forem gerenciadas conforme a lei internacional, inclusive os direitos humanos, “poderiam produzir incertezas, inseguranças, assimetrias de poder, entre e dentro de países e economias, aprofundar divisões”, etc. “Poderiam produzir” (“could also bring”), ainda não produziram…
A “tecnologia” é o sujeito da frase… e da história. Não os poderes dominantes na nossa sociedade. É determinismo tecnológico que chama?
Mais adiante, refletindo o conjunto dos debates, o documento afirma:
“Para fortalecer os espaços multissetoriais de participação é necessário implementar mecanismos para construir consensos e produzir linhas de ação e recomendações de tal modo que as vozes das comunidades tenham impacto nos processos decisórios multilaterais e em outros processos de decisão, de modo a encontrar efetivas soluções para as ameaças com as quais nos defrontamos”.
Reconhece mais à frente que “existem persistentes preocupações quanto a muitos processos de governança estarem fracassando na aplicação do princípio multissetorial”. Mas isto se deve especialmente à ausência de participação inclusiva e significativa de todos os atores interessadas (stakeholders). Incluir todas os relevantes atores nos processos de decisão, em genuíno pé de igualdade, pode ser de fato um fator decisivo para evitar a falência (do modelo).
Em 2022, a receita operacional da Alphabet foi de USD 282,8 bilhões. Fosse um país, seria o 48º PIB do mundo, equivalente ao da Finlândia, superior ao de Portugal. Somadas as receitas da Alphabet e da Meta, equivaleria ao PIB da Dinamarca em 41º lugar: USD 399,4 bilhões. A Alphabet teve lucro líquido, em 2023, de USD 74 bilhões. A Meta, de USD 39 bilhões. Para se ter uma idéia das dimensões desses valores embolsados por um punhado de financistas nos Estados Unidos e alhures, o saldo da balança comercial brasileira, em 2023, foi de USD 99 bilhões. Os defensores do multissetorialismo, no entanto, querem acreditar que se pode relacionar em “pé de igualdade” com empresas dessas dimensões. Acrescente-se que entre os atores interessados ou “stakeholders”, estão governos como os dos Estados Unidos que, entre outros feitos, espiona, quando quer, milhões de cidadãos e cidadãs, inclusive governos, como os da Alemanha e do Brasil, conforme denunciou Edward Snowden. Mas o grande problema da internet é que os “stakeholders” não participam em pé de igualdade…
Por fim, manifesta-se o objetivo do encontro: o documento adverte que “iniciativas distribuídas” arriscam “separar as discussões” e podem até “criar incompatíveis ou conflitivas conclusões”. Serão maiores as dificuldades para os “stakeholders” acompanharem processos “simultâneos e duplicados”, sobretudo para os “stakeholders” do “Sul Global”.
Portanto,
“É muito importante evitar a fragmentação e duplicação de foros de modo a garantir que a governança da internet e os processos de política digital possam ser efetivos. Em vez disso, é necessário melhor coordenar os processos que tratam de questões sobrepostas. O Fórum de Governança da Internet pode atender a esta necessidade, reforçando as suas funções de coordenação e compartilhamento de informações. Deve também servir de instância de acompanhamento dos acordos multilaterais de política digital, dado o seu amplo mandato. O caráter aberto do IGF, a sua abordagem híbrida, seus processos intersessionais, suas conexões com iniciativas locais, regionais e nacionais, e sua concepção inclusiva tornam-no adequado a estas responsabilidades”.
Era este o recado: o NET Mundial visou produzir um manifesto em defesa da manutenção dos espaços de discussão de uma comunidade “global”, sobretudo a “sulglobalizada”, se couber este termo, que veio se constituindo desde a primeira CMSI, ignorando tudo em que, de lá para cá, se transformou a internet real.
Concluindo
Embora pisando em ovos, o ‘NET Mundial + 10’ teve que reconhecer estar em crise o modelo “multissetorial”. Está em crise porque a realidade política e ideológica que lhe permitiu florescer décadas atrás foi superada pelo desenrolar acelerado do processo histórico. Estados Unidos não detém mais aquela hegemonia incontestável que detinham ao final do século XX. As promessas do projeto neoliberal, no qual parecia caber a narrativa de uma internet socialmente igualitária, deram origem a um mundo ainda mais profundamente miserável e excludente, do qual emergiram movimentos políticos reacionários, obscurantistas, negacionistas, “anti-sistêmicos”, que encontraram nas estruturas empresariais montadas sobre a internet o “ecossistema” ideal para se articular, organizar e assim ameaçar as democracias liberais. Estas, ao que parece, já perceberam os limites do “multissetorialismo”. Já entenderam que as plataformas sociodigitais – um “stakeholder” mais poderoso até do que muitos Estados nacionais – precisam ser postas sob rédeas curtas, embora, talvez, ainda não tenham chegado a um grande acordo – que só pode ser multilateral – sobre a melhor forma de fazer isso.
É onde a ONU pode pretender entrar. O “Compact” sugere que está em curso a criação de uma nova agência internacional para governar – usemos a palavra certa! – a internet, portanto tudo o que acontece acima dela. Funcionaria como tantas outras: OMPI, UIT, OMC, OIT, foros multilaterais com mandatos reais para tomar e implementar decisões através dos poderes constituídos de seus estados membros, nos quais a sociedade civil (gramsciana) também tem o seu lugar. A referência a Genebra, na nota técnica redigida por Suécia e Zâmbia, é sugestiva pois nessa cidade, à volta do antigo e suntuoso palácio da outrora Liga das Nações, situam-se os escritórios centrais daquelas organizações.
O menor dos problemas que Guterres terá pela frente será a resistência do “terceiro setor” e seu IGF. Muito mais forte serão a oposição das ‘big techs’ e, em especial, do governo dos Estados Unidos. Afinal, como ficaria a ICANN nesse roteiro? Nem nos documentos, nem nos debates, ao menos nos públicos, se lhe faz qualquer referência.
O “multissetorialismo”, nesse cenário, tem futuro? Certamente, sua militância ainda tem muito tempo de vida pela frente e a ONU recursos suficientes para seguir promovendo IGFs por ainda muitos anos. Mas os problemas realmente centrais, de natureza econômica e política, serão decididos nas mesas de negociação dos Estados – e da ONU, se o movimento de Antonio Guterres vier a ter sucesso, algo a ver. No Estado está situada a arena de disputa, já ensinou Poulantzas[5]. Se a sociedade civil real, que inclui e organiza as diferentes camadas de trabalhadores e trabalhadoras, hoje em dia fragmentadas e precarizadas pelos arranjos produtivos “globais”, inclusive os modelos de negócios das ‘big techs’, souber se organizar para invadir essa arena, o processo poderá tomar rumos de fato democráticos. Por enquanto, é fato, por este caminho que acaba de receber suas primeiras camadas de asfalto em São Paulo, estão se movimentando apenas as contradições entre as instâncias jurisdicionais dos Estados nacionais, particularmente os europeus mas não ignorando China, Rússia, alguns outros, e os bilionários interesses financeiros das ‘big techs’.
_________________________________
[1] Carlos Montaño, Terceiro Setor e questão social: crítica ao padrão emergente de intervenção social, São Paulo: Cortez, 2002
[2] Nancy Fraser, “The End of Progressive Neo Liberalism”, Dissent, 2/01/2017, https://www.dissentmagazine.org/online_articles/progressive-neoliberalism-reactionary-populism-nancy-fraser/
[3] Giuliano da Empoli, Os engenheiros do caos, São Paulo, SP/Belo Horizonte, MG: Vestígio, 2019; Marcos Dantas, “Dois anos de desgoverno – bolsonarismo e capitalismo lúmpem”, A Terra é redonda, 19/04/2024, https://aterraeredonda.com.br/dois-anos-de-desgoverno-bolsonazismo-e-capitalismo-lumpem/
[4] Marcos Dantas, “A matemática da desordem informacional”, A Terra é redonda, 5/05/2024, https://aterraeredonda.com.br/a-matematica-da-desordem-informacional/
[5] Nikos Poulantzas, O Estado, o Poder e o Socialismo, São Paulo: Paz e Terra, 2000
Publicado originalmente em Nic.br
********************
Marcos Dantas é Professor Titular (aposentado) da Escola de Comunicação da UFRJ, professor e pesquisador dos Programas de Pós Graduação em Comunicação e Cultura (ECO-UFRJ) e em Ciência da Informação (IBICT-ECO/UFRJ). Foi por três mandatos consecutivos um dos representantes da comunidade acadêmica no Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.Br). É membro do Conselho de Administração do Núcleo de Informação e Comunicação do Ponto BR (NIC.Br). É presidente da Fundação Maurício Grabois – Seção Rio de Janeiro.
Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.