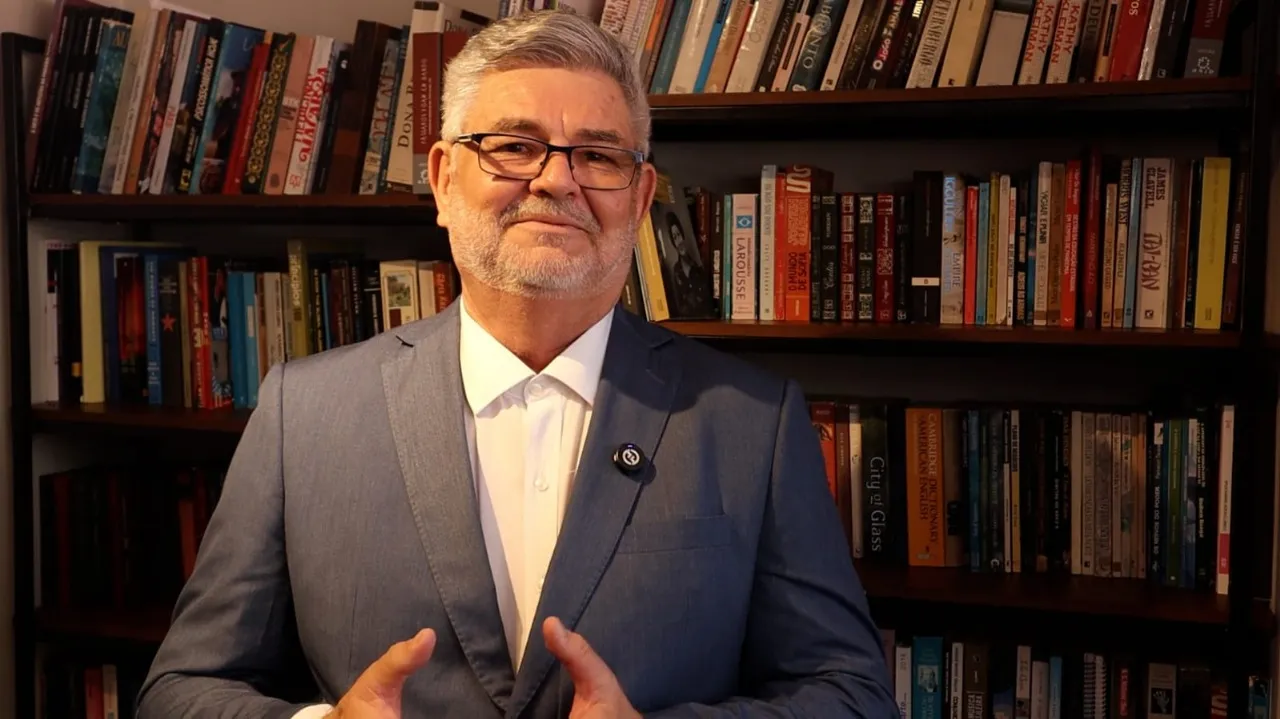O capital digital-financeiro (Parte II) – A lógica capitalista de produção de valor e acumulação deslocou-se dos processos de transformação industrial, como era na época de Marx e ainda por boa parte do século XX, para os processos de trabalho de captura, organização, registro, comunicação de informação. Trabalho informacional.O atual motor do capitalismo são as indústrias de comunicação, logo o trabalho que elas comandam e do qual extraem mais-valor, também as indústrias de base científico-técnicas, como as biotecnológicas e farmacêuticas ou as “digitais”, logo o trabalho que comandam em seus laboratórios, não nas unidades altamente automatizadas de processamento material.
Este artigo, nos seus limites de espaço e escopo, não poderá abordar todos os problemas relacionados à produção de mais-valor nas indústrias científico-técnicas ou nas que envolvem cinema, literatura, música, esportes, o espetáculo, em geral, como discutido há já mais de meio século por Guy Debord1. Mas a essência do problema – que nos permitirá adiante retornar à lógica financeira das PSDs – também podemos buscar em Marx. Basta lê-lo.
Registra ele no capítulo 1 da seção 1 do Livro II d’O Capital:
Existem ramos autônomos da indústria, nos quais o produto do processo de produção não é um novo produto material, não é uma mercadoria. Entre eles, economicamente importante é apenas a indústria de comunicação, seja ela indústria de transportes de mercadorias e pessoas propriamente dita, seja ela apenas de transmissão de informações, envio de cartas, telegramas etc.
[…]
O que porém, a indústria de transporte vende é a própria locomoção. O efeito útil acarretado é indissoluvelmente ligado ao processo de transporte, isto é, ao processo de produção da indústria de transportes. […] O efeito útil só é consumível durante o processo de produção; ele não existe como coisa útil distinta desse processo, que só funcione como artigo de comércio depois de sua produção, que circule como mercadoria. Mas o valor de troca desse efeito útil é determinado, como o das demais mercadorias, pelo valor dos elementos de produção consumidos para obtê-lo (força de trabalho e meios de produção) somados à mais-valia, criada pelo mais-trabalho dos trabalhadores empregados na indústria de transportes2.
Por isto, acrescenta Marx, a fórmula para a indústria de transporte é D – M …P – D’, “já que é o próprio processo de produção, não um produto separável dele, que é pago e consumido”.
Temos aí um modelo de processo produtivo no qual a mercadoria não está presente como mediação entre o trabalho produtor de valor e sua realização em dinheiro contendo mais-valor. Embora Marx se refira ao transporte de mercadorias e ao de “informações”, ambos incluídos no mesmo setor da “indústria de comunicação”, seria natural, na sua época, que ele desse algum espaço, mas não muito, para o transporte de mercadorias e praticamente nenhum para o de “informações”. Também afirma que o trabalho aí produz mais-valor, porém não examina como. Nos Grundrisse, ele chega a fazer alguns exercícios com trabalhadores em estrada e com marinheiros mas não chega a resultados conclusivos, não se interessando em retomá-los n’O Capital.
Além da menor relevância econômica desses setores no século XIX, faltava a Marx, para explicar um processo produtivo específico que tão bem percebeu, um ferramental teórico que só seria desenvolvido na segunda metade do século XX: a teoria científica da Informação. É com o apoio dela que estamos desenvolvendo este artigo.
Como Marx registrou nos Grundrisse, “anular o espaço pelo tempo” é uma necessidade do capital3. A realização do valor, contendo mais-valor, exige do capital encurtar, se possível a um tempo no limite de zero, o tempo total de circulação, tempo este que abrange a própria produção: “o processo de circulação do capital é, portanto, unidade de produção e circulação”4.
Quanto mais as metamorfoses de circulação do capital forem apenas ideais, isto é, quanto mais o tempo de circulação for = zero ou se aproximar de zero, tanto mais funciona o capital, tanto maior se torna sua produtividade e autovalorização5.
E Marx não conheceu a internet… Por que logram, como nunca antes, reduzir os tempos totais de circulação, sobretudo do dinheiro, ao limite de zero, as PSDs se posicionaram no centro motor do capital-informação contemporâneo.
Você compra blusinhas na China, pela plataforma Shein. Em nanossegundos, a sua dívida no cartão de crédito já está circulando no mercado de dinheiro. E a sua blusinha chegará às suas mãos vinda de um lugar tão distante quanto a China em apenas alguns poucos dias. Da blusinha mesmo, até ela chegar à sua residência, você só conheceu a fotografia digitalizada, ou seja, o signo icônico, que dela viu na sua tela de computador ou celular. Mas confia. E o dinheiro (que não lhe pertence, mas ao banco proprietário do seu cartão de crédito) foi reduzido a bits circulando nas redes das instituições financeiras. Assim caminha a humanidade… ou o capitalismo.
Trabalho, fonte de valor
Se as PSDs, leiloando dados, obtém lucros bilionários, elas naturalmente detêm alguma fonte de mais-valor6. Essa fonte, por princípio, só pode ser trabalho. Quem produz os dados?
Como em qualquer outra indústria, as PSDs integram uma cadeia produtiva. Engenheiros(as) do Google ou do Facebook e Instagram especificam ou projetam os seus sistemas de computação, mas não são fabricantes de computadores e de boa parte da parafernália necessária ao funcionamento das máquinas. Engenheiros(as) da Apple projetam seus iMacs, iPhones e iPads, em Cupertino, Califórnia, mas componentes críticos são produzidos fora dos Estados Unidos e a montagem final é feita na China.
Na era do capital-informação, tal divisão espaço-territorial do trabalho se dá não apenas nessas indústrias “digitais”, mas no geral da grande indústria, toda ela organizada nos termos da acumulação flexível, como definiu David Harvey7. Aqui, no conhecido ciclo D – M …P… M’ – D’, boa parte dos processos que, nos tempos áureos do assim chamado “fordismo”, eram ainda executados no interior da própria unidade produtiva principal de alguma grande empresa industrial (…P…) foi transferida para M. O que permanece no núcleo do processo de valorização do capital, ou seja, diretamente empregado pela corporação industrial que comanda a rede produtiva, é o trabalho dito “criativo”: pesquisa e desenvolvimento (P&D), projeto, desenho etc.
Assim, se as PSDs adquirem de fornecedores especializados as máquinas e outros equipamentos e materiais necessários às suas operações, o insumo essencial aos seus negócios, elas projetam e desenvolvem endogenamente: os algoritmos. Nenhum computador, como muito bem sabemos, funciona sem software, isto é sem um conjunto de códigos que traduzem a nossa linguagem semiótica (conforme a percebemos visualmente nas nossas telas) na linguagem binária dos circuitos da máquina.
Algoritmos são, em princípio, uma sequência finita de ações que a máquina deve executar para resolver um problema ou realizar uma tarefa específica. Como, para as PSDs, seus algoritmos de captura, organização e comunicação de dados constituem o núcleo vital de seus negócios, e precisam ser permanentemente ajustados, atualizados, para acompanhar a própria evolução desses negócios e o ritmo da sociedade, o trabalho de concebê-los, projetá-los, escrevê-los é quase todo feito endogenamente, por cientistas, engenheiros(as) e técnicos(as) diretamente contratados para tal.
Numa empresa industrial, as máquinas costumam ter um componente que, digamos, constitui sua “inteligência”: a ferramenta. Nela está condensada e objetivada a informação necessária à operação imediata da máquina. Por isto, para cada tarefa específica numa específica máquina, o operário precisa nela colocar a ferramenta adequada à tarefa e, quase sempre, fazer ainda ajustes na máquina para a ferramenta funcionar corretamente. Na linguagem industrial, esse momento chama-se setape (do inglês set up). Geralmente, a máquina é adquirida a fornecedores externos. Mas a ferramenta é fabricada nas oficinas da empresa, por operários especializados8.
O algoritmo está para a máquina computadora como a ferramenta para a máquina industrial. Os “operários especializados” que o constroem são cientistas e engenheiros(as) para tal diretamente contratados. Assim como a máquina precisa de alguma matéria-prima para transformar em algum produto a ser vendido pela empresa industrial (produto que tanto poderá ser algum insumo ou matéria-prima para alguma outra indústria, ou bem de consumo final para as pessoas em geral), também o algoritmo precisa ser alimentado pela sua matéria-prima: o material semiótico, gerado por bilhões de indivíduos e empresas, que ele reduzirá a dados.
A máquina industrial recebe, por exemplo, algodão, produto do trabalho agrícola em alguma fazenda, para transformar em fios, sob o comando do operário têxtil. O algoritmo recebe textos, imagens, sons, produzidos pelo trabalho social de bilhões de indivíduos para transformá-los em dados, sob o comando dos engenheiros e engenheiras.
Em relação à empresa têxtil do nosso exemplo, o trabalho agrícola cessa uma vez esteja objetivado, “congelado” (como escrevia Marx), em grandes sacos contendo algodão – mercadoria. Mas em relação às PSDs, o trabalho informacional da massa da população não pode cessar, entendida a natureza aditiva, compartilhada e indivisível da informação9, e devido à incessante atividade leiloeira dos algoritmos.
Como demonstrou Crary, o capitalismo, se pode, nos quer a todos nós produzindo valor 24 horas por dia10. Se por acaso, os bilhões dos assim chamados “usuários” do Facebook decidissem “fazer greve”, passar uns dias sem agir na plataforma, o algoritmo simplesmente definharia por lhe faltar alimento, tanto quanto uma máquina industrial qualquer não pode funcionar sem ser carregada dos insumos necessários. No caso da máquina fabril, esses insumos provém do trabalho realizado em algum outro setor industrial ou agrícola. No caso dos algoritmos, provém do trabalho informacional realizado por bilhões de pessoas, seja em seus momentos profissionais, nos educacionais ou de aparente lazer.
Leia mais: Como as Big Techs monetizam dados e exploram o trabalho informacional
É costume consagrado pelo senso comum e pela mídia, denominar indivíduos e empresas conectados às PSDs como “usuários”. Usuário é qualquer coisa… eu sou usuário do teclado de computador que uso neste instante, ou do garfo e faca que uso ao me alimentar…
Em Marx, a categoria que define aquele que se apropria de algo para atender a alguma necessidade corporal ou espiritual, é consumidor. No entanto, ele faz uma diferença clara entre consumo produtivo e consumo improdutivo. O trabalhador que consome o algodão, a máquina e o próprio corpo para produzir e assim valorizar tecido para o capitalista, está realizando um consumo produtivo. Esse mesmo trabalhador, ao vestir camisa ou calça costuradas com aquele tecido, está realizando consumo improdutivo – um momento de consumo que não valoriza capital; não conserva e transforma, acrescentando valor, algum material. Ao contrário: o consumo da roupa “aniquila” (expressão de Marx) a roupa após algum tempo de uso.
Ora, bilhões de pessoas a todo instante, consumindo seus dedos, olhos, neurônios, nervos; consumindo também as telas e chips de seus celulares ou computadores; estão produzindo valor para o capital – os dados que serão extraídos do material semiótico que compartilham. Consumo produtivo. Um tempo de trabalho, porém, pelo qual a grande maioria da população não recebe, em troca, nenhum pagamento.
É fato que, de uns tempos para cá, uma parcela dos consumidores de “redes sociais” passou a obter altas rendas, inclusive exibindo consumo ostentatório nas telas, devido aos conteúdos que produzem: os “influenciadores”. Na verdade, eles recebem uma cota-parte do mais-valor que, em interação com seus “seguidores”, produzem.

Com mais de 53 milhões de seguidores no Instagram, a ‘influenciadora’ Virginia Fonseca fatura milhões de reais, exibindo consumo ostentatório enquanto alimenta a economia da atenção e das plataformas digitais. Foto: Instagram Virginia Fonseca / Reprodução.
Sublinhe-se que todo o risco do “sucesso” é assumido pelo “influenciador”: cabe-lhe adquirir os equipamentos, eventualmente remunerar equipes profissionais, e exibir algum tipo de conteúdo que tenha êxito em atrair audiência para justificar a parcela de renda que as PSDs aceitam lhe transferir. Se não tiver êxito na conquista de audiência, azar dele… As PSDs não perdem nada. Para entender esse fenômeno em toda a sua dimensão precisaríamos aprofundar o exame do conceito debordiano de “sociedade do espetáculo”, tema além dos objetivos e limites deste artigo.
É evidente que para ocupar tempo ocioso numa “rede social” ou fazer qualquer busca nas PSDs, seja pela necessidade de obter algum conhecimento, seja pela necessidade de adquirir algum bem ou serviço, ou apenas pela necessidade humana de interagir com outros humanos, o indivíduo tem que dispor de algum rendimento. Ele é empregado de alguém ou trabalha por conta própria, condição esta aliás que vai se tornando dominante na atual etapa do capitalismo.
Como ensinou Marx, para se apropriar de tempo não pago de trabalho, uma parcela do capital tem que ser empregada na remuneração de quem trabalha: a essa parcela Marx denomina capital variável.
O capital adiantado no processo produtivo divide-se em três formas e suas determinações: fixo (máquinas, instalações), circulante (energia, matérias-primas, insumos etc.) e variável (remuneração da força de trabalho). Como o objetivo final é extrair mais-dinheiro e como, para isso, impõe-se, como vimos, reduzir o tempo total de circulação, será determinante, nesse movimento, a redução dos tempos de rotação (ou giro), conforme Marx examina nas Seções 1 e 2 do Livro 2 d’O Capital11. Por tempo de rotação entenda-se o tempo que o produto (P), como mercadoria valorizada (M’), circula até seu consumidor final e o tempo de refluxo do dinheiro valorizado (D’) para o bolso do capitalista. Nesse movimento, cada uma daquelas três formas desempenha diferentes papéis. Aqui, nos interessa o capital variável.
A produção de mais-valor tem origem no capital variável adiantado no processo produtivo para remuneração do trabalho (salário ou outras formas de remuneração). Na forma de dinheiro no bolso do trabalhador, o capital variável retorna ao circuito de produção de valor ao ser trocado pelas mercadorias produzidas para atender às necessidades de subsistência desse trabalhador. Essas mercadorias, por sua vez, são retiradas da circulação pelo consumo improdutivo. Naturalmente, se puder, o capital tratará também de reduzir ainda mais esse tempo de rotação.
Quanto mais curto o período de rotação do capital – portanto quanto mais curtos forem os períodos em que se renovam seus prazos de reprodução durante o ano –, tanto mais rapidamente se transforma a parte variável de seu capital, originariamente adiantada pelo capitalista em forma-dinheiro, em forma-dinheiro do produto-valor criado pelo trabalhador para repor esse capital variável (que, além disso, inclui mais-valia); tanto mais curto é, portanto, o tempo pelo qual o capitalista precisa adiantar dinheiro do seu próprio fundo, tanto menor é, em proporção ao volume dado da escala de produção, o capital que ele adianta em geral; e tanto maior é relativamente a massa de mais-valia que, com dada taxa de mais-valia, ele extrai durante o ano, porque ele pode comprar tanto mais frequentemente o trabalhador, sempre de novo com a forma-dinheiro de seu próprio produto-valor, e colocar seu trabalho em movimento12.
Escrevendo no século XIX, Marx já estava delineando o processo em que o capital – enquanto totalidade econômico-social – não só pressionava a redução de seus tempos de circulação como, também, já buscava transferir para o próprio trabalhador a reposição da parcela de capital que, na forma de remuneração do trabalho, acabava “aniquilada” no consumo improdutivo – para tanto, tornando produtivo também esse consumo.
Originariamente, o capital variável saía dos recursos de investimento do capitalista (fundos próprios ou crédito). Interessaria ao capital como um todo que o dinheiro-salário fosse o mais rapidamente possível trocado por bens de subsistência, assim reposto em circulação. Mas quanto mais veloz fosse essa rotação, mais a “compra do trabalhador” pelo capital poderia ser realizada pelos “fundos” do próprio trabalhador, assim aumentando ainda mais a massa de mais-valor.
Quando a massa de trabalhadores passa a investir (alguns conscientemente, como os “uberizados” e “influenciadores”; a grande maioria inconscientemente, como os “usuários das redes”) em ferramentas (sobretudo celulares e linhas telefônicas) que servem para a produção de dados-valor, ela está realizando capital variável imediatamente em capital fixo ou circulante, não mais por via da mediação do consumo improdutivo necessário à subsistência do próprio trabalhador. O processo de valorização que, então, parecia quase restrito às relações entre empresas industriais, comerciais ou financeiras, ampliou-se, incorporando ao seu circuito praticamente todos os poros da sociedade onde haja alguém “curtindo” uma foto de gatinho no Instagram ou Facebook. Isto é: consumindo produtivamente seu corpo, seu celular e os softwares que fazem o celular funcionar. Como se fosse operário numa fábrica.
Leia também: Era Digital transforma trabalho no Brasil; entenda como
Em 2023, a receita média por usuário (ARPU, na sigla em inglês) da Meta foi de USD 44,6013. Em 2022, USD 39,6314. Embora ninguém pague para agir nos aplicativos Facebook, WhatsApp ou Instagram, a corporação não reconhece, como fonte de suas receitas de USD 133 bilhões em 2023, as empresas que pagam para enviar mensagens publicitários aos consumidores mas, sim, os seus produtores (gratuitos) de conteúdos, atratores daquelas empresas. É a confirmação que o valor do dado, assim como o do dinheiro, não é transferido (provisoriamente), junto com o valor de uso, para o, digamos, “mutuário”. Este paga uma espécie de juro pelo acesso a um consumidor potencial. Já este consumidor nada recebe, nem mesmo uma cota-parte do que o “mutuário” pagou pelo dado que ele, consumidor, produziu no seu tempo de atividade, logo de trabalho, na plataforma. Tempo de trabalho não pago.
Como sabemos, Marx denomina mais-valor (Mehrwert) ao tempo não pago de trabalho. É graças a tempo de trabalho não pago, não a tempo pago em salário ou alguma outra forma de remuneração, que o capital se valoriza e acumula.
O ciclo de acumulação das PSDs é similar ao de qualquer outro no campo da comunicação, sendo a produção (P) um processo de captura, tratamento, organização, comercialização na forma-dados do trabalho informacional (I), realizado imediatamente em mais-dinheiro (D’). O valor do trabalho de produção de dados é produto da interação das equipes remuneradas a serviço das plataformas, criadoras dos algoritmos, com os bilhões de produtores gratuitos de dados, fornecedores determinantes dos tempos não pagos de trabalho, logo do mais-valor15.
Deste modo, o capital, ao longo da sua evolução pós-Marx, logrou reduzir o trabalho humano que, por força daquela evolução mesma, suprassumindo-a, deveria vir a ser cada vez mais livre e criativo – “tanto tempo para o ócio quanto para atividades mais elevadas”16 –, a uma nova forma de controle, vigilância, até mesmo vício. Em benefício dos 1% mais ricos da população mundial.
Que fazer?
Em 2023, o lucro líquido da Alphabet, proprietária do Google e YouTube, entre outras plataformas, foi de USD 73,8 bilhões. O da Meta, proprietária do Facebook e Instagram, de USD 39, 1 bilhões. O da Amazon, de USD 30,4 bilhões. O da Microsoft, USD 72,4 bilhões. O da Apple, USD 33,9 bilhões. Poderíamos seguir citando companhias e seus lucros. Estes exemplos nos parecem suficientes.
Cerca de 87% do capital acionário da Alphabet está diluído no mercado financeiro. Cerca de 25% de suas ações encontram-se nas carteiras de um punhado de fundos gestores de investimentos: Vanguard, BlackRock, State Street, Fidelity, Price (T. Rowe) Assoc., Geode, JP Morgan Chase, Morgan Stanley. Os nomes que costumam ser citados como “donos” do Google, Larry Page e Serge Brinn, detém pouco mais de 10% do capital acionário da corporação. Por um acordo estatutário, esse percentual, embora minoritário, lhes dá poder de decisão determinante na condução dos negócios. Não esqueçamos que grande parte da riqueza bilionária de Page e Brinn também não passa de papéis girando na especulação financeira.
Na Amazon, cerca de 90% do capital acionário está diluído no mercado financeiro. Também 27% das ações encontram-se nas carteiras dos mesmíssimos fundos citados no parágrafo anterior. Jeff Bezos detém menos de 10% do capital da corporação. Na Meta, quase 80% do capital acionário está diluído no mercado financeiro mas cada ação de Mark Zuckerberg vale 10 votos nas assembléias de acionistas. Assim como na Alphabet ou na Amazon, as carteiras daquele mesmo punhado de fundos gestores detêm, em conjunto, 34% das ações. Na Microsoft não é diferente: 74% do seu capital está diluído no mercado financeiro, sendo 31% concentrados nos fundos Vanguard, BlackRock, State Street, Fidelity, Price (T. Rower) Assoc., Geode, JP Morgan Chase, Morgan Stanley. Bill Gates possui menos de 5% de seu capital.
Como afirmamos antes17, as corporações que controlam as PSDs são corporações financeiras. Elas exploram o mercado de dados de modo similar ao mercado de dinheiro. Os juros obtidos pela comercialização dos dados extraídos das atividades cotidianas ou laborais de uma grande parte da população mundial, carreiam, anualmente, para a economia dos Estados Unidos e concentram nas mãos de um punhado de financistas, bilhões de dólares. Para efeito de comparação, o saldo positivo da balança comercial brasileira, em 2023, exportando principalmente petróleo, minério de ferro e soja, foi de USD 99 bilhões.
Esse extraordinário negócio das PSDs está porém à margem de qualquer regulação pública. Até os bancos e outras instituições financeiras obedecem a regulações: no Brasil, aos cuidados do Banco Central. Indústrias de forte impacto na vida social como a farmacêutica, a alimentar, entre outras, são submetidas a leis e agências reguladoras. Um simples botequim de bairro não pode começar a funcionar sem alvará da prefeitura. No entanto, o YouTube ou o Instagram podem chegar nas telas de qualquer pessoa, inclusive crianças, sem terem recebido, antes, qualquer autorização de alguma autoridade pública.
Um projeto de regulação que se queira realmente crítico do modelo de sociedade ao qual estamos submetidos; que não busque apenas ajustá-la mas, sim, transformá-la; não deve se limitar a tentar submeter as PSDs a alguns controles superficiais aos quais, mesmo assim, elas resistem em aceitar. Elas têm razão. Uma palavra que expresse “amor” ou outra que expresse “ódio”, uma vez reduzida a dados sobre algum potencial consumidor, perdem seus conteúdos semânticos e tornam-se tão somente significantes vazios de significados, exceto enquanto valor de uso precificável em algum leilão. A realidade tem mostrado, por razões que não podemos aprofundar aqui, que dados produzidos a partir de mensagens de ódio vêm obtendo melhores preços, significando maior procura, do que dados produzidos com mensagens de amor. Por que então “censurar”? Como diria Don Corleone, são apenas negócios…
A regulação das PSDs passa necessariamente por bater de frente com esse modelo de negócios. Ou dito de outro modo, ultrapassar os limites de movimentos liberais progressistas nos seus dilemas sobre como filtrar (ou “moderar”), sem porém censurar, a “liberdade de expressão”. Há que ir mais fundo: pautar o debate político-econômico. Implica entender os mecanismos pelos quais uma imensa e até agora oculta riqueza é extraída do trabalho total da sociedade brasileira pelas PSDs, e levantar barreiras a essas veias abertas por esse novo colonialismo… digital18.
Pontos para um programa
i. O Estado brasileiro deve construir suas próprias plataformas de tratamento de dados públicos em “nuvem”, rompendo os acordos ou contratos que, atualmente, em todos os Três Poderes e em todas as instâncias da Federação, mantém com as corporações proprietárias da PSDs. Por todo o exposto acima, o Estado brasileiro está fornecendo um valor incalculável de dados sobre a sociedade brasileira não somente para os sócios financeiros dessas corporações mas também para as agências de vigilância e espionagem dos Estados Unidos, conforme denunciado por Edward Snowden. O Brasil possui infraestrutura suficiente para servir de apoio à construção de plataformas públicas: RNP, NIC.Br, Serpro, Telebrás, Petrobrás etc., além da necessária competência nas nossas universidades e também em muitas das nossas empresas para desenvolver um tal projeto. No novo cenário internacional estabelecido após a posse do atual presidente dos Estados Unidos com a destacada presença dos plutocratas das PSDs, este ponto deveria vir a ser uma espécie de “delenda Cartago” em qualquer discurso, sobre qualquer assunto, que ainda queira ver “o Brasil para os brasileiros”: “blá, blá, blá… mas antes de tudo é necessário romper os convênios com as ‘nuvens’ da Microsoft, da Google, da Amazon.”
ii. É preciso separar por mecanismos regulatórios e operacionais, a internet, uma infraestrutura típica de telecomunicações, dos negócios que operam sobre ela. Uma coisa é a estrada de rodagem; outra os automóveis e caminhões que circulam sobre ela, ainda que estes, até certo ponto, tenham que obedecer a certas regras postas na estrada. No Brasil, a internet deve ser considerada um serviço de telecomunicações, logo submetido ao artigo 21-XI da nossa Constituição. Já os negócios sobre ela, devem ser regulados considerando suas diferentes características, assim como carros, caminhões ou ônibus que circulam nas estradas são regulados e fiscalizados conforme também suas especificidades. Em qualquer regulação não poderão ser ignorados, antes afirmados sem sombra de dúvidas, os aspectos relacionados à soberania nacional.
iii. O maior objetivo, a ser posto como programa político, difícil de alcançar no curto prazo mas passível de ser perseguido passo a passo através da conscientização da sociedade e da luta das suas parcelas mais avançadas, será desmonetizar a economia de dados. O acesso a, e o consumo de alguma plataforma sociodigital deveria ser pago, portanto exclusivo de quem tiver interesse e meios de pagar, interditado o uso dos dados para encaminhar negócios. Alternativamente, plataformas digitais públicas – gratuitas ou subsidiadas como qualquer outro serviço público – atenderiam ao restante da sociedade, nas suas necessidades e demandas. Esse processo político, necessariamente progressivo, poderia começar com uma campanha para proibir a monetização de “influenciadores”. Essa gente que vá procurar o que fazer!
A análise sobre o capital digital-financeiro foi dividida em duas partes. A Parte I remete a Karl Marx para explicar como plataformas como Google e Instagram monetizam dados de forma semelhante ao capital portador de juros e como os algoritmos exploram o trabalho informacional de bilhões de usuários.
_____________________________
Notas:
1 Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, Rio de Janeiro: Contraponto, 1997 [1ª ed. 1968]
2 Karl Marx, O Capital, São Paulo: Abril, 1984, Vol. 2, pg. 42-43.
3 Karl Marx, Grundrisse, São Paulo: Boitempo, 2011, pg. 432
4 Karl Marx, O Capital, cit., Vol. 2, pg. 45
5 idem, pg. 91.
6 Ver a Parte 1 deste artigo em https://grabois.org.br/2025/02/10/capital-digital-financeiro-como-as-big-techs-monetizam-dados-e-exploram-o-trabalho-informacional/
7 David Harvey, Condição Pós-moderna, cit.
8 Em tempos mais recentes, todo o processo que vai do projeto e desenho à fabricação e montagem de um produto qualquer veio sendo cada vez mais automatizado, logo muito desse trabalho de ferramentaria pode ter sido transferido para sistemas digitais, mas ainda sob controle de técnicos programadores.
9 Ver a Parte 1 deste artigo, cit.
10 Jonathan Crary. 24/7: capitalismo tardio e os fins do sono. São Paulo: Ubu, 2016.
11 Karl Marx, O Capital, cit., Vol. 2, Seção I e Seção II.
12 idem, pg. 232-233, itálicos meus – MD .
13 Meta, Inc. Form 10-K Anual Report 2023, Nova York: SEC, disponível em https://www.sec.gov/. pg. 70
14 Meta, Inc. , Form 10-K Anual Report 2022, Nova York: SEC, disponível em https://www.sec.gov/ pg. 64.
15 Gabriela Raulino, “Capital e trabalho nas plataformas sociodigitais”, In Marcos Dantas et alii, O valor da informação, cit.
16 Karl Marx, Grundrisse, cit., pg. 594.
17 Ver Parte 1 deste artigo, cit.
18 Deivison Faustino, Walter Lippold. Colonialismo digital: por uma crítica hacker-fanoniana, São Paulo: Boitempo, 2023; João Francisco Cassino et alii (Orgs.). Colonialismo de dados: como opera a trincheira algoritmica na guerra neoliberal, São Paulo: Autonomia Literária, 2021; Dal Yong Jin. Digital Platforms, Imperialism and Political Culture, New York, Routledge, 2015.
_____________________________
Marcos Dantas é professor titular (aposentado) da UFRJ, professor do PPG em Comunicação e Cultura da ECO/UFRJ e do PPG em Ciência da Informação da ECO-IBICT/UFRJ. É membro do Conselho de Administração do NIC.Br e foi, por três mandatos consecutivos, um dos representantes da Academia no Conselho do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.Br). É presidente da Fundação Maurício Grabóis – Seção Rio de Janeiro. É autor de A lógica do capital-informação: a fragmentação dos monopólios e a monopolização dos fragmentos em um mundo de comunicações globais (Ed. Contraponto, 1996, 2ª Ed. 2002) e (em co-autoria) de O Valor da Informação: de como o capital se apropria do trabalho social na era do espetáculo e da internet (Boitempo, 2022).
Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.