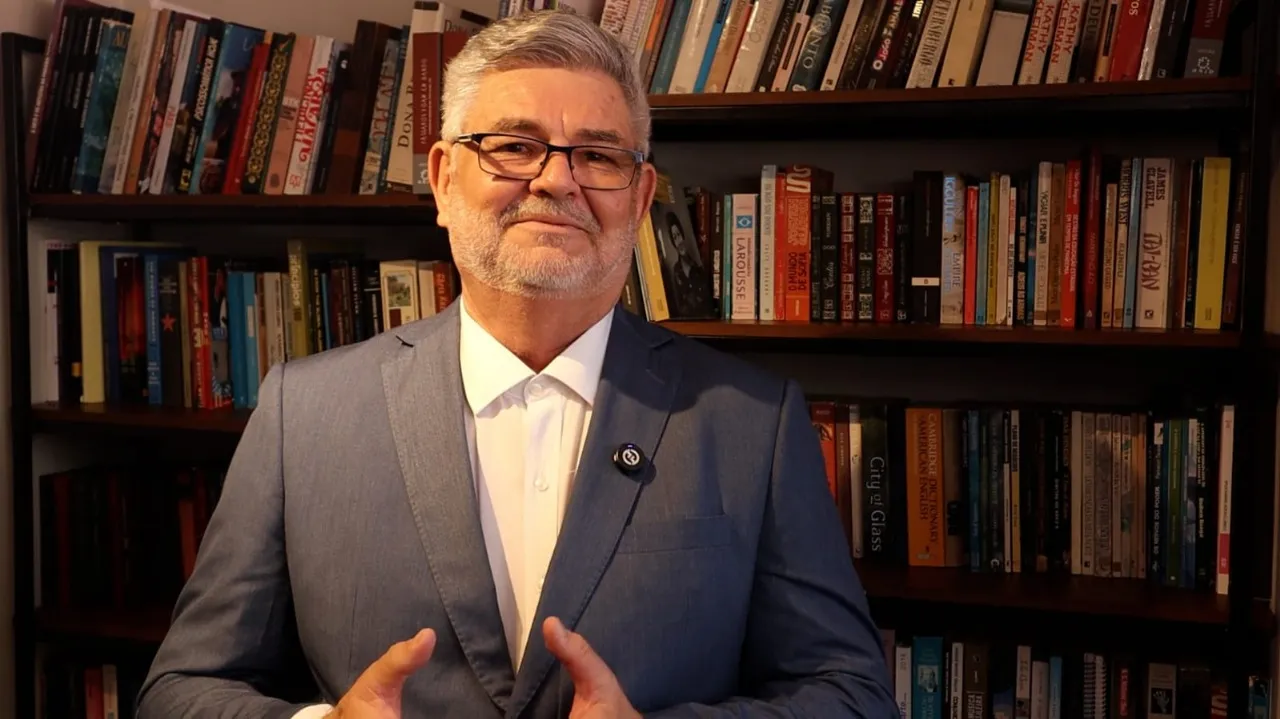Fantasmas assombram as cidades inteligentes – Parte 1: a separação entre o político e o econômico
Um novo regime ou apenas fantasmas de um natal passado?
Mais uma vez, camaradas, peço sinceras desculpas pela demora em começar a escrita dessa coluna. Até o meu querido, comprometido, e paciente editor desistiu de me cobrar o texto do mês. Receio que até ele já tenha absorvido o fato de que minha vida paralela como físico-matemático sempre faz o mais justo dos prazos se tornar apenas uma ode à vergonha na minha agenda. Pelo menos existem benefícios em atrasar mês sim, o outro também, a entrega das nossas colunas: posso escrever olhando pelo retrovisor dos acontecimentos quasi-recentes. O que deveria ser uma coluna mensal, com eventos tópicos no mundo do capital tecnológico, acaba virando uma análise política mais robusta, melhor informada, e menos tomada de arroubos emocionais, típicos da produção mais imediata. É o caso dessa coluna, ou melhor, dessa longa análise, dividida em três atos.
Se quisermos começar a entender o significado e o impacto político daquela que deve ter sido a foto mais marcante da inauguração do segundo governo Trump, sugiro que tomemos fôlego e apertemos o cinto.
Para dar conta de compreender (a) por que um punhado de tech bros libertários assumiu uma posição de enorme destaque ao lado do recém-eleito presidente americano, e (b) que talvez estejamos testemunhando a consolidação, em solo estadunidense, daquilo que certos intelectuais de esquerda vêm chamando de ‘tecnofeudalismo’ [1-4], precisamos, antes de mais nada, rever a nossa própria definição de capitalismo, suas leis de movimento, o que elas pressupõem e o que elas implicam. Para tanto, proponho uma análise materialista-histórica inspirada no ‘marxismo político’ da falecida Ellen Meiksins Wood. Nesse sentido, para dar sustentação ao nosso argumento, nessa coluna começaremos problematizando a distinta separação entre o ‘político’ e o ‘econômico’ do modo de produção capitalista [5].
Feito isso, na segunda coluna dessa série, colocaremos em perspectiva a ideia (e a assombrosa realidade) das chamadas smart cities [6]. Veremos como as big techs podem levar a característica privatização do ‘político’ a assumir novos contornos que até há não muito tempo atrás seriam humanamente inconcebíveis — se contrapondo, talvez, àquelxs que imaginavam que sociedades de mercado não poderiam ser ‘comodificadas’, ainda que ficticiamente, até a última gota [7,8]. É aqui, nesse nosso segundo ato, que também analisaremos en passant a recente iniciativa do então presidente do senado federal, Rodrigo Pacheco, de propor uma regulamentação ao funcionamento de agentes de inteligência artificial [9]. Uma nobre tentativa de circunscrever o poderio quase infinito das big techs dentro dos marcos legais da democracia liberal. Também levantaremos uma questão histórica. Olhando para o Chile de Salvador Allende, também iremos argumentar que o poderio das corporações tecnológicas sempre estiveram marcadamente ao lado do capital.
Por fim, de uma certa maneira, fecharemos essa série retornando ao início. A análise da separação entre o ‘político’ e o ‘econômico’ proposta por Ellen Wood falha drasticamente em dar a devida ênfase ao caráter coercitivo e violento do poder estatal. A coerção do capital seria algo como uma compulsão silenciosa, um imperativo mudo— um abanar de cabeças obediente e obsequioso [10]. Antes o fosse! Só pra nos restringir ao caso brasileiro, o anuário organizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública não deixa espaço para dúvidas. O poder de polícia produz e reproduz diariamente a ordem capitalista. E se as polícias são fundamentais para a manutenção da ordem, o que acontece quando elas começam a escapar da responsabilidade pública? Experiências como a da Smart Sampa [11], por exemplo, mostram como a privatização do ‘político’ pelo ‘econômico’ podem vir a tomar de arroubo até mesmo o monopólio da violência estatal.
Em resumo, dada a influência direta dos tech bros na cabeça e no coração do governo estadunidense, essa série de colunas levanta as perguntas: estaríamos presenciando o soerguimento de um novo modo de produção, o aparecimento de um novo regime de acumulação [12], ou apenas uma reorganização das relações de propriedade sociais capitalistas [13]? De uma maneira ou de outra veremos que a esquerda precisa recolocar na ordem do dia uma luta pela emancipação democrática que mire não apenas a esfera ‘política’.
É isso, subamos os panos. O drama vai começar. Primeiro ato…
Capitalismo? Entendendo a Besta Fera
Precisamos ir do simples ao complexo. Logo, permitam-me mais uma vez colocar meu velho chapéu de materialista histórico e meus gastos sapatos de marxista político. Ainda que a organização da produção, num sentido ampliado do conceito, certamente componha o cerne da análise materialista histórica, seria um suicídio intelectual fechar os olhos para a complexidade das relações de propriedade sociais [13]. Não há como analisar a complexidade de qualquer ordenamento social imaginando que pode-se passar por cima das relações entre produtores diretos, entre apropriadores do trabalho alheio, e entre esses dois grupos, de maneira que juntando-se essas relações consegue-se fazer saber, e especifica-se a maneira pela qual indivíduos e famílias têm acesso regular aos meios de produção e reprodução. A análise dessa coluna assume esse ponto focal [14]. Aliás, nos mantendo dentro dessa perspectiva, também parece fundamental especificar de uma vez por todas o que chamamos de capitalismo [15].
Como uma forma histórica, o capitalismo é um sistema em que, virtualmente, todos os bens e serviços são produzidos para, e obtidos do, mercado. Mais fundamentalmente, ele é um sistema em que aqueles que produzem diretamente e aqueles que se apropriam da ‘sobra’ do trabalho dos produtores diretos são dependentes do mercado para as mais básicas condições de sobrevivência, produção e reprodução. Por um lado, o acesso dos produtores diretos aos seus meios de reprodução e produção, aos meios de trabalho em si mesmos, é completamente mediado pelo mercado. Nos estágios mais maduros do capitalismo, trabalhadores e trabalhadoras se veem obrigados a vender suas forças de trabalho em troca de um salário. Entretanto, a dinâmica que desemboca nesse processo foi colocada em marcha muito antes, quando produtores diretos, ainda que não completamente despossuídos, começaram a perder acesso à terra por vias fora do mercado — quando esse acesso passou a ser mediado por empréstimos (leases) sujeitos a lógica da maximização do lucro [16]. Por outro lado, o apropriador capitalista também depende sistematicamente do mercado para a sua condição de sobrevivência e para a auto-expansão do capital, sendo obrigado a entrar no mercado tanto para acessar a força de trabalho quanto para realizar os lucros advindos dela.
Leia também: Plataformas Digitais – trabalho, negócios e alternativas para uma economia digital justa
Essa dependência brutal do mercado tem consequências substanciais [17]. O fato dos apropriadores do trabalho só conseguirem obter lucros mediante a venda de bens e serviços, com preços maiores que os custos agregados de produção, faz com que a realização de lucros seja uma variável de impossível previsão. Aliado a isso reside uma verdade incontestável: capitalistas competem entre si no mercado e, de fato, a competição é força motriz do capitalismo — ainda que o capital possa fazer o máximo para evitá-la, como a formação de oligopólios ou monopólios para controle de preços [18]. É a média da produtividade social que, em qualquer mercado integrado, determina o sucesso numa competição ditada pelo preço, e esse fator está além do controle individual de cada capitalista. Algo que o capital consegue, sim, ter acesso e controle são os custos de produção. Como a margem de lucro depende de uma relação favorável entre custo/preço, é de se esperar que capitalistas façam de tudo para cortar custos e garantir uma confortável margem de lucro. Isso significa, acima de tudo, reduzir os custos do trabalho — e isso implica, como já explicamos em outras colunas, em constantes aperfeiçoamentos na produtividade, a fim de encontrar meios técnicos [19] ou organizacionais [20] de extrair a maior quantidade de mais-valia dentro de um período de tempo fixado, no menor custo possível. Por fim, todo esse processo demanda investimentos contínuos, o reinvestimento da mais-valia realizada, e a constante acumulação de capital. Esse requerimento se impõe sobre a classe capitalista independentemente dos seus desejos e necessidades pessoais. Mesmo o mais modesto e socialmente responsável dos capitalistas é sujeito a pressão exercida por essas leis de movimento [17], e é compelido a acumular maximizando o lucro apenas para permanecer vivo no jogo. A necessidade de se adotar estratégias de maximização são um aspecto básico do sistema e não somente uma resposta a ganância individual —ainda, claro, que um sistema baseado na loucura da razão econômica recompense a acumulação indiscriminada da riqueza socialmente produzida e encoraje a cultura da ambição individualista.
Toda essa digressão poderia ser resumida. O que ela nos diz é que o capitalismo opera como um sistema cujas leis de movimento são as da competição, da otimização do lucro, da acumulação constante e da necessidade de aperfeiçoamento da produtividade do trabalho. Também não pode passar despercebido que esses imperativos capitalistas tem uma especificidade histórica. Eles emergem tardiamente na história da humanidade [16] e não encontram iguais em qualquer outro modo de organização da vida social e do suprimento das necessidades básicas da vida na terra. Dito de outra forma, os imperativos da competição, da otimização dos lucros e da acumulação infinita não afetavam as relações de trocas e distribuição de bens e serviços antes do advento do capitalismo — nem mesmo nas mais avançadas e prósperas cidades comerciais.
Verdade seja dita, não é apenas a loucura da razão econômica que caracteriza o ordenamento capitalista. Existe uma realidade histórica específica e intrínseca a ele: uma diferenciação real, ainda que distorcida, entre o ‘econômico’ e o ‘político’. Por questões de espaço (e de cansaço! mil desculpas, camaradas), não vou re-examinar as condições históricas que tornaram tais categorizações possíveis e plausíveis. Também não vou entrar na velha discussão por trás da concepção e do debate sobre os termos. Leitores e leitoras interessadas podem checar os comentários nas notas [14] e [16]. Nessa coluna, a primeira parte dentro de um arco maior, vou apenas tentar explicar em qual sentido o capitalismo se apresenta separado nessas duas esferas. Esse ponto vai ser crucial para a nossa conversa nos próximos meses.
O Econômico e o Político no Capitalismo
Para argumentar com clareza que no contexto das ditas cidades inteligentes — e mais assustadoramente na patética entrega do poder policial às big techs [6,11,22-24] — o capitalismo acelera a sua dinâmica histórica da privatização do político pelo econômico, me sinto na obrigação de elaborar um pouco mais sobre o que queremos dizer com essa marcante diferenciação específica do modelo capitalista. De fato, ela significa várias coisas.

Sala de monitoramento Smart Sampa, programa de câmeras de segurança da cidade de São Paulo (SP). Foto: SECOM – Prefeitura da Cidade de São Paulo
Primeiro, dada a brutal dependência do mercado, mesmo a produção e distribuição de bens essenciais para a sobrevivência humana deixam de ser imersas em relações sociais ‘extra-econômicas’ — fossem elas de parentesco, senhoriais, escravocratas, de obrigações tradicionais, de coerção militar, judicial… [8]. Segundo, a alocação do trabalho social e da distribuição de recursos são obtidos através do mecanismo ‘econômico’ da troca de commodities. Terceiro, que as forças do mercado de commodities, incluindo o mercado da força de trabalho, assumem vida própria e são regidos pelos imperativos da competição, da otimização do lucro e da acumulação infinita. Quarto, e fundamental, que o mecanismo da apropriação da mais-valia do trabalho acontece na esfera ‘econômica’ e por meios ‘econômicos’ — isso quer dizer que a apropriação das sobras do trabalho alheio é obtida de maneira determinada pela completa separação dos produtores diretos das condições de trabalho e pela absoluta propriedade privada dos meios de produção e reprodução dos apropriadores do trabalho alheio. Isso também quer dizer que coerção direta é, em princípio, desnecessária para compelir trabalhadores e trabalhadoras a entregar a mais-valia dos seus trabalhos [25]. Ainda que a força coercitiva do ‘político’ seja, ao fim e ao cabo, necessária para sustentar a propriedade privada e o poder de acumulação, são as mais básicas necessidades ‘econômicas’ que compelem trabalhadores e trabalhadoras a transferirem mais-valia para a classe capitalista.
De uma certa maneira, a diferenciação entre o político e o econômico no capitalismo poderia ser resumida da seguinte forma: as funções sociais de produção e distribuição, de extração de mais-valia e apropriação, e a alocação do trabalho social são privatizadas e levadas a cabo de uma maneira não-autoritativa e não-política. A alocação de recursos e a organização do trabalho não obedecem a uma direção política, a uma deliberação comunal, a um dever hereditário, de costumes, ou obrigações religiosas, mas sim através das leis de reprodução geradas pela competição, otimização de lucros e acumulação infinita. Historicamente, o poder político direto que os proprietários capitalistas perderam para o estado foi enormemente compensado pelo controle direto e absoluto da produção. Num certo sentido, a diferenciação entre o político e o econômico no capitalismo é, de maneira mais precisa, uma diferenciação das próprias funções políticas e a compartimentalização dessas atribuições numa ‘esfera econômica’ privada e numa ‘esfera pública’ do estado. O capitalismo, nos lembra Ellen Wood, é o sistema em que essa separação atinge seu auge. Mal previa nossa sofisticada marxista que existiria uma privatização do político ainda mais nefasta.
É com essa formulação que nas próximas colunas vamos investigar o fenômeno das cidades inteligentes e a potencial capitulação total do político para o econômico.
Note, contudo, que essa separação não é meramente um exercício acadêmico. Ela impacta diretamente as lutas políticas que permeiam o mundo do trabalho. Não é raro ver análises de comentadores de esquerda atribuindo à classe trabalhadora uma ‘falsa consciência’ [26] ou um ‘desalinhamento’ [27] com a sua própria condição de classe. Se fosse só um ‘desalinhamento’ e nada mais que isso, o problema seria fácil de se contornar, entretanto o que torna o economicismo dos organismos da classe trabalhadora tão tenazes é que eles correspondem diretamente à realidade ‘dividida’ do capital. Mais ainda, como veremos nos próximos meses, de um ponto de vista pragmático, o arcabouço teórico-prático dado pela análise dessa separação permite inclusive vislumbrar quais saídas queremos rumo a ordenamentos sociais distintos, com mais participação popular e mais democráticos.
Voltando as Origens
Termino a longa sessão anterior e começo a atual, relembrando a insistência do velho Marx. Em oposição às abstrações ideológicas do pensamento (político) econômico clássico, devemos nos lembrar que ‘o capital é uma relação social de produção’ e que categorias ‘econômicas’ carregam em si mesmas determinadas relações sociais. Ou seja, produção não é produção em abstrato, e a premissa que adotamos aqui é que não existe tal coisa como um modo de produção em oposição ao que quer que seja chamado de ‘fatores sociais’ — algo como dizer que existe uma ‘base’ universalmente separada de uma ‘super-estrutura’. Talvez a inovação mais radical proposta pelo bom velhinho tenha sido a definição de um modo de produção e as próprias leis da economia em termos de ‘fatores sociais’: o mecanismo da mais-valia é uma relação social entre produtores diretos e apropriadores; a capitulação do trabalho ao capital não é nada mais que uma relação social e um produto da luta de classes; dinheiro e bens só se tornam capitais num contexto específico da relação entre apropriadores e produtores direto; mesmo a tão conhecida acumulação primitiva também expressa uma particular relação de expropriação de produtores diretos.
Levanto essa discussão para dizer que insistir na constituição social do ‘econômico’ não implica de forma alguma na obtusa negação de que existe uma ‘economia’, de que existem ‘leis econômicas’, que modos de produção são realidades históricas, que há leis de reprodução e etc. O ponto de vista (Marxista Político) que adotamos aqui não está menos convencido da centralidade analítica da primazia da produção do que outras vertentes mais ‘economicistas’ do Marxismo. Só estamos levando a sério o princípio de que um modo de produção é um fenômeno social. Em outras palavras, o objeto dessa perspectiva teórica é de caráter prático, uma vez que ela serve pra iluminar o terreno de batalha ao enxergar modos de produção não como estruturas abstratas, mas como elas realmente confrontam as pessoas que devem (re)agir em relação a elas.
E por falar em reação…
Democracia e Socialismo – sinônimos construídos no processo histórico
A ideia de uma esfera econômica universalmente separada do corpo político serve a uma função ideológica crucial. Ao apresentar o mercado como um reino de forças naturais, operando de acordo com sua própria lógica interna, ela obscurece as escolhas políticas embutidas nos arranjos econômicos. Isso faz parecer que os resultados econômicos sejam inevitáveis, além do controle humano e, portanto, fora do reino da contestação democrática. Essa despolitização da economia em nada beneficia o povo trabalhador, pois blinda os interesses da classe dominante do escrutínio político — basta ver os argumentos a favor da ‘autonomia’ do Banco Central, do respeito à roda da economia e outras bobagens.De fato, essa separação permite que o capitalismo se apresente como se estivesse simplesmente respondendo às forças objetivas do mercado, em vez de ser um sistema construído por e para interesses particulares.
Dito isso, quero terminar esse longo primeiro ato com uma polêmica.
Muito a contragosto, sou levado a concordar com Bob Brenner e Aaron Benanav: estamos presos num longo período de estagnação econômica. O declínio sistêmico das taxas de lucro relativo — causado pelo excesso de capacidade no processo industrial global e associado à fuga do capital industrial para o capital financeiro — é um fenômeno material difícil de ignorar. Some-se a isso a perda de produtividade nas principais economias do mundo [28]. Os dois fatores juntos indicam, infelizmente, que o motor do capitalismo pode já ter se esgotado. Pior ainda, é provável que a direita esteja certa — ainda que eles acertem errando: os custos sociais envolvidos na manutenção da lucratividade pelo capital são extremamente caros, e não há alternativa, eles devem ser socializados a ferro e fogo no lombo da classe trabalhadora. Mas, correta essa leitura, o que fazer? Devemos voltar a considerar um intervencionismo estatal, como nunca antes imaginado, um planejamento centralizado dentro de um capitalismo com uma baita face humana, mantendo a separação entre o político e o econômico, mas com um político hipertrofiado ainda que subjugado à dependência do mercado? Ou devemos viver o sonho molhado dos libertários, assumir que não há alternativa e deixar o mercado, universal e sempre presente, reinar soberano?
Desconfio que a velha escolha entre essas duas divisões ‘antagônicas’— mercado vs. planejamento central — é inócua. Quando a resposta não funciona, me pego pensando que o erro bem poderia estar na pergunta. Ambas ‘soluções’ não quebram com as relações de propriedade sociais do capital, ambas colocam toda a sociedade civil ao subjugo do imperativo do mercado, nenhuma delas envolve a re-apropriação dos meios de produção pelos produtores diretos, nem uma nem outra é ditada pelos trabalhadores cujo excedente do trabalho é apropriado, nenhuma delas coloca a produção sob a responsabilidade direta e democrática daqueles que tudo produzem. Em tempos de congressos nacionais, frentes amplas contra o fascismo e afins, a esquerda deveria se sentir obrigada a voltar a colocar na ordem do dia a discussão de mecanismos alternativos para regular a produção social. Precisamos de uma visão que vai do simples para o complexo.
A bem da verdade, minha humilde leitura é que talvez a própria noção de ‘democracia’ precise ser re-concebida. Se aprendemos alguma coisa com essa coluna, sabemos então muito bem que a ‘democracia’ não deveria ser vista meramente como uma categoria ‘política’, mas também de uma perspectiva ‘econômica’. Aqui não falo simplesmente de uma ‘igualdade econômica’, no sentido de uma (re)distribuição mais justa da riqueza apropriada à maneira capitalista. O que tenho em mente é uma democracia que atue como um regulador do mercado, como uma lei de reprodução da economia. Não vou alongar muito a conversa, até porque estou longe de ter uma solução fechada pra esse problema. Talvez tenhamos que voltar ao velho Marx e à sua livre associação de produtores diretos. Talvez devamos olhar para o Oriente, para a China, e levar bem mais a sério aquilo que os nossos camaradas vem insistentemente tentando nos contar [29]. Certamente acredito que nós, socialistas, não deveríamos manter no horizonte político apenas a luta pelo aumento de ‘direitos sociais’ dentro do capitalismo como a mais alta aspiração emancipatória. Deveríamos alçar voos mais altos.
Obrigado por me acompanharem até aqui. Vejo vocês no mês que vem.
Fim do primeiro ato (ufa!).
Cristhiano Duarte é pesquisador da Chapman University. É membro do Grupo de Pesquisa da FMG sobre Trabalhadores e a Era Digital
Referências
[1] Durand, Cédric. How Silicon Valley Unleashed Techno-Feudalism: The Making of the Digital Economy. Verso Books, 2024.
[2] Varoufakis, Yanis. Technofeudalism: What Killed Capitalism. Metropolitan Books, 2023.
[3] Durand, Cédric, e Diego Velásquez. Para escapar do Tecnofeudalismo. OutrasPalavras, 6 de Fevereiro 2025. (disponível em https://outraspalavras.net/tecnologiaemdisputa/para-escapar-do-tecnofeudalismo/).
[4] Dean, Jodi. Tecnofeudalismo – uma defesa. Blog da Boitempo, 1 de Junho 2022. (disponível em https://blogdaboitempo.com.br/2022/06/01/tecnofeudalismo-uma-defesa/).
[5] Wood, Ellen Meiksins. Democracy against Capitalism: Renewing Historical Materialism. Cambridge University Press, 1995.
[6] Morozov, Evgeny, e Francesca Bria. A Cidade Inteligente: Tecnologias Urbanas e Democracia. Ubu Editora, 2020.
[7] Fraser, Nancy. Can society be commodities all the way down? Polanyian relections on capitalist crisis. FMSHWP-2012-18, 2012.
[8] Polanyi, Karl. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Beacon Press, 1944.
[9] Senado Federal. Projeto de Lei 2.630/2023. Acessado em 31 de Janeiro de 2025 (disponível em https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/164599).
[10] Mesmo colocando de lado as polêmicas defesas da ‘democracia grega’ (Wood, Ellen Meiksins. Peasant-Citizen and Slave: The Foundations of Athenian Democracy. Verso, 1988) e o uso indiscriminado atrás do guarda-chuvas do conceito de ‘dependência do mercado’ como nó central da acumulação capitalista (Wood, Ellen Meiksins. The Question of Market Dependence. Journal of Agrarian Change, vol. 2, no. 1, 2002, pp. 50-87), o que de fato chama a atenção no sofisticado trabalho historiográfico de Ellen Wood é a total falta de uma análise sistemática do papel jogado pela violência nas sociedades capitalistas. Não que o uso da violência contra a classe trabalhadora por parte do aparato estatal a passe despercebida, muito pelo contrário. Existem passagens e mais passagens onde a marxista reconhece o uso da força como um elemento presente na domesticação do trabalho. O que parece faltar é como a violência assume um papel constitutivo da produção e re-produção da ordem capitalista. Uma pisada na bola para uma materialista histórica tão refinada. Para uma análise também refinada do poder ilimitado da polícia, mas alinhada a outros programas políticos, temos que recorrer a autores como Ruth Wilson Gilmore, Nancy Fraser, Clóvis Moura, Mark Neocleous, Micol Seigel, Almir Felitte, Alex Vitalle, entre outrxs.
[11] Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Programa Smart Sampa, O maior programa de câmeras de segurança da cidade de São Paulo, 07 de Fevereiro de 2025 (acessível em https://capital.sp.gov.br/web/seguranca_urbana/w/smart-sampa-2).
[12] Ao analisar as consequências da crise de 2008/2009, David Kotz define um ‘regime de acumulação’ [capitalista] como um conjunto de instituições e ideias dominantes que promovem a acumulação de capital ao facilitar ‘altas taxas de lucro, crescimento da demanda acumulada e investimentos produtivos de longo prazo (Kotz, David. End of the Neoliberal Era? Crisis and Reconstructing in American Capitalism. NLR 113, 2018).
[13] Definido originalmente por Robert Brenner, relações de propriedade sociais (social-property relations, no original em inglês) são as “relações entre produtores diretos, entre exploradores, e entre exploradores e produtores diretos, de maneira que, tomadas juntas, tornam possível/especificam o acesso regular de indivíduos e famílias aos meios de produção (terra, trabalho e ferramentas) e/ou ao produto social em si mesmo” (Brenner, Robert. Property and Progress: Where Adam Smith Went Wrong, em Marxist History-Writing for the Twenty-First Century, editado por Chris Wickham, pp. 49–111, Oxford: Oxford University Press, 2007). Analisando o mesmo conceito, ainda que dentro de um estudo sobre o capitalismo, Maïa Pal acrescenta que uma certa vertente marxista [Marxismo Político] “vem continuamente enfatizando que as relações de propriedade sociais se referem não somente ao ensemble do político e do econômico, mas também ao jurídico, administrativo, cultural, religioso e etc. [São] relações que constituem através de uma gama de conflitos de classe as condições do desenvolvimento capitalista (Pal, Maia. Radical Historicism or Rules of Reproduction? New Debates in Political Marxism, Historical Materialism, vol. 26, Issue 3, 2021).
[14] Começo a nossa análise sublinhando essa perspectiva, justamente por antecipar que por ‘separação entre político e econômico’ vários leitores e leitoras podem ter na mente um batido aforismo Marxista: aquele opõe, como uma lei universalmente válida da natureza, ‘Base’ e ‘Super-estrutura’ — sejam entre esferas completamente separadas, ou com interseções e fronteiras maleáveis. Não é exatamente disso que estamos falando aqui. Como ficará claro mais a frente, a privatização histórica do político, a inauguração de um conjunto de atividades, e instituições regidas pelo imperativo do mercado (com a capitulação do primeiro com relação ao segundo) são características marcante do capitalismo. Aqui temos o velho problema, também enfrentado por Marx, de estarmos restrito a mesma terminologia a fim de superá-la.
[15] Aos meus leitores e leitoras que já conhecem a cartilha de cor e salteado, e àquelxs que sabem muito mais que esse humilde escritor, eu peço desculpas. Mas me dei ao luxo de incluir umas definições que julgo importante. Não por sofismo, mas porque imagino que uma coluna (técnica) de amplo alcance e com audiência heterogênea poderia acabar se beneficiando de um material mais pé no chão — com boas referências e que levante um debate crítico. Principalmente quando há um interesse tão grande por parte do público em geral em entender outras formas de organização de sociedade, a China sendo o maior e melhor exemplo.
[16] Para uma polêmica sobre a origem do capitalismo, sugerimos: Wood, Ellen Meiksins. The Origin of Capitalism: A Longer View. Verso, 2017
[17] Mercado aqui deve ser entendido como uma estrutura no sentido forte do termo. Estruturas são alienações-cum-solidificações de relações de propriedade sociais e de suas regras de reprodução que limitam e capacitam ações coletivas e individuais de agentes humanos (adaptado de Post, Charles. Structure and Agency in Historical Materialism: A Response to Knafo and Teschke. Historical Materialism, vol 29, issue 3, pp. 107-124, 2021).
[18] Sobre a competição capitalista, prefiro a interpretação de Anwar Shaik. Ele nos lembra que uma vez que a ortodoxia econômica, com a noção de ‘competição perfeita’ como um pilar central, diz muito pouco sobre o momento da circulação das commodities, uma vez que ela reduz todos os ‘agentes econômicos’ (consumidores, firmas, indústrias, nações e etc.) a meros tomadores passivos de decisões, mecanicamente atuando apenas para maximizar sua preferência marginal. A guerra dinâmica e brutal que o materialismo histórico descreve aparece nessas interpretações liberais como nada mais do que um suave balé bem ensaiado (Shaik, Anwar. Marxian Competition Versus Perfect Competition: Further Comments on the So-Called Choice of Technique. Cambridge Journal of Economics, Vol. 4, no. 1, 1980).
[19] Duarte, Cristhiano. Novas Tecnologias Disruptivas: Um Olhar Materialista Histórico, Fundação Maurício Grabois, 24 de Outubro de 2024. (disponível em https://grabois.org.br/2024/10/24/cristhiano-silva-novas-tecnologias-disruptivas-um-olhar-materialista-historico/)
[20] Kong, Patricia, et al. Unlocking Business Agility with Evidence-Based Management. Addison-Wesley Professional, 2022.
[21] Wood, Ellen Meiksins. The Question of Market Dependence. Journal of Agrarian Change, vol. 2, no. 1, 2002.
[22] Veja também o programa CityNext da Microsoft, que oferece soluções de segurança pública e de administração de justiça.
[23] Schrier, Bill. Will Smarter Cities Mean Smarter Law Enforcement?, The Police Chief, IACP, acessado em 12 de Fevereiro de 2025 (disponível em https://www.policechiefmagazine.org/will-smarter-cities-mean-smarter-law-enforcement/).
[24] Nassif, Luis. O sistema de controle da IBM no Rio de Janeiro, GGN, 16 de Março de 2012, acessado em 12 de Fevereiro de 2025 (disponível em https://jornalggn.com.br/tecnologia/o-sistema-de-controle-da-ibm-no-rio-de-janeiro/).
[25] O argumento dessa passagem também é baseado na sofisticada elaboração marxista da Ellen Meiksins Wood. Aqui nossa digressão perde força explicativa porque não estamos explorando o paralelo histórico com outros modelos de produção onde a apropriação das sobras do trabalho era obtido via coerção direta da classe produtora—diferentemente do que a autora faz de maneira magistral. O argumento completo pode ser encontrado na referência [5]. Como já dissemos antes, ainda que sofisticado, existe um deslize teórico grave na elaboração Woodiana, posto que não há uma articulação sistemática do papel jogado pela violência policial dentro do capitalismo.
[26] Souza, Jessé. O Pobre de Direita: A Vingança dos Bastardos. Civilização Brasileira, 2024.
[27] Brenner, Robert, and Dylan Riley. Seven Theses on American Politics. New Left Review, no. 138, November, 2022.
[28] Benanav, Aaron. Automation and the Future of Work. Verso, 2020.
[29] Jabbour, Elias, e Gabriele, Alberto. China: O socialismo do século XXI. Boitempo Editorial, 2021.
Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial da FMG