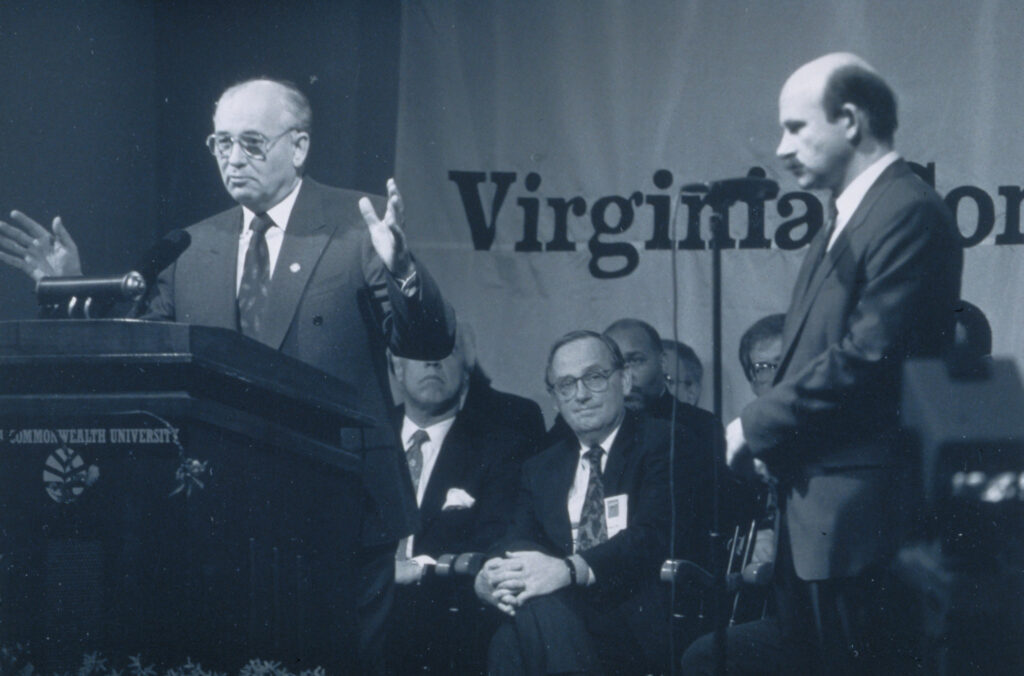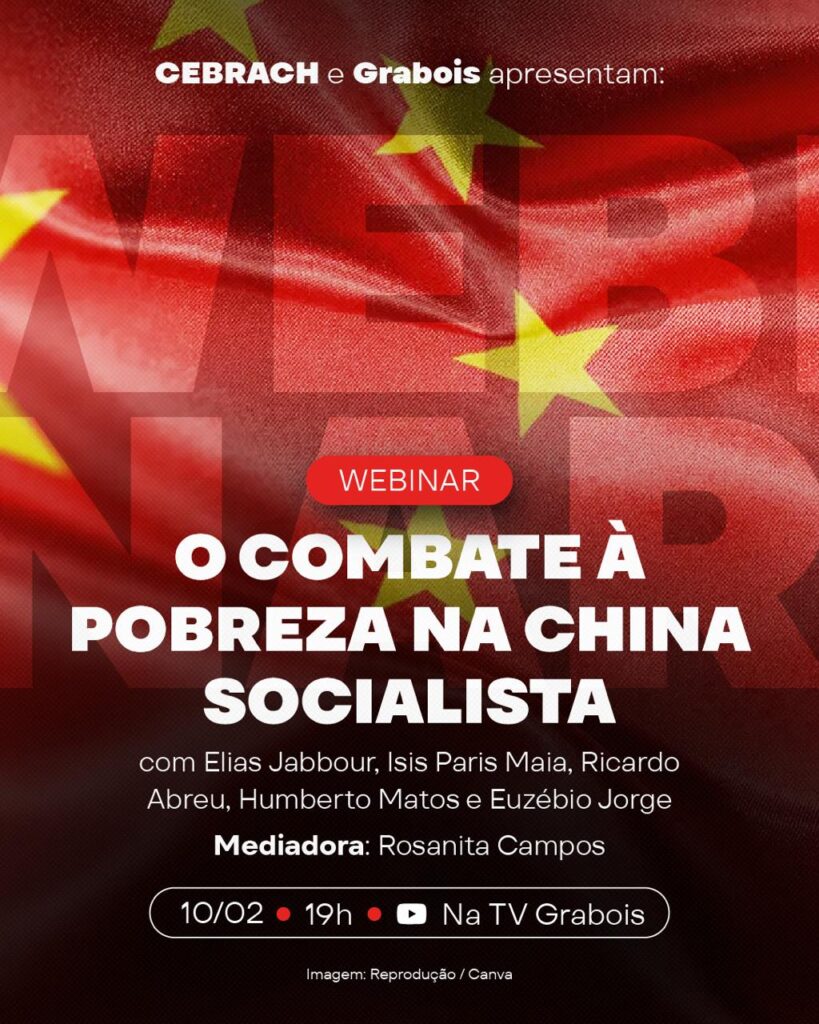Os desafios econômicos da construção do socialismo – A nova guerra comercial desencadeada pelos EUA contra o mundo, especialmente contra a China — o país que historicamente defendeu o liberalismo econômico — impôs tarifas denominadas “recíprocas”, com o suposto objetivo de promover o desacoplamento entre as duas maiores economias do planeta. A China, por sua vez, defendeu o livre comércio, a estabilidade institucional e a abertura a investimentos externos, criticando as tentativas de intimidação por parte dos EUA. Além disso, promove a multipolaridade e parcerias estratégicas na perspectiva de um “futuro compartilhado para a humanidade”.
Leia mais: Socialismo de Mercado – Como a China expande modelo econômico com abertura ao setor privado
Como chegamos a essa aparente inversão de posições no que diz respeito ao papel do mercado na economia? Na verdade, trata-se de uma inversão apenas aparente, pois o mercado sempre foi alvo de intervenções do Estado em diversas partes do mundo, com regras flexibilizadas conforme conveniências. Ainda assim, chama atenção o fato de que muitos empresários e investidores considerem a China um ambiente de negócios mais previsível, na atualidade, do que a principal potência ocidental.
Esse cenário nos estimula a retomar um debate antigo relacionado ao conceito de socialismo de mercado. Trata-se de refletir sobre a origem dessa abordagem e as experiências históricas que buscaram incorporar mecanismos de mercado em regimes socialistas, sob diferentes características e circunstâncias.
Embora hoje o conceito esteja frequentemente associado ao modelo chinês contemporâneo, suas raízes são um pouco mais antigas. A primeira experiência prática remete à criação da Nova Política Econômica (NEP), na União Soviética, implantada por Lênin, em 1921. Essa iniciativa foi motivada pelas dificuldades provocadas pelo esforço de guerra, quando foi introduzida a requisição de grãos — com o confisco de excedentes sem pagamento. Em resposta, os camponeses se recusavam a vender grãos aos preços fixados pelo Estado, exigindo em troca bens industriais, que eram escassos. Durante o comunismo de guerra, todas as fábricas foram nacionalizadas, o comércio privado foi proibido e adotou-se o racionamento de alimentos e bens.
As requisições agrícolas desestimularam a produção camponesa, e as colheitas caíram significativamente, levando à fome em larga escala. A produção industrial também caiu, e fábricas pararam por falta de matéria-prima e combustível. O rublo perdeu valor, transações passaram a ser feitas por escambo e, apesar da repressão, o mercado clandestino cresceu. Esse conjunto de fatores levou a um clima de descontentamento generalizado, com greves e revoltas.
A NEP reintroduziu elementos de economia de mercado para revitalizar a economia soviética. Permitiram-se a propriedade privada de pequenas empresas, o comércio livre e o lucro. A requisição forçada de grãos foi substituída por um imposto em produtos, permitindo a comercialização do excedente. A produção agrícola foi estimulada e viabilizou-se a iniciativa privada de pequena escala, ao mesmo tempo em que se buscou atrair investimentos externos.
Apesar do seu êxito inicial, a NEP passou a enfrentar novos problemas econômicos: elevação dos preços dos produtos industriais em relação aos agrícolas, retenção de grãos pelos camponeses mais ricos, queda nas exportações e limitação ao crescimento da indústria pesada. Com um cenário internacional cada vez mais complexo e ameaças de guerra, a URSS passou a buscar a autossuficiência na produção de alimentos e bens industriais. Esse processo levou a um modelo de economia planificada, com coletivização compulsória das propriedades do campo, industrialização acelerada e ampliação do controle estatal sobre a produção. Com o lançamento do Primeiro Plano Quinquenal, em 1928, a NEP foi encerrada.
Uma segunda experiência a considerar é a da Iugoslávia. O Partido Comunista assumiu o poder em decorrência da luta contra a invasão nazifascista. O movimento de resistência partisans, com o apoio do Exército Vermelho, estabeleceu um governo provisório entre 1944 e 1945.
Divergências dentro do movimento comunista internacional levaram à expulsão da Iugoslávia do Cominform, em 1948, impulsionando o partido iugoslavo a seguir o caminho denominado socialismo autogestionário. Empresas públicas passaram a ser geridas por conselhos de trabalhadores e competiam entre si num ambiente de mercado regulado. Ao contrário do modelo soviético de planejamento centralizado, a Iugoslávia implantou a autogestão empresarial sem renunciar ao controle político do Estado. As decisões sobre produção, salários e investimentos eram tomadas pelos próprios trabalhadores, dentro de certos marcos regulatórios definidos pelo governo. Essa descentralização permitia que o desempenho de uma empresa resultasse em sua expansão ou até mesmo em sua falência — algo típico das economias de mercado.
Nos anos 1960, o governo buscou atrair capitais estrangeiros, obter empréstimos internacionais e ampliar o comércio com economias ocidentais. Durante certo tempo, o modelo mostrou bons resultados: crescimento econômico, ganhos de produtividade e dinamismo interno. Mas as contradições não tardaram a emergir. Desequilíbrios regionais, endividamento externo crescente e pressão de organismos internacionais por reformas neoliberais fragilizaram o sistema. A morte do principal dirigente, o enfraquecimento do governo central e o avanço do nacionalismo étnico culminaram na fragmentação do país nos anos 1990 — e, com ela, o colapso da experiência autogestionária.
Na Hungria, o Partido Comunista chega ao poder no pós-guerra, em 1947. As principais medidas incluíam a estatização das grandes empresas e a coletivização no campo, com a formação de cooperativas. Após a insurreição de 1956, uma série de mudanças políticas e econômicas culminou na ruptura com os soviéticos e na implantação, em 1968, da Nova Mecânica Econômica, que introduziu autonomia relativa às empresas estatais para definir produção, investimentos e estabelecer preços. Também se permitiu a criação de pequenos empreendimentos privados e cooperativas, além de estimular o comércio com o Ocidente. Essa experiência se estendeu até 1989, culminando com o fim do regime socialista no ano seguinte.
Outra experiência a considerar: a Tchecoslováquia tornou-se uma democracia popular sob a direção do Partido Comunista em 1948, com o apoio da URSS. Na década de 1960, limitações do modelo de planejamento econômico centralizado, que vigorava desde os anos 1950 — baseado em metas de produção rígidas e foco na indústria pesada — resultaram em ineficiências, falta de inovação e baixa qualidade dos produtos. Reformas econômicas foram implantadas, reduzindo o controle estatal direto sobre empresas, permitindo que ajustassem preços e produção com base na demanda e estimulando a competição limitada entre empresas estatais.
Contudo, em 1968, a chamada Primavera de Praga foi interrompida pela invasão da URSS e de aliados do Pacto de Varsóvia, que derrubaram o governo reformista e restabeleceram o modelo de planejamento centralizado até o colapso do regime, em 1989.
É na China pós-Mao, sob o comando de Deng Xiaoping, que o socialismo de mercado se instala em maior escala. A criação das Zonas Econômicas Especiais, os incentivos à iniciativa privada, a abertura ao capital estrangeiro e a valorização do lucro como motor de produtividade transformaram a economia chinesa numa potência global.
Embora não adote oficialmente o termo “socialismo de mercado”, a China define seu modelo como “socialismo com características chinesas”. Isso implica combinar forte setor estatal, rígido controle político e sistema de planejamento centralizado com um setor privado dinâmico, que inclui empresas e marcas amplamente conhecidas internacionalmente.
O que pretendemos destacar com esse panorama, ainda que breve, é que a gestão econômica nas experiências socialistas buscou, em várias ocasiões, associar mecanismos de mercado à socialização dos meios de produção em setores estratégicos.
Essas tentativas geraram — e ainda geram — intensos debates dentro do próprio movimento comunista. A questão está, sem dúvida, associada ao problema da transição entre o modo de produção capitalista e o comunista. Com frequência, os comunistas projetaram o socialismo como uma etapa mais breve do que realmente se demonstrou.
Se Lênin via a NEP como um recuo estratégico para fortalecer as bases econômicas do socialismo, os chineses consideram que o mercado não apenas pode, mas deve ser uma ferramenta de dinamização econômica, utilizada por um período prolongado.
Nesse sentido, a economia política do socialismo permanece um tema atual e relevante, que deve continuar a ser objeto de estudo e debate em todo o mundo. Entre as questões a serem consideradas estão: o processo de transição socialista nos diferentes contextos históricos e graus de desenvolvimento das forças produtivas; as lições a serem tiradas das experiências históricas e as principais causas do retrocesso; a coexistência de formas de propriedade estatal, social e privada; a participação da sociedade na gestão das empresas e no planejamento econômico centralizado e descentralizado; a inserção do socialismo na economia capitalista global; e o papel do mercado nas experiências socialistas.
Estes são apenas alguns aspectos da temática geral do desenvolvimento da economia do socialismo, destacando que a economia é política — e que questões sobre a liderança do processo revolucionário, o grau de participação social e as mudanças na estrutura e no papel do Estado são igualmente relevantes.
Nilton Vasconcelos é doutor em Administração Pública, ex-secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia. É membro do Grupo de Pesquisa sobre Estado e
*A coluna de Nilton Vasconcelos tem periodicidade mensal e é publicada no dia 3 de cada mês.
**Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.