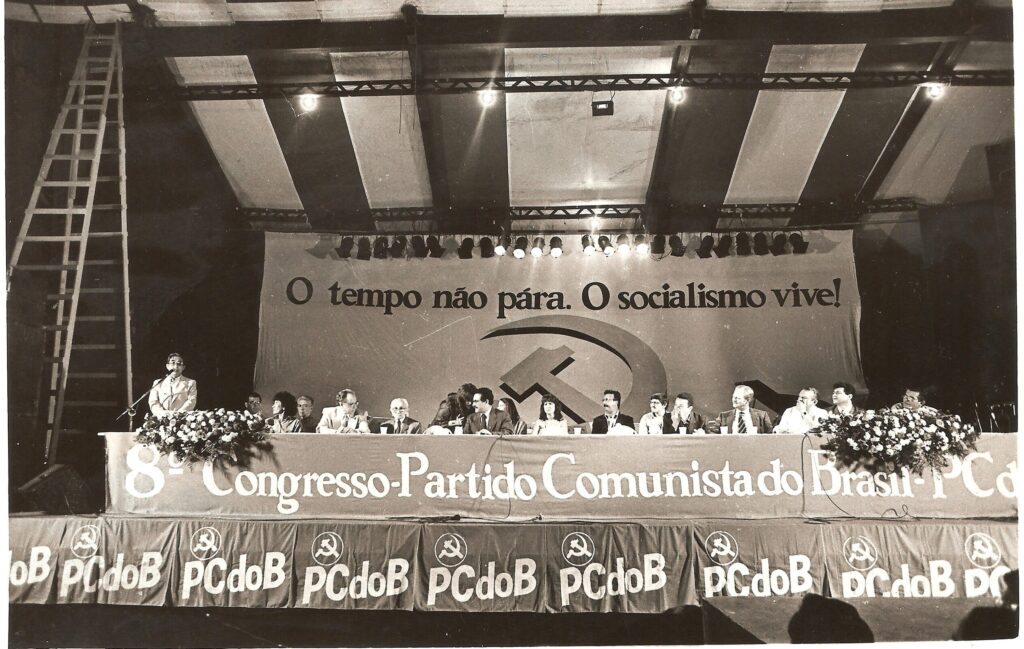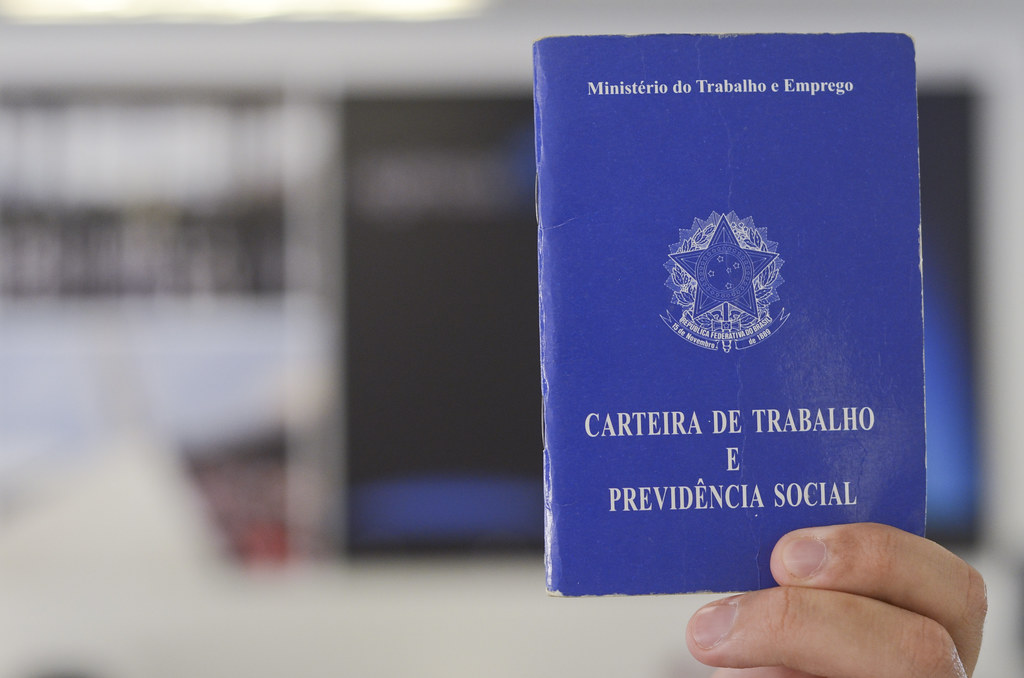A Ousadia da Lei 8.080: O Futuro que o SUS Insiste em Construir hoje
Neste 19 de setembro, ao celebrarmos os 35 anos da Lei nº 8.080, é preciso ir além da justa comemoração. É necessário reconhecer a profunda ousadia contida em sua concepção: uma inovação jurídica que, em 1990, não apenas instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), mas lançou as bases para o futuro. Seus idealizadores, mesmo sem prever a revolução tecnológica que transformaria o mundo, criaram uma norma jurídica perfeita para a complexidade que estava por vir.
A Lei 8.080 nasceu como um elemento de tensão deliberada com a realidade da época. Sua missão era monumental: construir um sistema de saúde universal, integral e equitativo sobre as ruínas de um modelo centralizador e excludente, personificado no antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps).
Descentralização: o coração do SUS
A lei foi, e continua sendo, uma declaração anticentralizadora. Ela transferiu o poder e a responsabilidade para a ponta, para os 5.570 municípios e as 27 unidades federativas, onde a vida real acontece. Sem essa descentralização, o SUS que temos hoje não teria surgido.
As planilhas de Brasília seriam incapazes de administrar, simultaneamente, todas as realidades que determinaram, em cada localidade, a atual composição do conjunto de ações e serviços de saúde que integram o Sistema Único de Saúde. É preciso reconhecer a realidade local e quem a administra.
Aqui reside um dos maiores desafios do SUS: como construir um sistema de alta performance em uma estrutura radicalmente descentralizada? Como garantir coesão em uma trama pluripartidária complexa, com mais de 30 partidos políticos e um ciclo eleitoral que se renova a cada dois anos?
A resposta está na própria arquitetura da lei.
- Para acessar o texto integral da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, clique aqui
Poder distribuído e participação social
A Lei 8.080 desenhou um Ministério da Saúde com funções claras e estratégicas — indutor, regulador, coordenador e avaliador —, mas não como o executor finalístico da assistência, salvo raras exceções. Dois anos após sua publicação, a 9ª Conferência de Saúde apontou que o caminho era a municipalização. E ainda é, agora com uma grande oportunidade histórica.
Estados e municípios precisam de apoio do poder central para recompor o financiamento, incorporar tecnologia, redimensionar recursos, cobrir vazios assistenciais, ganhar desempenho e, principalmente, organizar os complexos regionais de regulação do acesso. A autonomia na execução, pilar da descentralização, não significa abandono; pelo contrário, ela exige um poder central forte em seu papel de coordenador e indutor. Estados e municípios não precisam de substitutos.
Leia também:
O Complexo Econômico Industrial da Saúde e a democratização do acesso à saúde
Mudanças estruturais para o Brasil do século XXI
O STF, as empresas e a judicialização da saúde no Brasil
A composição dos serviços do SUS assemelha-se a uma rede de pontos de diferentes cores, tamanhos e formas. A normatização infralegal do SUS, com suas portarias e resoluções, funciona como as regras de um sistema complexo, permitindo que a dialética entre a realidade local e as possibilidades mais arrojadas encontre formas de organização. Contudo, essas regras são apenas a estrutura; o que dá vida à norma e movimento à rede é o exercício concreto do poder. A letra, por si só, é morta.
O poder no SUS não é um monólito; ele é distribuído, negociado e exercido em diferentes escalas. É aqui que a participação social, materializada nos Conselhos e Conferências de Saúde, revela-se uma tecnologia democrática essencial. São nessas arenas que sociedade civil, trabalhadores e gestores exercem o poder compartilhado, fiscalizam e definem os rumos da saúde, garantindo que o sistema permaneça permeável às necessidades da população.
No âmbito local, nos estados e municípios, o poder é concreto. Ter serviços é ter poder, e a recusa em exercê-lo transforma o potencial emancipatório do SUS em mero gerencialismo burocrático. É na ponta que a política se materializa em cuidado, que o direito se converte em acesso.

Ato em defesa do SUS, da Vida e da Democracia durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 04/07/2023. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
O papel do poder federal e a construção de consensos
Já na dimensão federal, o exercício do poder é de outra natureza. Não se trata do poder de “ter serviços”, mas da beleza de criar iniciativas, conciliar na diversidade, rejuntar mosaicos e conectar os múltiplos cabos soltos de um sistema com dimensão continental.
O SUS não tem Rei ou Rainha a quem se deva temer ou amar. A lógica do poder descrita por Maquiavel, a “Arte da Guerra” de Sun Tzu ou as tramas de um Cardeal Mazarino não apenas atrapalham, como são a antítese do que o SUS precisa. A dissimulação, a traição, a retórica vazia e a estante de vaidades não constroem um sistema de saúde; elas o corroem.
O desafio cotidiano do SUS é a própria realização da política: a dicotomia entre o plano e a execução, entre o saber o que fazer e o conseguir fazer. É o exercício do poder que se afasta da coerção e se aproxima da persuasão, do consenso, do bom senso e do tempo do hoje. É essa capacidade de construir consensos que permite, por exemplo, costurar redes de atenção e linhas de cuidado eficazes. A construção de um sistema que insiste em dar certo, que teima em transformar realidades, caminha na velocidade do equilíbrio, das posições de centro, e no desafio concreto de estabelecer, ao conjunto de pontos que compõe o SUS, uma interconexão que organize de fato a jornada do usuário dentro de um sistema que precisa existir com alto desempenho assistencial.
O SUS pede mais Gramsci
O SUS não pode ser lido apenas pela lente da política com “p” minúsculo — a disputa eleitoral rasa, conjuntural ou administrativa. Ele exige uma compreensão de totalidade, uma apropriação ampliada da Política como projeto histórico de hegemonia, no sentido gramsciano. Mais do que uma política pública, o SUS é um projeto contra-hegemônico: organiza forças sociais, institucionais e culturais em torno da saúde como direito universal, e não como mercadoria ou como gancho para agendas sectárias e proselitistas que torturam a categoria da equidade, reduzindo-a a um conceito incompatível com a universalidade.
Isso significa que o SUS pede intelectuais orgânicos, capazes de articular gestão, clínica, pesquisa e militância em um mesmo campo de disputa pela hegemonia do direito à vida. Pede também uma apropriação avançada da Política como arte de compor consensos e conduzir vontades coletivas. E pede, finalmente, a imersão crítica na revolução científico-técnica em curso — big data, inteligência artificial, biotecnologia, redes interconectadas — para que essas ferramentas não sejam apenas tecnologias de mercado, mas instrumentos emancipatórios e componentes de um projeto nacional soberano.
Para ver: Filme Quando Falta o Ar mostra o SUS que enfrentou a covid
Seus fundadores talvez não tenham previsto este mundo, mas criaram uma norma que se revelou perfeita para o futuro que vivemos hoje, capaz de abrigar e conduzir tais transformações.
Portanto, defender o SUS hoje é defender essa ousadia original. É compreender que sua força não está em um comando central, mas na inteligência coletiva de sua rede e na vitalidade de seu controle social. É lutar por um exercício de poder que seja pragmático, fundamentado no pensamento crítico e apropriado das ciências tecnológicas atuais, e que tenha como único objetivo a efetivação do direito à saúde.
Mesmo sob constantes ataques e diante do desafio crônico do subfinanciamento, o SUS persiste. Há 35 anos, uma lei nos deu o mapa para o futuro. Nossa tarefa é continuar, com coragem e persistência, a construir esse caminho.
A revolução sanitária que o tempo de hoje exige do SUS não depende de sua revisão legal, mas de sua implementação. Aliás, quando menos mexerem nos artigos 196-200 da Constituição Federal e na lei 8.080/90, melhor para o SUS.
Nésio Fernandes é médico sanitarista. Foi Secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde (CONASS) e Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo. Também atuou como Secretário Municipal de Saúde de Palmas (TO).
Este é um artigo de opinião. A visão do autor não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.