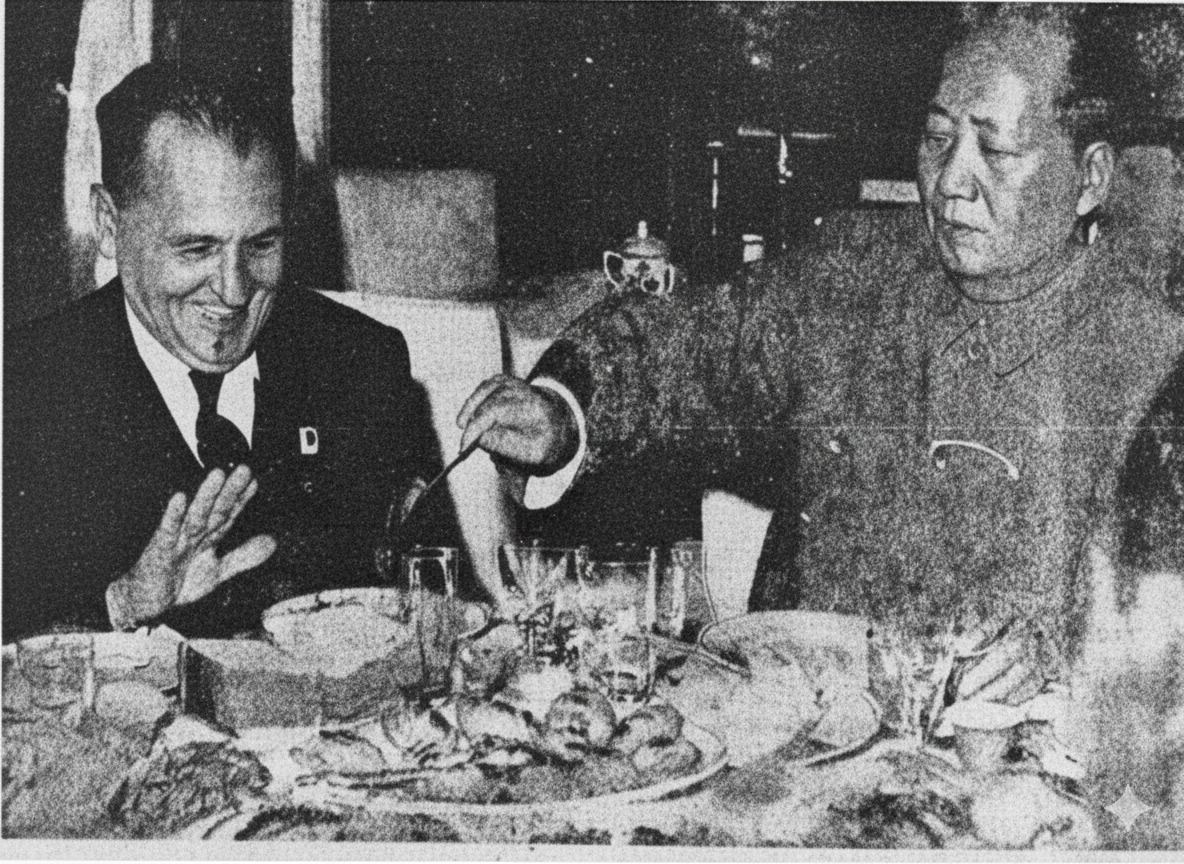Para acelerar o processo de desenvolvimento econômico e social do Brasil, é necessário realizar mudanças na regulação macroeconômica de curto prazo e reformas estruturais, que superem os entraves impostos pelo neoliberalismo e as limitações seculares da economia brasileira. Neste artigo são apresentadas algumas reflexões sobre o primeiro desafio a ser superado, a necessidade de abolir (ou transformar) o tripé da política macroeconômica brasileira vigente desde 1999: austeridade fiscal (superávit primário); meta de inflação (via juros); taxa de câmbio flutuante.
Em relação ao dogma da “austeridade fiscal”, entendido como superávit primário (no mínimo equilíbrio) no orçamento do governo, o Novo Arcabouço Fiscal (NAF), ou melhor, o Novo Regime Fiscal Sustentável (RFS), aprovado pelo Congresso e sancionado por Lula em 2023, possibilitou ao governo ganhar tempo em comparação à Emenda Constitucional 95/2016 do Teto dos Gastos do Temer. O RFS permite um crescimento mínimo da despesa pública de 0,6% além da inflação. Entretanto, acima deste mínimo, limita o crescimento da despesa primária em 70% do crescimento real da receita e ainda impõe um teto de 2,5%, mesmo que o PIB e a receita cresçam além deste patamar. Esses tetos são incompatíveis com a manutenção dos pisos constitucionais (educação, saúde, transferências para estados e municípios etc.), pois se ambos forem mantidos, no longo prazo não haverá recursos para despesas discricionárias. Pior, quanto mais rápido for o crescimento do PIB menos longo será esse prazo.
Leia também:
50 anos de Valor e Capitalismo: Belluzzo e a gênese da Escola de Campinas
Pochmann: como a desindustrialização moldou as cidades brasileiras
Talvez, no próximo governo, seja possível obter pelo menos um importante avanço institucional em comparação com o RFS. Exigir equilíbrio fiscal primário apenas para as despesas de custeio, excluindo do cálculo os investimentos em grandes projetos estruturantes que aumentem a capacidade produtiva da economia e acelerem o desenvolvimento. Em contrapartida, poderia ser estabelecido um limite máximo da dívida pública em percentual do PIB, como já existe em alguns países.
Por que essa alternativa é melhor (menos ruim) do que o atual RFS?
Primeiro, porque a sustentabilidade da dívida pública ou o risco de uma trajetória explosiva dela no longo prazo, é um dos principais (apesar de falso) pretextos dos neoliberais para a “austeridade fiscal”. Na verdade, não existe justificativa econômica para o estabelecimento de um limite da dívida pública federal, desde que ela seja estabelecida em moeda nacional. O Japão é o maior exemplo.
A título de comparação, a Tabela 1 apresenta a dívida pública do “governo geral” (incluí todos os poderes e divisões subnacionais) em percentual do PIB, de algumas das maiores economias do mundo em 2023. A do Brasil, 84,7% do PIB, estava na média mundial e abaixo da média entre os países de maior PIB. O setor público no Brasil teve um superávit primário de 0,6% do PIB, para um déficit médio de 2,2% nos países selecionados. Se a taxa de juros reais (descontada a inflação) fosse 0,0% ou negativa, como acontece em alguns países, o Brasil não teria tido déficit nominal. Entretanto, teve o segundo pior déficit nominal, 7,6% do PIB, porque ele incluiu 8,2% do PIB de pagamento de juros. Considerando apenas o governo federal no Brasil e desconsiderando o efeito da variação cambial (desvalorização), houve um déficit primário de 1,0% do PIB em 2023, mais 1,2% do PIB pelo pagamento de precatórios vencidos e não pagos em 2022.
A Tabela 1 também mostra que a taxa de inflação média foi de 4,6% (igual à do Brasil) e a taxa de juros reais de longo prazo média de 0,0% (a Argentina foi eliminada da média por ter sido um ponto muito fora da curva). A taxa de juros reais paga pelos títulos públicos do Brasil é a única variável pior do que a média dos países de maior PIB do mundo, não por fatores econômicos reais como inflação, déficit primário ou dívida pública, mas por decisão política do Conselho de Política Monetária (Copom), capturado pelos rentistas. Desde o início de 2025, o Copom não é mais comandado pela equipe nomeada pelo Bolsonaro, mas a equipe indicada por Lula mantém inalterada a política monetária. Em consequência o setor público do Brasil paga o maior montante de juros em percentual do PIB e tem um dos piores déficits nominais.
Tabela 1: Dívida Pública e Resultado Orçamentário em % do PIB, taxa de juros e taxa de inflação – 2023
|
País |
Dívida Pública em % PIB |
Resultado Primário do Gov. Geral em % do PIB |
Juros Pagos Div. Púb. % do PIB |
Resultado Nominal do Gov. Geral em % do PIB |
Taxa de Juros de longo Prazo – FMI % a.a. |
Inflação % a.a. |
| Japão |
249,7 |
-3,0 |
1,2 |
-4,2 |
-2,7 |
3,3 |
| Argentina |
155,4 |
-2,8 |
2,6 |
-5,4 |
36,3 |
133,49 |
| Itália |
134,8 |
-3,5 |
3,7 |
-7,2 |
-1,6 |
5,9 |
| EUA |
118,7 |
-3,2 |
3,9 |
-7,1 |
-0,2 |
4,1 |
| França |
109,9 |
-3,6 |
1,9 |
-5,5 |
-2,7 |
5,7 |
| Canadá |
107,5 |
2,6 |
3,2 |
-0,6 |
-0,6 |
3,9 |
| Reino Unido |
100,0 |
-2,9 |
3,1 |
-6,0 |
-3,2 |
7,3 |
| Zona do Euro |
88,6 |
-1,2 |
2,3 |
-3,5 |
s/d |
2,9 |
| Brasil |
84,7 |
0,6 |
8,2 |
-7,6 |
6,9 |
4,6 |
| China |
84,4 |
-6,0 |
0,9 |
-6,9 |
2,5 |
0,2 |
| Índia |
83,0 |
-2,9 |
5,4 |
-8,3 |
s/d |
5,4 |
| Alemanha |
62,7 |
-1,7 |
0,9 |
-2,6 |
-3,6 |
6 |
| Rússia |
19,5 |
-1,5 |
0,8 |
-2,3 |
5,4 |
5,9 |
|
MÉDIA |
107,6 |
-2,2 |
2,9 |
-5,2 |
0,0 |
4,6 |
Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI). Elaboração própria.
O segundo — e principal — motivo da proposta de revisão do RFS é que para conter o crescimento da dívida pública como proporção do PIB, é preciso fazer a taxa de crescimento real do PIB (denominador da razão) superar a taxa de expansão da dívida pública (numerador da razão). A Tabela 2 apresenta uma simulação dos superávits fiscais (em preto) ou déficit (vermelhos e negativos), que permitiriam manter a dívida pública em percentual do PIB constante, dadas as diferentes taxas de juros reais (primeira coluna à esquerda, de 0% a 12%) e as diferentes taxas de crescimento do PIB (primeira linha de números, de 1% a 8%). Nesta simulação foi considerado o atual estoque da dívida bruta do governo geral (União, estatais, UFs e municípios) em 77,5% do PIB, para agosto de 2025, segundo o Banco Central [1].
Como podem observar, quanto menor for a taxa de juros reais paga pelos títulos públicos e quanto maior for a taxa de crescimento do PIB, menor poderá ser o superávit ou maior o déficit, para manter a dívida pública constante em percentual do PIB. Por exemplo, uma taxa de juros reais de 2% ao ano, permitiria um déficit primário de 2,6% do PIB, se o PIB crescesse à taxa de 5% a.a.
Tabela 2: Déficit ou Superávit Primário em % do PIB para manter Dívida Pública Constante em % do PIB
|
Taxas de Crescimento do PIB em % a.a. |
|||||||||
|
Tx. Juros Real % a.a. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
0,0 |
-1,2 |
-1,9 |
-2,7 |
-3,4 |
-4,1 |
-5,1 |
-5,5 |
-6,1 |
Déficit (-) ou Superávit (+) do setor público, em % do PIB, para manter dívida pública contante em % do PIB. |
|
0,5 |
-0,8 |
-1,5 |
-2,3 |
-3,0 |
-3,7 |
-4,7 |
-5,1 |
-5,8 |
|
|
1,0 |
-0,4 |
-1,2 |
-1,9 |
-2,6 |
-3,4 |
-4,3 |
-4,7 |
-5,4 |
|
|
2,0 |
0,4 |
-0,4 |
-1,2 |
-1,9 |
-2,6 |
-3,5 |
-4,0 |
-4,7 |
|
|
3,0 |
1,2 |
0,4 |
-0,4 |
-1,1 |
-1,9 |
-2,7 |
-3,3 |
-4,0 |
|
|
4,0 |
1,9 |
1,1 |
0,4 |
-0,4 |
-1,1 |
-2,0 |
-2,6 |
-3,3 |
|
|
5,0 |
2,7 |
1,9 |
1,1 |
0,3 |
-0,4 |
-1,2 |
-1,8 |
-2,6 |
|
|
6,0 |
3,5 |
2,6 |
1,9 |
1,1 |
0,3 |
-0,4 |
-1,1 |
-1,8 |
|
|
7,0 |
4,3 |
3,4 |
2,6 |
1,8 |
1,1 |
0,4 |
-0,4 |
-1,1 |
|
|
8,0 |
5,0 |
4,2 |
3,4 |
2,6 |
1,8 |
1,2 |
0,3 |
-0,4 |
|
|
9,0 |
5,8 |
4,9 |
4,1 |
3,3 |
2,6 |
1,9 |
1,0 |
0,3 |
|
|
10,0 |
6,6 |
5,7 |
4,9 |
4,1 |
3,3 |
2,7 |
1,8 |
1,0 |
|
|
11,0 |
7,4 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,0 |
3,5 |
2,5 |
1,8 |
|
|
12,0 |
8,1 |
7,2 |
6,4 |
5,6 |
4,8 |
4,3 |
3,2 |
2,5 |
|
Fonte: Elaboração própria a partir da metodologia indicada por Giambiagi (2011, p. 205)[2]
Para o PIB crescer mais rápido o Estado precisa aumentar seus próprios investimentos produtivos. Infelizmente, segundo dados disponibilizados pelo Observatório de Política Fiscal da FGV-IBRE [3], de 2021 a 2024 o investimento do governo federal (GF) foi de insignificantes 0,28% do PIB. Ao incluir os investimentos das empresas estatais (EE) sobe para apenas 0,92% do PIB, e somando os investimentos dos estados e municípios (EM) alcança 2,55% do PIB. A média dos respectivos valores para o período 1947 a 2024 é respectivamente 1,07% (GF), 2,93% (GF+EE) e 4,73% (GF+EE+EM). A média entre 1947-2024 ignora grandes investimentos do governo federal na década de 1940, como a construção da Vale do Rio Doce, da Companhia Siderúrgica Nacional e da Fábrica Nacional de Motores no Governo Vargas, e desconsidera que a média foi bastante puxada para baixo a partir de 1979.
Mesmo as estimativas de economistas conservadores, que apresentam um multiplicador dos gastos gerais do governo menor do que 1, ou seja, que elevam o PIB menos do que a despesa pública realizada, quando calculam em separado o multiplicador dos investimentos públicos, reconhecem que ele é maior do que 1 no curto prazo (um ano) e tem um efeito ainda maior com o tempo. As estimativas mais pessimistas apontam para um efeito multiplicador do investimento público na ordem de 1,5 no curto prazo e 2,5 a médio prazo, e as estimativas otimistas na faixa de 2,0 no curto prazo e de 4,0 no longo prazo [4].
O efeito multiplicador dos investimentos é maior: no curto prazo, por se tratar de obras de infraestrutura, estatais produtivas, laboratórios de pesquisas etc., que demandam mais investimentos dos fornecedores contratados para executar o projeto; no longo prazo, porque quando aqueles investimentos ficam prontos eles aumentam a capacidade produtiva da economia e reduzem custos. Em relação aos gastos de custeio, as transferências para os mais pobres como Bolsa Família (1,78) e BPC (1,19) têm multiplicador maior que 1,0, enquanto nas aposentadorias privadas e públicas e salário do funcionalismo o multiplicador é menor que 1,0 [5]. Nestes últimos é esperado algum vazamento para a poupança e maior vazamento para bens ou serviços importados.
- Na TV Grabois, Luciano Coutinho e Aloísio Barroso analisam as mudanças no capitalismo global e os desafios do Brasil. Confira:
A segunda perna do tripé macroeconômico é a política de metas de inflação. Atualmente a regra estabelece a meta de horizonte contínuo para a inflação acumulada em 12 meses em 3% a.a., com intervalos de tolerância 1,5% (no máximo 4,5%, no mínimo 1,5%). O centro da meta é um objetivo irrealista para uma taxa média de inflação de 6,5% a.a., calculada a partir de janeiro de 1996. Até 2024, a meta de inflação era aferida ao final de cada ano calendário. Apenas em 1998 (1,65%), 2017 (2,95%) e, arredondando para baixo, em 2006 (3,14%), o IPCA alcançou o patamar do atual centro da meta.
No mínimo, deve ser estabelecida uma meta de inflação realista para as condições econômicas e institucionais do Brasil, mais próxima da média histórica de 6,5% ao ano. A melhor alternativa é combinar a meta de inflação com uma meta de crescimento econômico e/ou de emprego, como muitos países fazem, inclusive os EUA. Uma sugestão é definir a regra com base na “taxa de sacrifício” que reflete o trade-off (escolha entre opções conflitantes), de curto prazo, entre uma política econômica contracionista para combater a inflação e expansionista para combater o desemprego. No Gráfico 1 foram plotados três índices diferentes para essa taxa, devido à descontinuidade das estatísticas de desemprego ou desocupação fornecidas pelo IBGE. Uma taxa de sacrifício de 12,5%, com um intervalo de tolerância de 2,5%, refletiria os melhores momentos da economia brasileira desde o Plano Real. Talvez seja o melhor que o Brasil possa manter, sem que antes se revertam as condições estruturais criadas pelas reformas neoliberais implementadas no país desde 1990 e se supere antigos problemas do processo de subdesenvolvimento.
Gráfico 1: Taxa de Sacrifício (inflação + desemprego) Brasil – janeiro/1996 a maio/2025 – em %

Fonte: Dados fornecidos pelo IBGE. Elaboração própria.
Outra importante providência é retirar da taxa básica de juros (SELIC) a responsabilidade principal (senão exclusiva) do controle da taxa de inflação. Esse encargo deve ser compartilhado com a política fiscal, no curto prazo. No longo prazo depende do conjunto das políticas econômicas voltadas para a expansão da capacidade de oferta e redução de custos, como a política industrial, a política agrícola e de reforma agrária etc. Excluindo os casos excepcionais da Rússia em guerra e da Argentina (esta foi retirada da média de inflação e das taxas de juros), a SELIC brasileira está muito acima da média entre as maiores economias do mundo (ver Tabela 3), impactando negativamente na taxa de crescimento do PIB, no déficit orçamentário nominal e na dívida pública em proporção ao PIB (como visto na Tabela 1).
Tabela 3: Taxa de crescimento do PIB (2024), Taxa de Inflação e Taxa de juros (setembro/2025)
| País |
Tx. Cresc. do PIB % (2024) |
Inflação % a.a. (Set-2025) |
Juros Nominais % a.a. (set-2025) |
Juros Reais % a.a.(set-2025) |
| Alemanha |
-0,2 |
2,4 |
2,2 |
-0,2 |
| Argentina |
-1,7 |
31,8 |
29 |
-2,8 |
| Brasil |
3,4 |
5,2 |
15 |
9,8 |
| Canadá |
1,5 |
2,4 |
2,5 |
0,1 |
| China |
5,0 |
-0,3 |
3 |
3,3 |
| EUA |
2,8 |
3 |
4,3 |
1,3 |
| França |
1,2 |
1,2 |
2,2 |
1 |
| Índia |
6,5 |
1,5 |
5,5 |
4 |
| Itália |
0,7 |
1,6 |
2,2 |
0,6 |
| Japão |
0,1 |
2,9 |
0,5 |
-2,4 |
| Reino Unido |
1,1 |
3,8 |
4 |
0,2 |
| Rússia |
4,3 |
8 |
17 |
9 |
| Zona do Euro |
0,9 |
2,2 |
2,2 |
|
| MÉDIA |
2,0 |
2,8 |
6,9 |
1,8 |
Fonte: Trading Economics. Elaboração própria.
Em relação ao terceiro elemento do tripé macroeconômico, a taxa de câmbio flutuante, existe um trade-off entre os objetivos desejáveis. Quanto ela cai, no curto prazo contribui para reduzir a inflação, mas reduz as exportações e aumenta as importações prejudicando a indústria e os empregos. Quanto a taxa de câmbio sobe, no curto prazo pode elevar a inflação prejudicando o salário real, mas a médio prazo pode favorecer o emprego, sobretudo o industrial. Certamente está fora de questão uma taxa de câmbio fixa como a do Plano Cavallo, da Argentina, em 1991, que fixou o Peso na paridade de um para um com o Dólar, e resultou na grande crise econômica do “corralito” em 2001-2002. Ou o retorno da âncora (bandas) cambial com o objetivo de manter o Real sobrevalorizado, como foi durante todo o primeiro mandato do governo FHC. Com objetivos opostos ao da Argentina e do Brasil, a China manteve fixa sua taxa de câmbio por décadas, para evitar a valorização do Yuan e manter seu esforço de crescimento puxado pelas exportações de manufaturados.
Leia mais:
Desdolarização, “corrida” ao ouro e o Brasil
Três caminhos da economia brasileira: neoliberalismo, novo e social-desenvolvimentismo
Meta de inflação e juros altos: política monetária prejudica o Brasil e enriquece setor financeiro
O mais importante é que a taxa de câmbio não continue sobrevalorizada, como tem ocorrido no Brasil na maior parte do tempo desde o Plano Real. Pelo excesso de exportações de commodities que causa a “doença holandesa” e pelo “populismo cambial”[6], mas, sobretudo, pela manutenção de uma taxa de juros reais muito elevada. A linha azul do Gráfico 2 mostra o valor estimado para a taxa de câmbio nominal, corrigida pela inflação brasileira e descontada a inflação dos EUA, ambas desde julho de 1994. A taxa estimada para 31 de agosto de 2025 foi R$ 7,35 por Dólar. Em laranja foi plotada a evolução da taxa de câmbio nominal no mesmo período, fechando o mês de agosto em R$ 5,43 por Dólar, uma diferença de 35%.
Gráfico 2: Taxa de Câmbio R$/US$ Estimada e Taxa de Câmbio Nominal

Fonte: FMI para o IPC-EUA, IBGE para o IPCA e IPEADATA para a taxa de câmbio nominal
O Banco Central deve reduzir a taxa de juros reais (mesmo que gradualmente) para níveis aceitáveis internacionalmente, no máximo 2% a.a. acima da inflação, e deixar a taxa de câmbio flutuar livremente, para cima, enquanto houver a provável saída de capitais especulativos. Durante o período de ajuste da taxa de juros e da taxa de câmbio a taxa de inflação deverá ficar mais alta. Portanto, é recomendável uma carência para a aferição da meta de inflação (ou o que vier a substituir). Por outro lado, a taxa de crescimento do PIB deverá ficar maior e a taxa de inflação menor, principalmente se essa política for combinada com a política fiscal que aumente os investimentos produtivos do Estado, conforme sugerido acima.
Concluindo: o tripé macroeconômico em vigor foi criado para substituir a fracassada âncora cambial, mantida à fórceps durante o primeiro mandato de FHC, ao custo de déficit na balança comercial, déficit em transações correntes, aumento explosivo da dívida externa e da dívida pública e esgotamento das reservas cambiais, apesar do aumento da carga tributária e da privatização. Embora seja menos nefasto do que foi a política de bandas cambiais, ele tem mantido o nível de crescimento da economia bem mais baixo do que poderia ser. Sem abolir ou modificar substancialmente o tripé macroeconômico vigente, não será possível destravar os investimentos públicos e privados, condição sem a qual será impossível haver novo período de crescimento acelerado da economia.
Sinival Pitaguari é professor de Economia na Universidade Estadual de Londrina (UEL), doutorando em Economia na UnB. Integra o quadro de professores da Escola Nacional João Amazonas, do PCdoB.
*Este é um artigo de opinião. As ideias expressas pelo autor não necessariamente refletem a linha editorial da Fundação Maurício Grabois.
Notas
[1] Brasil. Banco Central. Estatísticas fiscais. Nota para a imprensa – 30/09/2025.
[2] Ver Giambiagi, Fábio. Rompendo com a Ruptura: O Governo Lula (2003-2010). In: Giambiagi, F. et. Al. Economia Brasileira Contemporânea (1945-2010), 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 197-237. Fórmula e exemplo numérico diferente na página 205.
[3] Pires, Manuel C. Investimentos Públicos: 1947-2024. Observatório de Política Fiscal, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Instituto Brasileiro de Economia (IBRE).
[4] Busato, M. I.; Martins, N. M. Multiplicadores Fiscais No Brasil: entre consensos e dissensos. Revista de Economia Contemporânea, v. 28, p. 1 -32, 2024.
[5] NERI, M. C.; VAZ, F. M.; SOUZA, P. H. G. F. Efeitos macroeconômicos do programa bolsa família: uma análise comparativa das transferências sociais. In: CAMPELLO, T., NERI, M. C. (Org.). Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania. Brasília: Ipea, 2013, v. 01. Cap.11, p. 193-206.
[6] Bresser-Pereira, L. C. Novo Desenvolvimento, Estudos Avançados, 26 (75), Ago. 2012, p. 7-28.