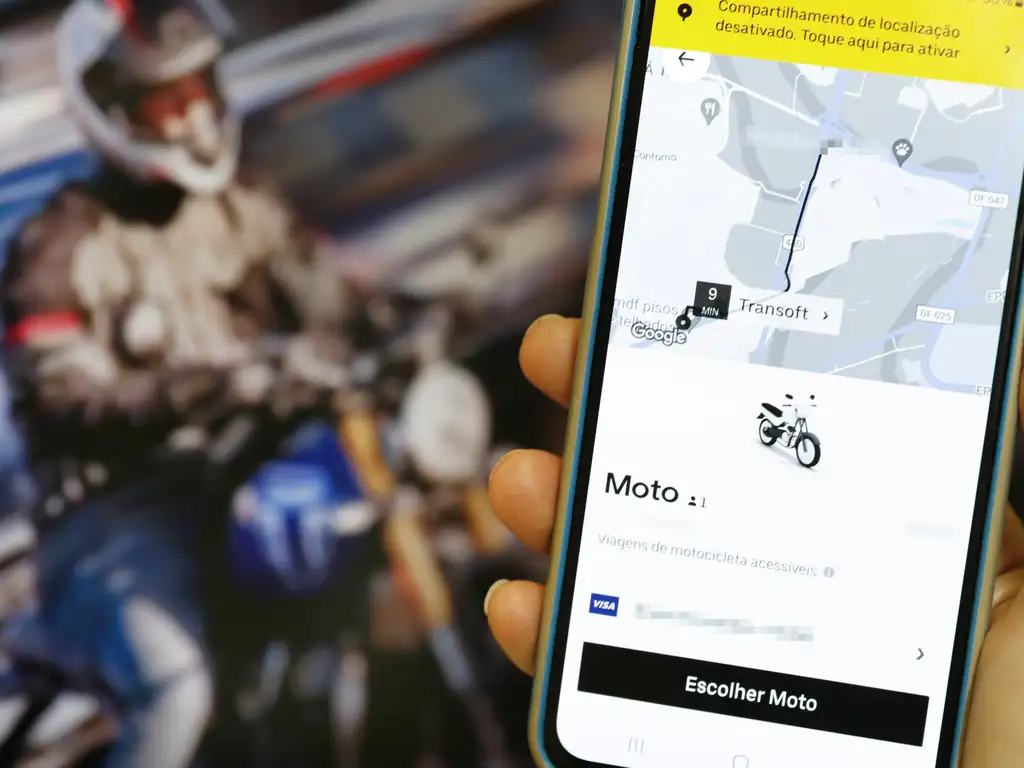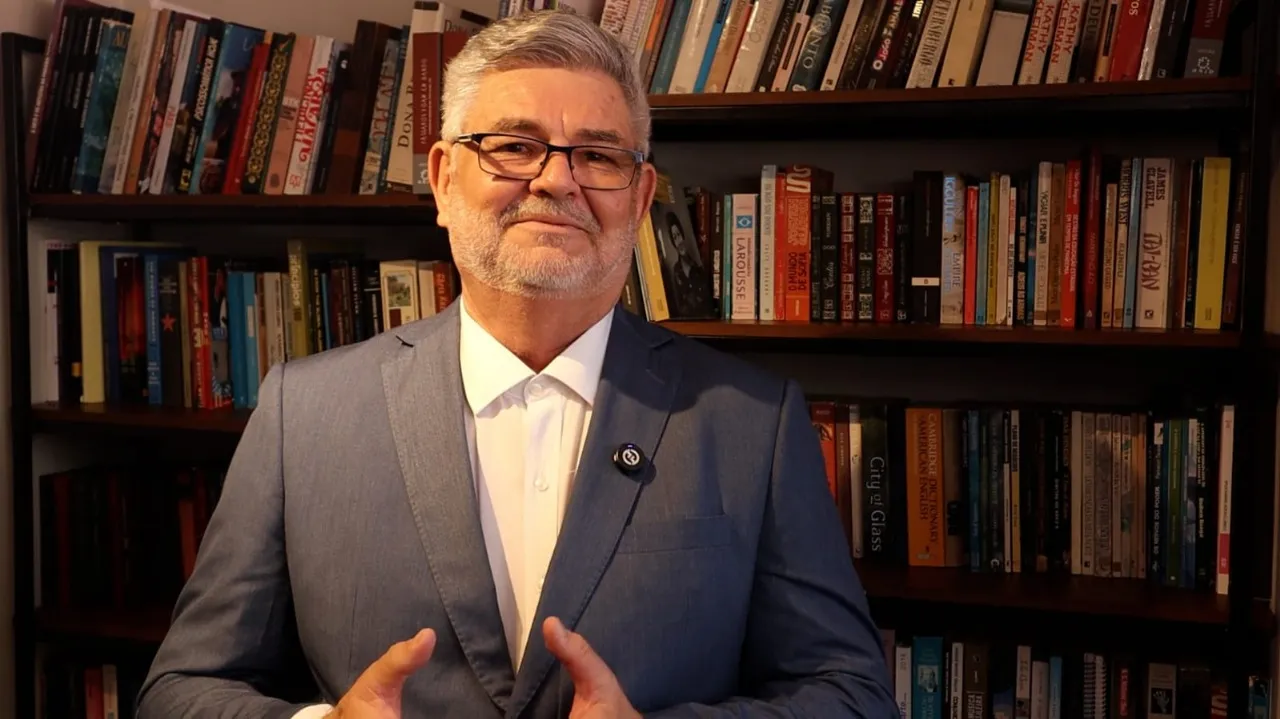Metamorfose do fetiche: de Marx ao Vale do Silício
Marx, no capítulo sobre “O caráter fetichista da mercadoria e seu segredo” em O Capital, desvenda como as relações sociais entre pessoas aparecem fantasmagoricamente como relações entre coisas. A mercadoria, criação do trabalho humano, ganha vida própria e passa a dominar seus criadores. Hoje, assistimos a uma metamorfose ainda mais perversa: o algoritmo, criação do trabalho cognitivo coletivo, não apenas ganha vida própria, ele se torna o mediador universal da experiência humana.
O fetichismo da mercadoria ocultava as relações de exploração por trás do valor de troca. O fetichismo algorítmico oculta algo ainda mais profundo: a própria possibilidade de comunicação autêntica entre seres humanos. Se para Marx “o caráter misterioso da forma-mercadoria consiste simplesmente em que ela reflete aos homens os caracteres sociais do seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho”, o algoritmo reflete aos homens suas próprias conexões sociais como propriedades objetivas das plataformas digitais.
Leia mais:
Bilionários das Big Techs evidenciam farsa da meritocracia e do mito da garagem
Capital-informação: Poder e desigualdade no capitalismo digital em 25 tese
Isca algorítmica: o anzol dourado do capital digital
As plataformas digitais operam com iscas precisas, calibradas por bilhões de interações. Não é acaso que o termo “engajamento”, antes reservado ao compromisso político revolucionário, foi sequestrado pelo vocabulário corporativo do Vale do Silício. A isca fundamental: a promessa de conexão universal, de falar para o mundo inteiro, de romper todas as barreiras comunicativas.
Como o peixe que morde o anzol dourado sem ver o pescador, o usuário morde a isca da comunicação ilimitada sem perceber que está sendo pescado. Cada like é um dado. Cada comentário, uma mercadoria. Cada compartilhamento, mais-valia extraída do trabalho digital não remunerado de bilhões.
Marx observou que “aos produtores, as relações sociais entre seus trabalhos privados aparecem como aquilo que elas são, isto é, não como relações diretamente sociais entre pessoas em seus próprios trabalhos, mas como relações reificadas entre pessoas e relações sociais entre coisas”. Nas redes sociais, as relações entre pessoas aparecem como métricas: seguidores, curtidas, visualizações. A reificação digital é completa.
Narciso algorítmico: olhando o próprio reflexo na tela negra

Registro de selfie em que a autorrepresentação vira matéria-prima para os algoritmos extraírem dados e moldarem comportamentos.
Imagem: Viralyft via Pixabay.
O mito de Narciso ganha nova dimensão na era digital. Narciso olhava seu reflexo no lago e apaixonou-se pela própria imagem até morrer. O sujeito digital olha seu reflexo algorítmico, seu perfil, seus posts, suas métricas, e apaixona-se por essa versão curada de si mesmo.
Mas há uma diferença crucial: o reflexo no lago era fiel, ainda que ilusório. O reflexo algorítmico é duplamente enganoso. Não apenas é uma imagem, mas uma imagem distorcida pelos interesses do capital. O algoritmo mostra ao sujeito não quem ele é, mas quem o capital precisa que ele seja: consumidor, produtor de dados, máquina de engajamento.
O fetiche narcisista digital manifesta-se na obsessão pelas métricas de vaidade. O militante que antes media seu sucesso pela quantidade de trabalhadores organizados agora mede pelos seguidores no Instagram. O intelectual que antes buscava a transformação social agora busca viralização. A comunicação revolucionária degenera em performance digital.
A bolha como prisão de espelhos
A bolha algorítmica é vendida como personalização, como se o algoritmo fosse um mordomo digital atencioso, trazendo apenas o que desejamos ver. Mentira cibernética. A bolha é uma prisão de espelhos onde vemos infinitos reflexos de nossas próprias opiniões, criando a ilusão de que o mundo inteiro pensa como nós.
Marx escreveu que “o reflexo religioso do mundo real só pode desaparecer quando as circunstâncias da vida prática cotidiana representarem para os homens relações transparentes e racionais entre si e com a natureza”. O reflexo algorítmico do mundo digital só desaparecerá quando as relações digitais se tornarem transparentes, quando soubermos exatamente como o algoritmo decide o que vemos e o que não vemos.
Dentro da bolha, a ilusão é dupla: primeiro, acreditamos estar falando para o mundo quando falamos apenas para nosso pequeno círculo filtrado. Segundo, acreditamos que nosso círculo representa o mundo. É o provincianismo digital elevado à máxima potência.
Pedágio invisível: pagando para não ser ouvido
Aqui reside a contradição mais cruel do fetichismo algorítmico: mesmo pagando o pedágio, seja através de anúncios, seja através do trabalho gratuito de produção de conteúdo, não há garantia de alcançar sequer a totalidade da própria bolha. O algoritmo cobra para mostrar seu conteúdo aos seus próprios seguidores.
Imagine Marx descobrindo que o capitalista não apenas extrai mais-valia do trabalhador, mas depois cobra do trabalhador para ter acesso ao produto de seu próprio trabalho. É exatamente isso que ocorre nas plataformas digitais: você produz conteúdo (trabalho), a plataforma monetiza esse conteúdo (extração de mais-valia), e depois cobra para que seu conteúdo seja visto por quem já escolheu segui-lo (pedágio digital).
O pedágio tem múltiplas camadas:
- Pedágio temporal: investimento de horas criando conteúdo que o algoritmo pode simplesmente não mostrar
- Pedágio atencional: necessidade de produzir constantemente para manter a “relevância” algorítmica
- Pedágio emocional: adequação constante aos padrões de engajamento definidos pela plataforma
- Pedágio financeiro: pagamento direto para “impulsionar” publicações
- Pedágio ideológico: conformação ao que o algoritmo considera “apropriado” ou “viral”
Dialética da (in)comunicação digital
O paradoxo central: nunca tivemos tantas ferramentas de comunicação e nunca nos comunicamos tão pouco. A quantidade massacra a qualidade. A velocidade destrói a profundidade. O alcance superficial substitui o impacto transformador.
Marx identificou que no capitalismo “o processo de produção domina os homens, e não o homem o processo de produção”. No capitalismo digital, o processo de comunicação domina os comunicadores, não os comunicadores o processo de comunicação. Somos servos do feed infinito, escravos do scroll compulsivo, reféns da notificação.
A comunicação real, aquela que transforma consciências, organiza lutas, constrói hegemonias alternativas, é substituída pela simulação de comunicação. Falamos sem dizer, ouvimos sem escutar, compartilhamos sem compreender.
Leia também: Sindicatos devem vencer invisibilidade na mídia e nas redes sociais
O véu algorítmico e a realidade material
Por trás do véu algorítmico, a realidade material persiste implacável. Enquanto o militante digital celebra mil likes em seu post sobre a luta de classes, o trabalhador precarizado do iFood pedala 12 horas sem conhecer seus direitos. Enquanto o intelectual orgânico tuíta sobre contra-hegemonia, as periferias permanecem desorganizadas.
O fetichismo algorítmico cria uma névoa ideológica ainda mais densa que o fetichismo da mercadoria. Se este ocultava as relações de produção, aquele oculta as próprias relações de comunicação. Não sabemos com quem falamos, quem nos ouve, que impacto real temos.
Despedaçando o fetiche: por uma comunicação revolucionária desfetichizada
A superação do fetichismo algorítmico exige o mesmo que Marx propôs para o fetichismo da mercadoria: tornar transparentes as relações sociais que se ocultam por trás da aparência tecnológica. Isso significa:
1. Desmistificar o algoritmo: Compreender que não é entidade neutra, mas expressão dos interesses do capital digital. O algoritmo tem classe, e não é a nossa.
2. Priorizar a comunicação direta: Antes de falar para as massas imaginárias das redes, falar com o vizinho real. Antes de postar sobre a greve, organizar os trabalhadores concretos.
3. Recusar a lógica da métrica: Medir o sucesso comunicativo não por likes ou visualizações, mas por consciências transformadas e lutas organizadas.
4. Construir infraestruturas próprias: Como os bolcheviques criaram o Iskra, precisamos criar meios de comunicação que não estejam subordinados ao fetiche algorítmico.
5. Subordinar o digital ao presencial: A ferramenta digital deve servir à organização territorial, não substituí-la. O WhatsApp organiza a reunião, mas a reunião acontece olho no olho.
A última ilusão: o mundo na palma da mão
Steve Jobs, ao lançar o iPhone, prometeu colocar “o mundo na palma da sua mão”. Promessa cumprida de forma perversa: temos uma representação algoritmicamente filtrada do mundo, não o mundo real. Como o prisioneiro da caverna de Platão que confunde sombras com realidade, confundimos o feed com a vida.
Marx concluiu que “o reflexo religioso do mundo real só pode desaparecer quando as circunstâncias da vida prática cotidiana representarem para os homens relações transparentes e racionais entre si”. O reflexo algorítmico só desaparecerá quando as circunstâncias da comunicação digital representarem relações transparentes e sob controle popular.
Conclusão: do fetiche à práxis revolucionária
O caráter fetichista do algoritmo e seu segredo residem nisto: ele nos faz acreditar que comunicação é performance, que conexão é métrica, que transformação social é viralização. Como a mercadoria que oculta o trabalho humano que a produziu, o algoritmo oculta as relações de poder que o programaram.
A tarefa revolucionária na era digital não é abandonar as ferramentas digitais. Seria luddismo anacrônico. É despedaçar o fetiche, revelar o segredo, mostrar que por trás de cada algoritmo há interesses de classe, por trás de cada plataforma há extração de mais-valia, por trás de cada ilusão comunicativa há isolamento real.
Quando Marx escreveu sobre o fetichismo da mercadoria, ofereceu as ferramentas teóricas para sua superação. Hoje, precisamos desenvolver as ferramentas teóricas e práticas para superar o fetichismo algorítmico. Não para voltar a um passado romântico pré-digital, mas para construir um futuro onde a tecnologia sirva à emancipação humana, não à sua alienação multiplicada.
A revolução será algorítmica ou não será? Falsa questão. A revolução será humana, presencial, territorial, orgânica, e usará algoritmos libertados de seu caráter fetichista como ferramentas, nunca como senhores. O segredo do algoritmo, uma vez revelado, perde seu poder místico. Resta o trabalho paciente de construir a comunicação revolucionária que supere tanto o fetiche mercantil quanto sua metamorfose digital.
Em um artigo recente, na tribuna de debates o 16º Congresso do Partido, escrevi: “preferimos a ilusão do controle digital à realidade do alcance analógico. É hora de inverter essa equação. O futuro da comunicação revolucionária não está em mais likes, mas em mais lutadores organizados. Não em bolhas maiores, mas em consciências despertas. Não em falar para o vazio algorítmico, mas em construir o poder popular concreto que destruirá tanto o fetiche da mercadoria quanto seu avatar digital.”
Percival Henriques é especialista em Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais pela Universidade de Pisa – Itália; pesquisador pela Rede de Pesquisa: Teoria Crítica do Direito e De(s)colonialidade digital; autor de livros como “Pássaros Voam em Bando – A História da Internet do Século XVII ao Século XXI” e “Direito à Realidade – Por um Constitucionalismo Digital no Brasil”; presidente da Associação Nacional para Inclusão Digital – ANID; e membro titular do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).
*Este é um artigo de opinião. As ideias expressas pelo autor não necessariamente refletem a linha editorial da Fundação Maurício Grabois.