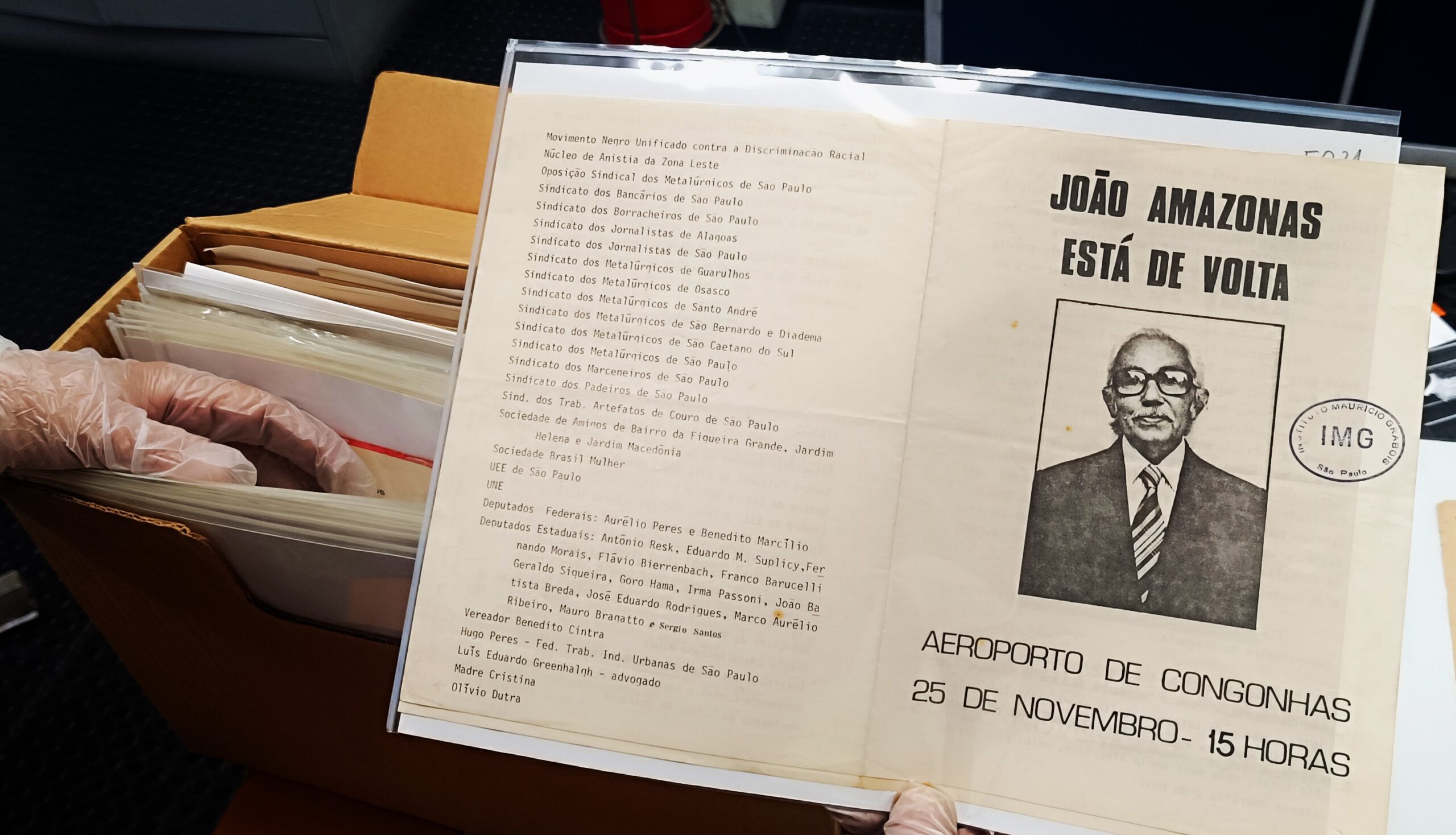Nos anos 1970, aviões da Força Aérea Brasileira realizaram uma verdadeira operação de guerra na região do Bico do Papagaio, entre o Sudeste do Pará e Norte de Goiás (hoje Norte do Tocantins). Mais de 30 anos depois, em 18 de junho de 2009, uma aeronave da mesma FAB pousava no aeroporto de Marabá (PA) – outrora base militar da ditadura – levando o ministro da Justiça, Tarso Genro, cuja missão era pedir perdão em nome de Estado braisleiro a camponeses perseguidos. Um fato histórico e inédito num país que ainda
Nos anos 1970, aviões da Força Aérea Brasileira realizaram uma verdadeira operação de guerra na região do Bico do Papagaio, entre o Sudeste do Pará e Norte de Goiás (hoje Norte do Tocantins). Mais de 30 anos depois, em 18 de junho de 2009, uma aeronave da mesma FAB pousava no aeroporto de Marabá (PA) – outrora base militar da ditadura – levando o ministro da Justiça, Tarso Genro, cuja missão era pedir perdão em nome de Estado braisleiro a camponeses perseguidos. Um fato histórico e inédito num país que ainda
se divide entre a necessidade de conhecer seu passado e punir seus algozes e os interesses daqueles que trabalham para manter na obscuridade algumas das páginas mais cruéis de nossa história.
Por Priscila Lobregatte*
A praça Frei Gil, no centro de São Domingos do Araguaia – a cerca de 60 quilômetros de Marabá – recebeu mais de 300 pessoas que, resistindo a um calor de 37 graus, esperavam ansiosas o anúncio dos anistiados. Ali, homens e mulheres, a maioria idosa, ouviu do ministro o pedido de perdão do Brasil. “O Estado deve se envergonhar e se desculpar pelos crimes cometidos no passado. O que vocês sofreram não tem pagamento”, disse Genro chamando os anistiados a se levantarem, de maneira que pudesse olhar a face emocionada de cada um.
Para ele, “quando o país pede desculpas pelos erros que cometeu, está dando solidez e conteúdo ao Estado de direito e, ao mesmo tempo, está prevenindo para que não aconteça novamente a violência e a morte de brasileiros que lutam por um destino melhor enquanto outros, a mando do Estado, lutam para manter, através do autoritarismo, os privilégios de alguns”.
Ao Vermelho, o presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão Pires Júnior, disse que “o povo da região do Araguaia é um patrimônio histórico da humanidade porque tem em si a memória viva de um episódio de repressão que nenhum de nós deseja que se repita”. Ele lembrou que uma das dificuldades encontradas pelos conselheiros foi lidar com o temor que ainda ronda a região, mesmo após passadas mais de três décadas da ação do Exército.
“Nas duas comitivas da Comissão que estiveram aqui colhendo depoimento, percebemos nitidamente que ainda há a cultura do medo, o que impediu que alguns pudessem falar a verdade com receio até mesmo de sofrer as mesmas agruras e as mesmas torturas psicológicas e físicas do passado”. Pouco a pouco, no entanto, “a população vai percebendo que as liberdades públicas e a democracia vieram para ficar e contar essa história é um resgate de nossa própria memória”. Mas, enfatizou Abrão, “nosso país ainda tem muito a fazer para recuperar sua história”.
O presidente da Comissão lamentou o fato de persistir, em diversos setores da sociedade – entre eles a mídia –, uma avaliação equivocada sobre a concessão de anistia e de reparação aos perseguidos políticos. “Há uma visão, que considero conservadora, que não reconhece o direito daqueles que foram atingidos pela ditadura militar de receberem uma reparação econômica por prejuízos sofridos”.
Segundo Abrão, “o princípio da reparação é um dever universal reconhecido pela ordem jurídica e por tratados internacionais de direitos humanos. Portanto, temos a convicção de que é mais do que um dever do Estado promover indenização àqueles a quem o próprio Estado – que tinha o dever de proteger – em verdade, perseguiu, torturou e prejudicou ”.
Julgamento
Os casos anunciados no dia 18 foram julgados na véspera, no Ministério da Justiça, em Brasília, e são o resultado de duas audiências realizadas na cidade paraense em 2007 e 2008. Durante a sessão, 15 conselheiros, além do presidente da Comissão, analisaram 91 de um total de 304 pedidos de anistia referentes à guerrilha. Sete foram tirados de pauta a pedido de seus relatores devido à ausência de elementos que permitissem uma avaliação aprofundada. Dos 84 restantes, 44 foram deferidos e 40 indeferidos, dentre os quais 16 eram de militares que combateram os guerrilheiros. Os demais eram de servidores públicos – principalmente do Incra – requisitados pelo Exército para ajudar na operação e de requerentes que não conseguiram provar que viviam na região na época da guerrilha.
Quinze requerimentos – um de camponês e 14 de guerrilheiros – foram julgados em outras ocasiões e há três recursos e quatro arquivados, restando ainda o julgamento de 198 casos. Na sessão oitiva de sexta-feira (20), mais de 70 pessoas foram ouvidas a fim de esclarecer pontos ainda pendentes em seus processos.
Segundo dados da Comissão, até dezembro de 2008 foram autuados 62.964 processos; mais de 46 mil foram julgados. Ao todo, 29.909 foram deferidos e destes, 64,2% não tiveram reparação econômica. Em média, as indenizações de prestação única giraram em torno de 56 mil reais e as mensais em torno de 3.507 reais. No caso dos camponeses anistiados, a indenização retroativa variou entre 80.352 reais e 142.941 reais. O retroativo é calculado a partir de cinco anos antes da entrada do processo na Comissão até a data do julgamento.
Uma das dificuldades que envolvem os julgamentos de camponeses é a falta de documentação pessoal ou que comprove o parentesco entre o requerente e o perseguido. A principal particularidade destes casos, porém, é a falta de vínculo empregatício, um dos fatores exigidos na lei 10.559/202 (lei de Anistia) para a prestação mensal, permanente e continuada. Para lidar com essa situação diferenciada e permitir que houvesse justiça para esse conjunto de anistiandos, a Comissão partiu do princípio da “presunção de veracidade”, considerando verídicos os fatos alegados pelos requerentes, “salvo prova em contrário”. Seria “um contrassenso o Estado brasileiro, agora, exigir provas documentais quanto a uma perseguição política que ele mesmo promoveu e da qual jamais permitiu que fosse produzido ou viesse à luz algum documento ou registro oficial”, assinalou o conselheiro José Carlos Moreira da Silva Filho, em relatório técnico do Grupo de Trabalho sobre a Guerrilha do Araguaia da Comissão de Anistia.
O mesmo relatório conclui ainda que os moradores da região foram “compelidos ao afastamento de suas atividades laborais” por causa das perseguições sofridas naquele período. Assim, a Comissão reconheceu oficialmente que o “cidadão teve obstaculizado pelo próprio Estado seu direito ao livre exercício de atividade laborativa, os prejuízos sofridos pelos requerentes hão de ser reparados pelo Estado brasileiro, pois inconteste a perda de vínculo com a atividade laboral”. Com base nesse entendimento, a Comissão arbitrou o pagamento de reparação econômica no valor de dois salários mínimos mensais.
Outro problema encontrado pela Comissão no que tange à anistia é o uso indevido da boa-fé dos requerentes. Para entrar com um processo de anistia na Comissão não é preciso advogado. No entanto, há quem tenha usado da ingenuidade dos camponeses para ganhar dinheiro, exigindo comissões de 10% das indenizações para encaminhar os processos.
Após denúncia a respeito, conselheiros da Comissão de Anistia recorreram ao Ministério Público de Marabá com o objetivo de que o órgão acompanhe o recebimento das indenizações, evitando desvios. “Estamos muito indignados com essa situação porque, afinal de contas, não foi a atuação desse procurador determinante para a apuração dos casos e sim a atuação direta da Comissão que foi à região para poder ouvir e colher as informações necessárias”, disse Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia. O procurador em questão seria Elmo Sampaio que, ao jornal O Estado de S. Paulo declarou que “o trabalho da Elmo Consultoria é contratar advogados para trabalhar”. Agora, está nas mãos do MP tomar as providências a respeito.
Reparação ao sofrimento
Chegar a São Domingos do Araguaia de Marabá pela Transamazônica é uma experiência desoladora. No caminho, o desmatamento da Amazônia ao longo dos anos fica evidente. Boa parte da área é ocupada por pastos, há poucos trechos de mata e nenhum povoado. Até que desponta, numa entrada à direita, a pequena cidade, um dos símbolos da guerrilha. Uma via de mão dupla – das poucas asfaltadas na cidade – divide dois lados da cidade; à esquerda fica a praça Frei Gil.
Entre os anistiados reunidos na tarde da sessão estava Antônio Alves de Souza, 71 anos, conhecido como Precatão. Ele teve sua história contada em uma das edições do jornal Classe Operária em novembro de 2007.
Na ocasião, disse que, depois de preso pelos militares em 1972, acusado de ajudar a guerrilheira Dina (Dinalva Oliveira Teixeira), sofreu torturas diversas. “Me amarraram pelo pescoço e iam me puxando e depois me prenderam num pé de coco. Fiquei ali das 10 da manhã até às 5 da tarde. Me deixaram em cima de um formigueiro, eu era picado, e de vez em quando vinham me dar uns tapas”.
Depois, levaram Precatão para dentro da base e retomaram a tortura porque queriam saber onde estavam os guerrilheiros. “Começaram a me bater de novo, a me dar choque e a me afogar na água. Resolveram usar a ‘coroa de Cristo’ em mim e apertavam minha cabeça. Parecia que ela ia estourar”. Hoje, apesar do tempo, diz que ainda sente dores no peito e na cabeça. Mas, feliz com a anistia, disse que agora vai poder “realizar o sonho de ter a minha casa”. Ele quer voltar para sua terra, Grajaú, no Maranhão, e finalmente se aposentar do trabalho braçal de fez por toda a vida.
Já seu João Teodoro da Costa, 70 anos, contou à Comissão que vivia na localidade conhecida como Saranzal quando, em 1972, o Exército o obrigou a abandonar sua terra, juntamente com sua família. Sua casa e plantações foram destruídas e ele disse ter sido preso em Palestina e torturado por alimentar os “paulistas”. “Fiquei tão injuriado com aquilo, moça…porque, de repente, perdi o pouco que tinha”, contou com sua voz já apequenada pela idade. Com esforço, lembrou também de Oswaldo Orlando da Costa, o Oswaldão. “Ele era meu amigo, muito querido aqui”.
Dona Marculina Gregória Santos disse ter perdido seu marido, José Nazário, como era conhecido. Falecido em 1987, foi torturado e, como resultado, ficou “todo quebrado, quase cego e quase louco”, conta a viúva. Além disso, “perdemos a pequena venda que tínhamos”. Para sustentar seu único filho e o marido logo após sua libertação, Dona Marculina foi trabalhar como merendeira. “Mas mulher, agora eu tô é feliz!”, festejou com lágrimas nos olhos.
Frustração e arrependimento
Seu Valdemar Cruz Moura, por sua vez, teve seu pedido negado segundo a Comissão por “ausência de pressuposto processual” por não conseguir provar ser filho de Joaquim de Souza Moura, o Joaquinzão, que teria sido preso e que até hoje se encontra desaparecido. “Ele foi morto em Xambioá pelos militares”, garante. “Tínhamos plantações e ajudávamos os paulistas. E eles nos ajudavam com remédio. No começo até pensamos que era gente do governo”, recorda-se. Agora, lamenta, “não tenho nada, venho aqui hoje porque não tenho nada. Sofro de lepra e tenho dificuldade de arrumar trabalho. Fiquei muito frustrado”, explicou durante a sessão do dia 19, quando a Comissão foi ouvir, na chácara da paróquia de São Domingos, os outros camponeses não julgados. Para os casos indeferidos, ainda cabe recurso.
Raimundo Nonato dos Santos, conhecido como Peixinho, 72, teve seu pedido retirado de pauta e também foi ouvido nessa terceira audiência. O apelido vem do seu trabalho, quando fazia transporte pelos rios Araguaia e Tocantins. Por seu conhecimento sobre a região, diz ter sido obrigado a servir de guia para os militares. Quando foi pego pelo Exército, sua mulher tinha acabado de dar à luz. “Bateram muito em mim, mas a ordem era me fuzilar porque achavam que eu era guerrilheiro. Então, com medo, comecei a ir para a mata com eles porque não tive escolha”. Ele relatou ter ajudado a achar Duda (Luiz René Silveira e Silva) e Edinho (Hélio Luiz Navarro). “Edinho foi baleado na mata e levado para a Bacaba, mas não sei o que aconteceu. O que sei é que depois que eles (militares) pegavam alguém, ninguém mais via”. O camponês conta ter visto ainda o corpo de Sônia três dias depois de sua morte “num açaizal na Beira da Água Branca, em São Domingos”.
Peixinho diz nunca ter recebido nada em troca e ter se arrependido por ter servido de guia. “Se eu pudesse voltar no tempo, não teria feito nada disso. Sempre fui amigo do povo da mata e hoje entendo o que fizeram e admiro a todos”.
Guerrilha viva
Dona Adalgisa Moraes da Silva, 78, e seu marido, Frederico Lopes, foram anistiados nesta primeira sessão de julgamentos. Seu Frederico teve sua história contada pelo Vermelho em 2007, quando da primeira audiência pública. Sofreu torturas bárbaras e hoje tem sequelas físicas e psicológicas.
“Ô, minha filha, há quanto tempo!”, disse Adalgisa abraçando a repórter que a conhecera na primeira audiência. Emocionada, lembrou de Rosa (Maria Célia Correia), João Araguaia (Demerval da Silva Pereira), Duda, mas especialmente de Sônia (Lucia Maria de Souza). “Ela fez o parto de minha filha mais nova e virou sua madrinha”, recorda. “Chorei muito quando soube de sua morte, mas a gente nem podia chorar na frente dos militares”, colocou. O dia em que invadiram sua casa é uma de suas piores lembranças. “Aqueles homens entrando em casa, querendo saber de meu marido, gritando, cheios de armas. Eu não consegui me aguentar”, disse constrangida, lembrando da incontinência intestinal momentânea que o pavor lhe trouxe. “Eles diziam 'cala boca ou te rasgo a bala'”.
Daquela época, sobrou para dona Adalgisa principalmente a tristeza trazida pelas atrocidades dos militares. Mas, sua admiração pelos comunistas fez com que em 1993 aderisse de vez ao PCdoB, formalizando sua filiação. “Os guerrilheiros nos explicavam que a gente podia sim mudar de vida e hoje voto no partido porque sei que é assim que a gente muda as coisas”. Sua filha, Valderice Moraes da Silva, 37, afilhada de Sônia, diz que “a guerrilha foi ruim porque no final eles morreram”. “E para nós, só ficou a saudade”, completou a mãe. “Eu acredito na transformação social pela política, então, participo das reuniões e vejo que ali todos têm essa mesma vontade”, colocou Valderice.
Na avaliação de Renato Rabelo, presidente do PCdoB, “para o povo não vale o discurso, mas a ação e a nossa foi libertária. A valorização do Partido pela população do Araguaia, num momento como o atual, de relativo descrédito na política, mostra a seriedade e o compromisso do PCdoB na luta por uma sociedade mais justa”. Para ele, o fato de o Estado estar se retratando “demonstra o amadurecimento de nossa democracia; afinal, somente um governo democrático e popular viria, através de seu ministro da Justiça, a uma região tão sofrida pedir esse perdão”.
A conselheira Ana Guedes, também do PCdoB e uma das mais recentes integrantes da Comissão, “o Araguaia é muito presente em minha vida porque convivi com aquela geração, com Dinaelza (Santana Coqueiro, a Mariadina), Vandick (Reidner Coqueiro, o João), Demerval”. Segundo Ana, “a democracia só foi alcançada no país graças à luta de milhões de brasileiros, e entre eles, aqueles que estiveram no Araguaia. E o mais interessante é que o partido está presente na região”. Segundo dados da direção do PCdoB em Marabá, o partido está estruturado na região e tem cerca de 200 membros ativos nas cidades de São Geraldo, São Domingos, Palestina e São João do Araguaia.
Zezinho do Araguaia, um dos sobreviventes da guerrilha, diz que “este é um êxito preliminar, mas muito importante porque percorremos um longo caminho até chegar aqui. Trabalhamos muito para que os camponeses não fossem esquecidos. E, quando ouvi Tarso Genro se desculpando com meu povo simples, gente da terra, eu falei 'aguenta, coração!”. Segundo Zezinho, “a anistia aos camponeses é uma lição deixada para as gerações futuras. É parte do que de fato é e foi o nosso Brasil”.
*enviada a São Domingos do Araguaia