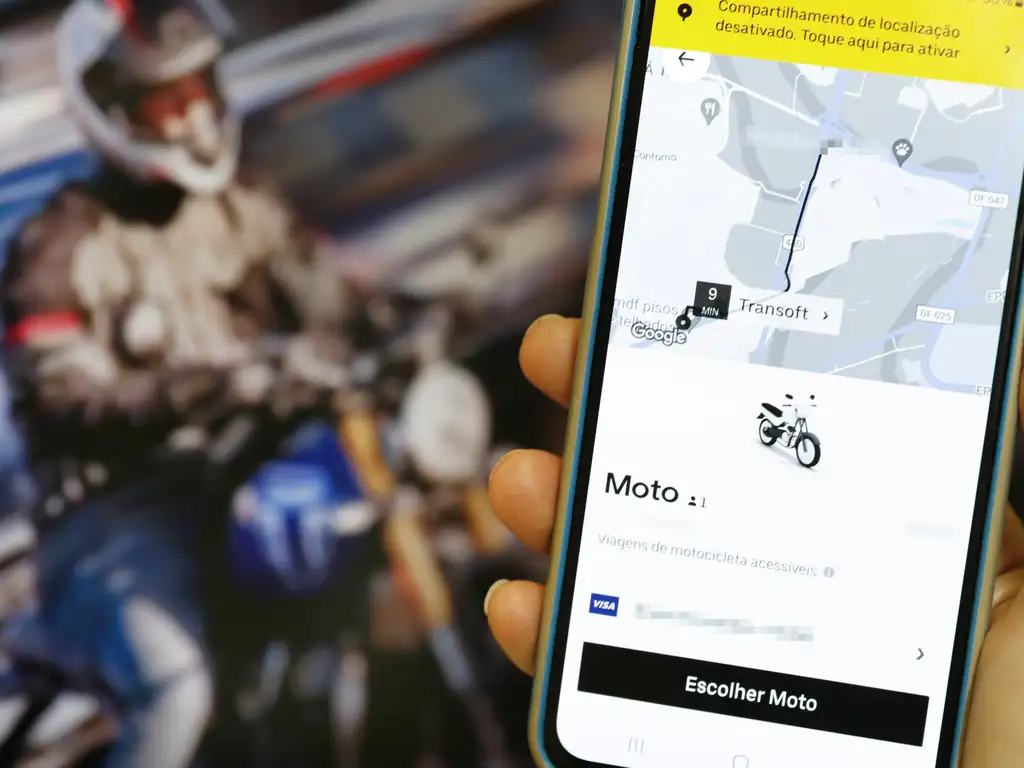Há um consenso entre os estudiosos e gestores de cidades no país de que a capacidade de controle do processo de uso e ocupação do solo municipal é extremamente frágil e, por esta razão, nossas cidades crescem de forma desordenada e caótica.
Se, por um lado, é verdade que a maioria dos municípios brasileiros carece de uma estrutura mínima de gestão – não apenas no campo do controle urbanístico, mas em todas as esferas; este, a nosso; ver é apenas uma – ouso dizer, talvez não a mais importante das dimensões do problema. A princípio, segundo consideram aqueles que atribuem à baixa capacidade institucional local, temos no país um marco regulatório do controle do uso e ocupação do solo desenvolvido e adequado para garantir um desenvolvimento urbano equilibrado e este não é aplicado por incompetência ou fraude dos gestores públicos.
Examinemos, entretanto, mais atentamente a questão: é fato que a grande maioria dos 5564 municípios no país possui estruturas administrativas próprias acanhadas e pouco preparadas e/ou poucos recursos humanos, financeiros e operacionais para operá-los. A maior parte dos municípios tem também pouco acesso às fontes de recursos – via transferências voluntárias dos governos estaduais ou federal ou financiamentos via bancos públicos para captar financiamentos ou dinheiro a fundo perdido para melhorias urbanísticas ou institucionais, mesmo aquelas destinadas para a melhoria da capacidade de gestão municipal. É fato também a baixíssima captação das fontes de receita própria e, conseqüentemente, a enorme dependência de transferências por parte dos governos estaduais e federal. Dessa forma, os municípios vivem uma espécie de círculo vicioso onde sua precariedade institucional, para cumprir o marco regulatório da gestão administrativa, financeira e urbanística, também funciona como bloqueio para acesso a meios para superar esta precariedade.
São inúmeros os exemplos que podemos dar: é comum a situação de municípios permanentemente no CAUC 1 , municípios que não conseguem preencher os requisitos e formulários para acessar programas destinados para seu aperfeiçoamento institucional como o PNAFM e PMAT 2. Porém, para entender o círculo vicioso da precariedade é fundamental examinar a natureza e características de nosso marco regulatório e seu funcionamento no quadro político-institucional do país, assim como os limites e possibilidades do modelo federativo brasileiro.
Cidades Brasileiras: a lógica da desordem
Em menos de 40 anos, entre as décadas de 1940 e 1980, a população brasileira passou de predominantemente rural para majoritariamente urbana. Impulsionado pela migração de um vasto contingente de pobres, esse movimento sócio-territorial, um dos mais rápidos e intensos de que se tem notícia, ocorreu sob a égide de um modelo de desenvolvimento urbano que privou as faixas de menor renda de condições básicas de urbanidade e de inserção efetiva à cidade. Além de excludente, tal modelo mostrou-se também altamente concentrador: 60% da população urbana vivem hoje em 224 municípios com mais de 100 mil habitantes, dos quais 94 pertencem a aglomerados urbanos e regiões metropolitanas com mais de um milhão de habitantes.
Concentrando incrementos econômico-demográficos em algumas regiões do território e esvaziando as demais, esse movimento é concentrador também no nível intra-urbano: em cada município caracterizado pelo crescimento e pela dinâmica urbana, as qualidades urbanísticas se acumulam em setores restritos, locais de moradia, negócios e consumo de uma minoria da população moradora.
Essas áreas ditas “de mercado” são reguladas por um vasto sistema de normas, leis e contratos, que tem quase sempre como condição de entrada a propriedade escriturada e registrada. É ela a beneficiária do crédito e a destinatária do “habite-se”. Os terrenos que a lei permite urbanizar, assim como os financiamentos que a política de crédito imobiliário tem disponibilizado, estão reservados ao restrito círculo dos que possuem recursos e propriedade “formalizada” da terra em seu nome.
Para as maiorias, sobram as terras que a legislação urbanística ou ambiental vetou para a construção ou não disponibilizou para o mercado formal, ou os espaços precários das periferias e as viagens cotidianas “à cidade”. Embora não exista uma apreciação segura do número total de famílias e domicílios instalados em favelas, loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos – e outras formas de assentamentos marcados por alguma forma de precariedade urbanística e irregularidade administrativa e patrimonial –, é possível afirmar que o fenômeno está presente na maior parte da rede urbana brasileira. No vasto e diverso universo dos 5.564 municípios que existem hoje no Brasil, são raras as cidades que não têm uma parte significativa de sua população assentada precariamente1.
Excluídos do marco regulatório e dos sistemas financeiros formais, os assentamentos precários foram autoproduzidos por seus próprios moradores com os meios que se encontravam à sua disposição: salários baixos, insuficientes para cobrir o custo da moradia; falta de acesso aos recursos técnicos e profissionais; e terras rejeitadas ou vetadas pela legislação ambiental e urbanística para o mercado imobiliário formal. Assim, em terrenos frágeis ou áreas não passíveis de urbanização, como as encostas íngremes e as várzeas inundáveis, além das vastas franjas de expansão periférica sobre as zonas rurais, vai sendo produzida a “cidade fora da cidade”, desprovida das infra-estruturas, equipamentos e serviços que caracterizem a urbanidade.
Ausentes dos mapas e cadastros de prefeituras e concessionárias de serviços públicos, inexistentes nos registros de propriedade dos cartórios, esses assentamentos têm uma inserção ambígua nas cidades onde se localizam. Modelo dominante de territorialização dos pobres nas cidades brasileiras, sua consolidação é progressiva, mas sempre incompleta e dependente da ação discricionária do poder público.
Ao delimitar as fronteiras que separam os regulares/formais dos irregulares/informais, o modelo de exclusão territorial que define a cidade brasileira é muito mais do que a expressão das desigualdades sociais e de renda, funcionando como uma espécie de engrenagem da “máquina de crescimento que, ao produzir cidades, reproduz desigualdades” i. Em uma cidade dividida entre a porção rica, legal e infra-estruturada e a porção pobre, ilegal e precária, a população em situação desfavorável acaba tendo muito pouco acesso às oportunidades econômicas e culturais oferecidas pelo ambiente urbano. O acesso aos territórios que concentram as melhores condições de urbanidade é exclusivo para quem já é parte dele.
Finalmente, a lógica da desordem se completa com o caráter predatório do modelo, que condena a cidade como um todo a um padrão insustentável do ponto de vista ambiental e econômico. Em primeiro lugar, a concentração das oportunidades em um fragmento da cidade e a ocupação extensiva de periferias cada vez mais distantes impõem um padrão de circulação e mobilidade dependente do transporte sobre pneus e, portanto, de alto consumo energético e potencial poluidor 2. Em segundo lugar, a ocupação das áreas frágeis ou estratégicas do ponto de vista ambiental – como mananciais de água, complexos dunares ou mangues – é decorrente de um padrão extensivo de crescimento por abertura de novas fronteiras e expulsão permanente da população mais pobre das áreas ocupadas pelo mercado.
Esse padrão, regido por um mercado ávido por lucros rápidos e confrontado com um território que sempre pareceu ser uma vastidão sem limites, ditou a lógica de produção do “novo”, expandindo os limites da cidade de forma fragmentada e a partir de iniciativas de proprietários de terra e loteadores, ou arrasando e removendo o tecido construído para acolher os outros produtos imobiliários destinados às parcelas “solventes” dos moradores urbanos. E a engenharia urbana mecanicista, que procurou transformar a cidade em máquina de produção e circulação, tratou sua geografia natural – rios, vales inundáveis, encostas – como obstáculo a ser superado, terraplanando, aterrando e caucionando as águas, num desenho que procura minimizar as perdas territoriais para o insaciável mercado de solos.
O modelo urbanístico concentrador, excludente e predatório, que estruturou a lógica da desordem de nossas cidades na passagem para uma economia e sociedade modernas, tem origens profundas na formação histórico-política brasileira. Trata-se, nas palavras de Ronaldo Vainfas, da “obsessão diabólica pela riqueza fácil” 3, que perpassou o sistema colonial e regeu, entre outros, os “ciclos” do açúcar, do tabaco, do ouro e dos diamantes. Evidentemente, tal modelo, inscrito na ordem administrativa que regula a cidade, não foi fruto de pactuação. Sua lógica é marcada por dois elementos constitutivos de nossa cultura política: a indistinção e a ambigüidade entre o público e o privado e entre o real e o legal.
Município: ente autônomo da federação?
No modelo de federação brasileira, chamamos de “município” e, por conseguinte, atribuímos as mesmas competências e responsabilidades para entidades político-institucionais radicalmente distintas – como uma cidade de 10 milhões de habitantes que faz parte de uma região metropolitana de 17 milhões e um município de 1000 habitantes, situado em região eminentemente rural. Assim também consideramos as fontes de receita própria e a grande maioria dos critérios de transferência que, no máximo, diferenciam tamanho de população e nenhuma outra característica econômica ou sócio-territorial. Considerando, por exemplo, as fontes de receita própria dos municípios – IPTU, ISS, ITBI, IVV – são todas eminentemente “urbanas” e diretamente proporcionais ao dinamismo de atividades imobiliárias e comerciais dos centros urbanos, características presentes em menos de 10% do total de municípios. Ora, é evidente que esta isonomia de tratamento dos governos locais nada tem de isonômica, na medida em que pouco dialoga com a diversidade e as realidades locais.
Porém, não apenas a divisão de competências desconhece a heterogeneidade de nossos “municípios”: todo o marco regulatório básico do uso e ocupação do solo, assim como os programas de financiamento ou apoio ao desenvolvimento urbano local são únicos para o conjunto do país, levando a enormes distorções nas possibilidades de acesso e, sobretudo, de aplicação desses marcos. Além de únicos, são, em sua grande parte, formulados a partir de uma cultura técnico-burocrática formada nos grandes centros e referenciada em produção internacional, com pouquíssima ou nula interlocução com os modos de produção do território locais.
Também é fundamental apontar para a fragmentação da regulação do território em dimensões que não dialogam – como é o caso da gestão ambiental versus gestão urbanística; destas com a gestão do patrimônio histórico; destas com o patrimônio público; destas com a gestão da logística como portos e aeroportos; entre tantas outras que incidem sobre os mesmos territórios numa superposição de lógicas muitas vezes contraditórias. Além de regras que não dialogam, isto é agravado pela existência de esferas de controle e fiscalização verticalizadas e dependentes de estruturas centralizadas ligadas a diferentes entes da federação que, através de suas gerências e superintendências regionais, exercem poderes sobre o espaço muitas vezes conflitantes.
Finalmente, não podemos deixar de apontar os efeitos (ou causas?) políticos dessa equação: diante de uma situação de fragilidade institucional, marco regulatório excludente e sobreposição de competências e esferas de gestão, é a intermediação política que entra em campo, definindo quem tem acesso aos recursos ou à palavra final na definição do que pode ou não ser feito no território municipal. Dessa forma, se perpetua um sistema político, onde uma das mais importantes moedas de construção de esferas de controle político sobre territórios (e conseqüentemente seus votos) está na capacidade de “liberação” de recursos e/ou obras. Este sistema de estrutura “organiza” eleições desde a esfera local – prefeitos e vereadores – até o nível federal – deputados, senadores e ministros.
Da pobreza à violência
Se essa foi a lógica predominante de estruturação de nossas cidades ao longo do processo de urbanização, as transformações que definiram a nova fase do capitalismo impactaram fortemente a ordem urbanística. Como aponta Loïc Wacquant: “Junto com a modernização econômica acelerada, provocada pela reestruturação global do capitalismo, a cristalização de uma nova divisão internacional do trabalho (fomentada pela velocidade frenética dos fluxos financeiros e dos trabalhadores através de fronteiras nacionais porosas) e o desenvolvimento de novas indústrias de uso intensivo do conhecimento baseadas em revolucionárias tecnologias da informação e geradoras de uma estrutura ocupacional dual, produziu-se a modernização da miséria: a emergência de um novo regime de desigualdade e marginalidade urbanas” 4.
No caso brasileiro, os efeitos dessas transformações se fizeram sentir principalmente nas metrópoles, em especial naquelas que se constituíram na fase do capitalismo fordista, quando as esperanças de modernização e integração por meio do emprego formal, da “casa própria” e do acesso à educação e ao bem-estar alimentaram identidades coletivas e fertilizaram as lutas pela inclusão territorial e a reforma urbana.
Nos anos 1990, o desemprego (decorrente do processo de automação ou da destruição de um parque industrial outrora protegido por barreiras alfandegárias) e a agenda do ajuste estrutural (que limitou o gasto público, reduzindo as possibilidades de distribuição de benefícios) transformaram a geografia da pobreza urbana e da vulnerabilidade social, com impactos profundos na dinâmica de agregação societária do território popular e nas relações reais ou simbólicas por este estabelecidas com o restante da cidade ii.
Essas mudanças introduziram novas variáveis para a estruturação da cidade. As grandes áreas da produção fordista foram sendo substituídas por uma economia de fluxos, desterritorializando-se e deixando grandes áreas urbanizadas vazias, muitas vezes contaminadas, pelo caminho. O território popular se densificou, sobre uma base urbanística frágil e tosca, fruto de intervenções fragmentadas, desconectadas e descontínuas, definidas e executadas na temporalidade “da política”. O espaço metropolitano da era industrial também se transformou, expandindo-se sobre a zona rural, redefinindo as fronteiras urbanas e espalhando enclaves como condomínios, hipermercados e shopping-centers.
A antiga dualidade centro/periferia se desfez para dar lugar a uma nova: lugares seguros versus lugares violentos. A captura de assentamentos precários pelo comércio varejista de drogas impôs, nesses territórios, uma nova sociabilidade, violenta e implementada de forma paralela aos aparatos de segurança do Estado. Embora presente em apenas alguns dos assentamentos precários do país, a territorialização das favelas pelo tráfico de drogas contribuiu para construir no imaginário urbanístico a identificação de todas as favelas e periferias precárias do país com “lugares violentos”. Para citarmos novamente Wacquant, “a nova marginalidade mostra uma tendência a aglomerar-se em áreas ‘irredutíveis’ e aonde ‘não se pode ir’, que são claramente identificadas – tanto por seus próprios residentes como por pessoas externas – como poças urbanas infernais, repletas de privação, imoralidade e violência, onde somente os parias da sociedade tolerariam viver”.
O impacto dessa configuração vai, no entanto, além do aprofundamento da segregação sócio-espacial, limitando a permeabilidade entre os territórios populares e o restante da cidade. A essa formação de enclaves “fora do controle estatal” corresponde, na outra ponta do espectro, a auto-segregação das elites e classes médias, gerando – esta também – territórios de exceção. Os chamados “lugares seguros” são espaços fechados e exclusivos, nos quais a multiplicidade da cidade não penetra. São cercados, murados, vigiados por câmaras e protegidos por dispositivos eletrônicos e um exército de seguranças privados. Entre esses dois pólos, a “cidade das ruas”, estruturada a partir de espaços e equipamentos públicos, fenece, exposta e desprotegida por não contar com comandos e milícias nem com aparatos sofisticados e guardas particulares iii. Imediatamente, o mercado traduz esse definhamento em produtos imobiliários, estimulando, com a ajuda de estratégias de marketing, o desejo por um paraíso asséptico, homogêneo, imune às tensões e conflitos: vale dizer, fora da cidade.
A instalação das classes médias e altas nas periferias em assentamentos de baixa densidade conectados a rodovias reatualiza a força do modelo centrípeto que como vimos é um dos responsáveis para insustentabilidade de nosso modelo urbanístico iv.
Entretanto, a fragmentação sócio-política territorial resultante desta reconfiguração representa não apenas uma nova forma de estruturação urbana, mas um desafio para a noção mesma de cidade, na medida em que, nas palavras de Marcelo Lopes Souza, induz a uma “erosão bastante real das condições de exercício da cidadania e busca de autonomia”, requisitos indispensáveis para a construção de um desenvolvimento urbano includente e sustentável.
Considerando o exposto acima, as dificuldades de gestão do território municipal enfrentadas pelos municípios vão muito além de uma questão meramente “técnica” ou “ética”. De fato, o que explica a insustentabilidade de nossa gestão territorial é o fato de nosso território jamais ter sido objeto de pactuação, ou seja, de estabelecimento de regras claras que incluem e dialogam com o conjunto de atores governamentais e não governamentais ali presentes e atuantes, e que consideram a especificidade sócio-econômica ambiental e cultural do espaço sobre o qual pretendem incidir.
Assim, não é apenas mais ética, controle e fiscalização estatal de que necessitamos e, sim, da construção de um pacto sócio-territorial que envolva os cidadãos, os segmentos econômicos e políticos presentes que considerem como ponto de princípio um projeto de inclusão de todos os moradores.
A construção de um verdadeiro sistema nacional de gestão territorial para o país, desenvolvendo nosso tosco pacto federativo na sua relação com nosso sistema político e incorporando setores, segmentos e olhares é, portanto, nosso maior desafio.
Raquel Rolnik é urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e Relatora Especial do Direito à Moradia Adequada do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Foi Diretora de Planejamento da cidade de SP (1989 1992) e Secretária Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades (2003-2007).
Notas
1 A pesquisa Perfil Municipal (MUNIC-IBGE 2000) revela a presença de assentamentos irregulares em quase 100% das cidades com mais de 500 mil habitantes e 80% das cidades com populações entre 100 mil e 500 mil. Até nos municípios com menos de 20 mil habitantes, os assentamentos informais aparecem em mais de 30% dos casos. De acordo com estimativas do IPEA, baseadas em metodologia do UN-Habitat e em dados do Censo Demográfico, estão nessa condição aproximadamente 40,5% do total de domicílios urbanos brasileiros, ou 16 milhões de famílias, das quais 12 milhões com renda familiar mensal abaixo de cinco salários mínimos.
2 Sistemas de transporte de alta capacidade, baixo consumo energético e baixo potencial poluidor, como trens e metrôs, requerem concentração de viagens e, portanto, alta densidade de ocupação ao longo das linhas, o que, do ponto de vista do modelo de cidade, é bastante distinto da necessidade de levar cotidianamente multidões dispersas a seus locais de trabalho e devolvê-las a suas casas no final do dia. A crise atual do modelo de mobilidade urbana, que atinge principalmente as metrópoles, com conseqüências nos congestionamentos veiculares e nos processos de aquecimento global decorrentes da emissão de gases de efeito estufa, é um dos sintomas das “deseconomias” e impactos ambientais provocadas por esse modelo.
3 VAINFAS, Ronaldo. “A arte de furtar”. Folha de S. Paulo, Caderno MAIS, 03/06/2007, p. 6
4 WACQUANT, Loïc. Parias Urbanos: marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. Buenos Aires, Manantial, 2007.
5 Trata-se de um sistema de controle de regularidade fiscal instituído pelas autoridades fazendárias federais que controla on-line as obrigações tributárias por parte dos municípios e que impossibilita os repasses de recursos federais em caso de inadimplência.
6 Os dois são programas formulados no âmbito do governo federal destinados a melhorar a capacidade institucional dos municípios. O PNAFM, voltado para a melhoria da capacidade de gestão orçamentária e fiscal por parte dos municípios é gerido pelo Ministério da Fazenda e operado pela CAIXA; o PMAT, programa formulado e operado pelo BNDES tem objetivos de capacitação institucional para a gestão mais amplos.
i Expressão empregada por João Sette Whitaker Ferreira no livro O Mito da Cidade Global – O papel da Ideologia na produção do espaço urbano. SP. Vozes/Editora UNESP/ANPUR 2007.
ii SANTOS Jr., Orlando & RIBEIRO, Luis César de Queiroz. “Democracia e Segregação urbana: reflexões sobre a relação entre cidade e cidadania na sociedade brasileira”. Santiago do Chile: Revista EURE vol. XXIX n. 88, p. 79-95, dez 2004.
iii SOUZA, Marcelo Lopes de. O desafio Metropolitano: um estudo sobre a problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiros. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2000.
iv A perversidade neste caso é que um dos principais argumentos de venda desses produtos é justamente suas característica “ecológicas”!
EDIÇÃO 97, AGO/SET, 2008, PÁGINAS 22, 23, 24, 25, 26, 27